Como é que se filma o mal? Como é que se escreve sobre a violência? Como é que criamos personagens de um romance marcado pela violência que um ser humano é capaz de lançar sobre outro ser humano? Ou seja, como é que representamos artisticamente a crueldade? Se é verdade que qualquer cena é uma posição moral do autor, argumentista ou romancista, então essa verdade é ainda mais evidente quando o assunto é representação do sofrimento. Será que a saída deste labirinto moral e artístico é a negação, isto é, fingirmos que a violência não existe? Ou, noutra espécie de negação, será que a solução é transformarmos a violência num mero fenómeno estético destituído de qualquer espessura moral? E, se recusarmos o engraçadismo estético, não corremos o risco de sermos demasiado explícitos, demorados e sentimentais na exploração da violência e do sofrimento – o pecado do voyeur? Ora, existe com certeza uma quarta opção que nos permite ver e descrever a violência com precisão e humanidade, evitando assim os três erros que acabei de enunciar: a negação, a estética amoral e engraçadista e o voyeurismo imoral. Foi esse caminho que tentei encontrar na construção do meu romance, “As Três Mortes de Lucas Andrade”. Estou certo de que falhei muitas vezes. Falharei mais e melhor no próximo romance.
Se a violência existe no mundo, a negação da mesma não é uma posição aceitável. A violência não desaparece só porque não a queremos ver. Aliás, as grandes manifestações de crueldade, como o fascismo, o comunismo, o jihadismo, agradecem sempre esta cobardia dos alegados humanistas ou pacifistas; é uma cobardia disfarçada de delicadeza. Como diz Vargas Llosa, ninguém deve forçar um autor a abordar a violência se não for essa a sua obsessão. Contudo, a partir do momento em que aborda uma certa realidade e escolhe não ver a violência inerente a essa realidade, um autor está a faltar à verdade. Por exemplo, os velhos neorrealistas recusavam ver a violência entre pobres, a violência dentro da mesma classe de desvalidos; um pobre pode ser cruel e, pior, pode ser odioso para outro pobre, a maldade não tem classe social; na pobreza encontramos a mesma paleta humana que encontramos na riqueza: essa paleta vai do santo ao canalha, o dowstairs é tão humano e diverso como o upstairs. O retrato que o neorrealismo nos deixou da pobreza é uma mentira, uma mentira primordial que ainda hoje infecta a maneira como se vê e pensa essa forma de violência que é a pobreza. A outro nível, os romances de Sebald parecem-me a consubstanciação do erro apontado por Vargas Llosa: um autor não deve abordar a violência se essa não for uma das suas obsessões. Sebald aborda a violência sem obsessão: o mal é aqui muito intelectualizado, não tem uma dimensão humana, real, visceral, porque aquelas personagens não são pessoas, mas ideias. O horror fica distante e suavizado.

▲ Em 00:30 Bigelow não é fascista; está, isso sim, a debater artística e moralmente a violência, em geral, e a tortura, em particular. Na verdade, Bigelow está a vacinar a democracia contra o fascismo.
Noutro patamar deste debate sobre negacionistas da violência, filmes como “Sicario” ou “00.30” são facilmente rotulados de fascistas ou de legitimadores da violência. Esta acusação nasce precisamente na mente daqueles que recusam abordar a violência, e que por isso assumem que quem aborda a violência só pode ser um defensor da violência. É o mesmo que assumir que quem estuda o fascismo só pode ser fascista. “00.30” de Bigelow conta a história da operação militar que matou Bin Laden; Bigelow mostra cenas de tortura nas prisões americanas do Médio Oriente. Muitos viram aqui uma legitimação da tortura; afirmou-se que Bigelow tinha a intenção de mostrar que a tortura funciona. Ora, claro que a tortura funciona, mas não é esse o ponto do filme. Fingir que a tortura não funciona é uma mentira pseudo-humanista que recusa a realidade. O ponto é outro: deve ou não um estado de direito usar tortura mesmo em situações de aperto? De forma subtil, Bigelow mostra a sua posição no fim: não, não deve; aliás, o último plano do filme mostra uma América perdida na reação excessiva ao 11 de Setembro. Maya (Jessica Chastain) é uma Darth Vader para adultos: entrou no mal, porque não controlou a raiva gerada pelo amor; Maya vive tão marcada pela dor do 11 de Setembro e pela morte de pessoas que amava, que acaba por entrar em caminhos excessivos na resposta. Esta metáfora pode ser aplicada agora a Israel: se não controlamos a raiva justa perante um horror absoluto, corremos o risco de perdermos a nossa alma. Spielberg já tinha pensado o mesmo em “Munique”. Portanto, Bigelow não é fascista; está, isso sim, a debater artística e moralmente a violência, em geral, e a tortura, em particular. Na verdade, Bigelow está a vacinar a democracia contra o fascismo.
Por sua vez, “Sicario” de Villeneuve renova a reflexão que John Ford nos deixou em “Quem Matou Liberty Valance”: podemos usar doses controladas do mal para conseguirmos um bem maior? O que fazemos quando a lei não chega para preservar a decência? O que acontece quando a anarquia é tão poderosa que o estado de direito é demasiado fraco e ingénuo? No western de Ford, Ransom Stoddard (James Stewart) é o inocente advogado citadino que chega àquela terriola do faroeste; representa o direito positivo, a lei dos códigos dos advogados e juízes. Naquele cenário de fronteira habitado por pessoas rudes e habituadas às armas, esse estado de direito é frágil. A lei nada pode na anarquia e ante um bandido habituado a triunfar pela força. Liberty Valance (Lee Marvin), o cowboy rufia, representa esse estado da natureza onde o homem é o lobo do homem, onde as coisas só são decididas pelo método da natureza: a força. Na natureza, vence o lobo mais rápido; ali, na anarquia humana, vence quem é mais rápido a sacar da pistola – Liberty Valance. Pois bem, o direito não funciona se a montante não existir uma pulsão moral ou, noutras palavras, uma revolta ética contra a arbitrariedade da força: essa pulsão é o direito natural, a ideia de que todos os seres humanos nascem com direitos inalienáveis que são independentes do poder e que não podem ser anulados pela força – e o primeiro direito inalienável é a liberdade em relação ao medo. Tom Doniphon (John Wayne) representa esse direito natural. Ronsom, advogado que se torna senador, só consegue o triunfo da civilização sobre a anarquia, porque Tom Doniphon segue o seu instinto moral, o instinto de cão pastor: mata Liberty Valance à margem da lei, mas não à margem da moral. Claro que isto tem o outro lado da moeda: o que aconteceria se este caso extraordinário passasse a ser a norma? Não teríamos uma lei, mas sim a arbitrariedade de vigilantes – o dilema dos filmes de super-heróis como o Batman. Ou seja, na abordagem à violência, há sempre uma tensão entre lei, de um lado, e moral, do outro. “Sicario” é uma representação moderna deste dilema. Os gangues de droga substituem os gangues de cowboys; são tão poderosos que a única alternativa é encará-los como um inimigo de uma guerra civil à margem do estado de direito, porque estamos já no campo do estado da natureza hobbesiano. Se Maya (Jessica Chastain) no “00.30” percebe que ultrapassou em demasia os limites, a agente Kate (Emily Blunt) percebe que tem de ir para lá dos limites.

Na abordagem à violência, há sempre uma tensão entre lei, de um lado, e moral, do outro. “Sicario” é uma representação moderna deste dilema.
Os dilemas são permanentes no confronto com a violência, as decisões são sempre difíceis, só se pode escolher um mal menor. E parece-me que a negação da violência parte daqueles que não querem sentir este trágico dilema da escolha.
Este negacionismo da violência nasce em muitas fontes. Nasce, como recorda Michael Walzer, no pacifismo radical que recusa sempre a violência mesmo perante um mal absoluto como o nazismo ou jihadismo. Nasce na indústria da felicidade e do coaching que anula por completo a ideia de que existe sofrimento no mundo. Nasce no wokismo que apaga cenas violentas ou incómodas de livros e filmes. E nasce sobretudo na atitude pós-moderna de muitos intelectuais, jornalistas e escritores, que, na linha de Jean Baudrillard, assumem que não existe uma realidade concreta. Decretaram a morte do real, assumindo que só existem representações virtuais da realidade. Falar de “realidade” passou a ser visto como um sinal de provincianismo pouco digno de intelectuais e escritores sofisticados – uma atitude pedante que irritou Susan Sontag. Essa irritação até pode ser vista como a raiz do seu livro “Olhando o sofrimento dos outros”, que tem o seguinte argumento: essa pose pós-moderna só é possível numa elite de uma cidade rica e segura. Ou seja, o pós-modernismo é um desporto de ricos que se podem dar ao luxo de desprezar a violência sentida por outros; é uma pose que “sugere de forma perversa que não há verdadeiro sofrimento no mundo”. Sucede que os pobres “não têm o luxo de desprezar a realidade” – esta posição moral de de Sontag está sempre no subtexto da personagem que criei em “As Três Mortes de Lucas Andrade”.
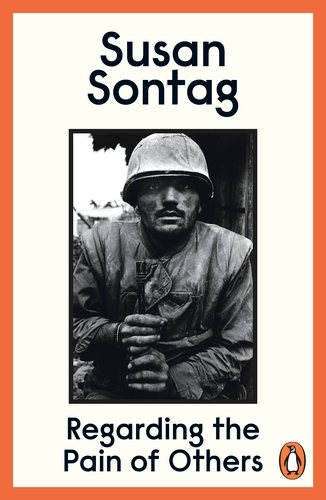
Susan Sontag defende que há uma pose pós-moderna só é possível numa elite de uma cidade rica e segura.
Esta cultura pós-moderna criou outra forma de negação além da negação pura e dura, a saber: a violência enquanto mera manifestação estética. Os filmes do Tarantino são talvez a quintessência desta atitude. Nos filmes de Tarantino (de Woo, de Leone, etc.), a violência é só um bailado, uma articulação estética entre movimento e música. É um universo pós-moderno onde o filme vale por si, não tem correspondência com a realidade humana, é um jogo por inerência amoral. As pessoas que morrem ali não são bem pessoas, mas sim cartoon ou desenhos animados de carne e osso animados por uma estética de videoclip. Não é por acaso que os filmes de Tarantino (e de Leone) são conhecidíssimos pelas bandas sonoras, que, aliás, comunicam ao espectador o seguinte através dos acordes: isto não é a sério, isto não é violência a sério, estamos só a brincar, ninguém nos pode acusar de voyeurismo ou de promoção da violência, porque isto é tão real como um desenho animado. É uma comédia que pretende entreter e fazer rir. Ao contrário da negação pura e dura, esta abordagem é defensável. Quem nunca se riu ou arrepiou com passagens épicas dos filmes de Leone ou Tarantino? No entanto, também pode ser criticada, porque o que vemos é de facto uma violência avulsa, cenas em que de repente morrem dezenas de pessoas que caem de forma anónima como se fossem animais numa linha de tiro. Como sugere Bruno Vieira Amaral num ensaio prestes a sair sobre violência no cinema, a violência gore que Verhoeven aplica a um único ser humano – Robocop – pode ser mais humana e sensível do que a violência festiva que Tarantino aplica a cem “seres humanos” que são cortados por uma espada samurai só porque isso dá um videoclip giro. Porque em Verhoeven sentimos de facto a desumanidade inerente à violência que é lançada sobre uma pessoa real e concreta e não sobre um bando anónimo. A desumanização está mais perto de quem dá a entender que matar cem pessoas é só um festim visual e está mais longe de quem mostra com precisão o sofrimento gore de uma única vítima.
Sim, sinto desconforto nos filmes de Tarantino, mesmo quando reconheço a genialidade da coreografia. Mas prefiro de facto outra abordagem: quando filmam uma cena de violência, Eastwood ou Mann mostram a carga moral inerente ao homicídio, ao suicídio, às mortes em combate; a beleza cinematográfica continua lá, mas há ali uma carga existencial que nos transforma, que nos corta.

▲ Em Goya trata-se de registar e imortalizar os gritos de dor, que têm tanto de particular como de universal e intemporal
Mas esta sensação de desconforto que sinto perante o divertimento pós-moderno à Tarantino não se compara com a sensação de desconforto e até de repúdio provocada pelos filmes de Mel Gibson, símbolo da terceira abordagem questionável: o voyeurismo. Ao contrário das comédias surreais de Tarantino, os filmes de Gibson partem de uma premissa realista e trágica. As pessoas que estão a sofrer na fita de Gibson não são os desenhos animados de Tarantino, são mesmo seres humanos que são servidos por uma estética de excesso, de exploração fácil do sofrimento. Gibson dá demasiada informação ao espectador. Na “Paixão de Cristo”, por exemplo, a cena da flagelação é esticada para lá do aceitável: bastavam dez segundos para percebermos o ódio do agressor, a dor da vítima e até pormenores gore. Mas a câmara fica ali a mostrar a cena durante minutos – é voyeurismo. Por outro lado, Gibson abusa de uma grotesca forma de mostrar a morte: o slow motion. O início do “Soldado do Soldado Ryan” funciona porque é filmado de forma seca e neutral; as cenas idênticas de “O Herói de Hacksaw Ridge” são poluídas com os slow motion de corpos mutilados no ar. É grotesco. É uma bizarria sentimental à procura do choro patriótico.
Em “Olhando o Sofrimento dos Outros”, Sontag diz-nos que não podemos continuar a olhar para o sofrimento de uma pessoa se não conseguirmos travá-lo. Sim, devemos ver e reconhecer esse mal, dar a informação necessária para que o leitor/espectador perceba o que ali se passa, mas, se deixarmos a câmara ligada para mostrar detalhes macabros que não adiantam nada, então já estamos no voyeurismo, na pornografia da violência, que, por exemplo, marca boa parte dos policiais nórdicos da moda como os de Stieg Larsson e Jo Nesbo, que estão a milhas literárias da sofisticação do policial à Simenon, que aborda o mal sem cair na vulgaridade. Neste campo do excesso voyeur, os exemplos são intermináveis: as cenas de violação sexual em “A Guerra dos Tronos” duram para lá do necessário e entram numa espécie de exploração misógina; em “Desgraça”, Coetzee abandona uma mulher violada como se ela fosse um animal; em “A Curva do Rio”, Naipaul estica a corda na descrição quase sádica da violência doméstica; e há qualquer coisa de voyeur nos livros de Svetlana Aleksievitch, pois aquele material, duríssimo e interessantíssimo, sem dúvida, é colocado no papel em bruto, sem mediação. Por outro lado, também é fácil encontrar uma variante politizada do voyeurismo. Nos romances de Knut Hamson, “Os Frutos da Terra”, por exemplo, a celebração fascista da Mãe Natureza é acompanhada da desumanização de outros seres humanos que Hamson considera menores, os homens amaricados da cidade, por exemplo, ou os lapões.
Em “Tarass Bulba”, Gogol romantiza a violência para fins nacionalistas; coloca a violência e a morte do “outro” (os católicos e os muçulmanos) no altar máximo da raça eslava e da espiritualidade ortodoxa, que se confundem. Nem um século depois, Ernst Junger registou esse testamento nacionalista: em “A Guerra como Experiência Interior”, defende que a guerra é a manifestação mais bela da estética e da moral humana. Tal como Junger, Tolkien era um veterano da I Guerra, mas tirou a lição oposta das trincheiras: matar até pode ser necessário perante um mal absoluto, mas mesmo essa guerra justa leva sempre parte da nossa humanidade – uma lição talvez aprendida pelo Tolstoi do século XX, Vassili Grossman. Nos livros de Junger e Gogol, a guerra – descrita por uma escrita voyeur – está ao serviço da causa abstrata da Nação. Nos romances de Vassili Grossman, como “Vida e Destino”, a guerra – descrita por uma escrita dura e seca – está ao serviço da humanidade das personagens que a sofrem e que têm de tomar decisões infernais a cada segundo. É a diferença entre propagada e literatura.
Se a negação, a estetização e o voyeurismo não são saídas, então qual é a solução? A meu ver, a solução está logo no início da literatura ocidental: Homero. Apesar de abordar a mãe de todas as guerras, “A Ilíada” é uma paradoxal lição de humanismo, porque retrata a violência com uma precisão cirúrgica que evita, de um lado, a negação e, do outro, a estetização voyeur. Esta paradoxo tem dois lados. Em primeiro lugar, Homero descreve o horror da guerra sem adjetivos pomposos e sem floreados estéticos. A guerra é o inferno, não é uma meta-brincadeira. O horror não pode ser ignorado, mas também não pode ser estetizado; deve ser descrito com rigor cirúrgico: “pela testa adentro lhe empurrou a lança; além do osso foi a ponta de bronze”, “o feriu com um golpe de brônzea lança, deslassando-lhe os membros”, a “ponta da lança penetrou através da outra têmpora”. Não é militarismo nem pacifismo, é um retrato da realidade dura e forense da guerra. O leitor fica consciente de que matar não é um videoclip, não é divertimento. Esta humanidade através do horror homérico nota-se ainda num segundo ponto: a morte nunca é abstrata ou coletiva. Não lemos “Heitor matou gregos”. Lemos outra coisa: Heitor matou Aseu, Autónoo, Agelau e Dólops, filho de Clício. Não lemos que “Odisseu matou troianos”. Lemos: Odisseu matou Cérano, Alastor, Crómio, Alcantro, Hálio, Noémen e Prítanis. A morte é sempre individual, concreta e, por isso, mais difícil de encaixar. Os totalitarismos do século passado mataram milhões, porque roubaram a individualidade sagrada aos seres humanos, mataram a “burguesia” ou “povos impuros” e não indivíduos.
Claro que esta visão de Homero pode ser encontrada noutros artistas. Olhe-se por exemplo para os quadros de Goya sobre as invasões francesas: procuram, sem dúvida, acordar, chocar e até ferir a sensibilidade do observador, mas não no sentido da pornografia voyeurista ou do divertimento; a intenção é fixar artisticamente o conhecimento em relação ao horror que os seres humanos podem lançar sobre outros seres humanos; trata-se de registar e imortalizar os gritos de dor, que têm tanto de particular como de universal e intemporal.
Na construção do meu romance, as diferentes personagens espalham-se pelos quatro vértices deste quadrado que envolve o mal e a violência: uns vivem em negação, outros divertem-se de forma amoral com a violência enquanto estética; outros ainda são voyeurs imorais e cruéis; por fim, há aqueles que procuram a quarta via defendida por Sontag, Homero, Goya, entre outros. E eu, como escritor, tentei sempre aproximar a câmara deste quarto e decisivo canto. Consegui? Nem sempre. Mas, com ou sem erros, a intenção foi sempre a mesma: mostrar que o inferno está sempre na nossa espera no ângulo morto da sociedade. Como diz a omnipresente Susan Sontag,
“Se alguém está permanentemente chocado com a existência da depravação, se continua a ficar desiludido e incrédulo quando é confrontado com a crueldade horrenda que os seres humanos são capazes de infligir a outros seres humanos, então esse alguém ainda não atingiu a vida adulta no ponto de vista moral e psicológico. Ninguém, a partir de uma certa idade, tem direito a esta inocência, a esta superficialidade, ou grau de indolência ou amnésia”.
O papel do escritor é confrontar esta superficialidade indolente e retirar a violência — do passado e do presente — do ângulo cego da sociedade. O inferno deve estar sempre à frente dos olhos e em cima da mesa. Cada leitor terá uma visão diferente sobre o cálice de enxofre pousado na mesa, mas a presença daquele objeto infernal não pode ser negada. Está ali ao lado dos talheres.

Na construção do meu romance, “As Três Mortes de Lucas Andrade”, tentei evitar três erros na descrição do mal e da violência: a negação, a estética amoral e engraçadista e o voyeurismo imoral.


















