Douglas Murray acredita que a Europa está a morrer — e, nalguns casos, acha mesmo que ela já morreu. É esse o diagnóstico que o autor, um dos editores da revista conservadora britânica Spectator, faz no livro A Estranha Morte da Europa — Imigração, Identidade, Religião. Neste livro, editado este mês de maio pela Edições Desassossego, Douglas Murray faz um diagnóstico negativo da imigração em diferentes países da Europa e faz uma longa crítica aos líderes políticos, que acusa de se distanciarem da opinião pública.
O livro mereceu-lhe críticas. Foi acusado de racismo. Douglas Murray (que demonstrou incómodo quando lhe dissemos durante a entrevista que a tradução para português refere pessoas de origem africana como “pretos” em vez de “negros”) recusa o racismo que lhe atribuem e reage com ironia. “Além de chamar a alguém de pedófilo, dizer que alguém é racista é a pior acusação dos nossos tempos”, diz ao Observador.
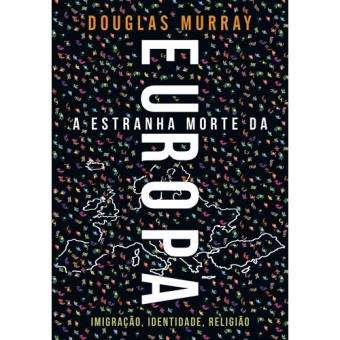
O título do livro é forte: A Estranha Morte da Europa. É uma força de expressão ou acredita que a Europa está mesmo morta? Ou está só a morrer?
Está entre as duas coisas. Depende de onde se está. Há diferenças de país para país, até de cidade para cidade. Há sítios onde é muito difícil perceber como é que se pode dar a volta à situação pacificamente. Há sítios que simplesmente vão ter de aceitar que vão ser diferentes daquilo que nós conhecemos. Mas há outros locais que vão ficar semelhantes e reconhecíveis. Por isso é que depende de país para país. Mas o que quero dizer com o título é que isto é um ato de suicídio. Talvez se alguém nos tirar da beira do precipício seja possível evitar. Dependendo do dia, tenho uma ideia diferente sobre se isso é possível ou não.
Mas como é que acha que esta morte que descreve no seu livro pode ser revertida, então? Disse que não tem a certeza de alguns casos poderem ser resolvidos de forma pacífica. O que é que quer dizer com isto? É que afinal de contas estamos na Europa, já tivemos guerras bem sangrentas. Acha que pode haver uma guerra?
Tive o cuidado de não dizer isso. É um facto que a Europa nem sempre teve o hábito de resolver os seus problemas de forma pacífica. Para tentar mudar isto, temos de reconhecer a totalidade da realidade em que estamos. Muito poucas pessoas em posições de poder querem fazer isso, preferem manter-se numa forma de ilusão e auto-engano. Não tenho a certeza de que o público quer sequer expressar a sua preocupação, já que abrir a boca pode ser perigoso para eles. Para a sua reputação, para o seu modo de vida. Por isso, estamos muito de longe de sequer podermos começar um processo de nos salvarmos.

▲ Em "A Estranha Morte da Europa", Douglas Murray deixa várias críticas à maneira como Angela Merkel geriu a crise de refugiados em 2015 (Marco Di Lauro/Getty Images)
(Marco Di Lauro/Getty Images)
Isso não se está a passar já? Hoje em dia vemos políticos extremistas e populistas com acesso aos media mainstream. Atacar a imigração é hoje uma mensagem que vemos em todo o lado.
Discordo. Nalguns casos isso aumenta de mês para mês. Há a possibilidade de nalguns destes casos o remédio ser pior do que a doença. Alguns dos partidos e indivíduos que nos querem salvar destes problemas são tão maus quanto esses mesmos problemas.
Está a falar de quem?
Bom, por onde é que posso começar? São círculos concêntricos e depende de onde os traçamos. Há exemplos óbvios: Jobbik [partido de extrema-direita na Hungria], Aurora Dourada [idem, na Grécia]… Confiar-lhes a tarefa de remediar a situação seria tão mau quanto a pior ideia possível do problema original. Isto é muito dinâmico. Há pessoas que estão a moderar as suas visões, há sítios em que o centro está a tentar conquistá-las — e a Alemanha não é de todo um exemplo disto, onde a direita mainstream continua completamente inflexível no que toca a sequer abordar o princípio deste problema. Mesmo quando a resposta é tão óbvia: o mainstream político tem de aceitar aquilo que é a parte aceitável do mainstream da opinião pública. Mas, mesmo sendo o país mais importante da Europa, a Alemanha não vai fazer isto num futuro próximo. É possível que França o faça. No meu país é muito difícil. Eu não sou um político, só sei que há partidos que para mim são mais sanitários do que outros. E alguns não sei, ainda. Não sei bem, por exemplo, o que é a AfD [partido de direita populista na Alemanha]. Acho que nem eles sabem o que é a AfD.
É um partido muito jovem.
Muito jovem, sim, e teve enormes alterações nos últimos dois ou três anos.
Além disso, depois de ter tido um dos seus melhores resultados, uma das suas líderes, Frauke Petry, demitiu-se no dia seguinte.
Isso mesmo. Se calhar isso é a norma agora. Olhe o UKIP [partido de direita populista e eurocético do Reino Unido], que está numa guerra interna interminável.
Tal como a Frente Nacional. Apesar de terem perdido, nas eleições de 2017 tiveram o seu melhor resultado de sempre e entraram num processo introspetivo que ainda não ultrapassaram.
Além disso, para mim é muito estranho um partido que é dinástico. Há muito dinastismo em muitos dos nossos países, mas este é particularmente desagradável. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos no meio deste redemoinho e tudo muda de dia para dia. Basta um acontecimento para tudo mudar de forma significativa, como temos visto.
Vamos voltar à parte em que disse que algumas situações podem não ter uma solução pacífica. Nós estamos mesmo agora a falar de partidos que têm alvos e têm uma mensagem agressiva para eles. Como é que uma solução poderia ser levada a cabo por partidos como a AfD, a Frente Nacional, o Fidesz ou a Lega? Como é que estes partidos podem apaziguar a situação quando a mensagem agressiva faz parte do seu ADN?
É possível até que piorem a situação.
Acha que é esse o caminho?
Não. O caminho é muito óbvio, como digo no livro: o mainstream político tem de aceitar o mainstream público. E isto é algo que eles têm muita relutância em fazer. Olhando para o paradigma chato e antigo que já ninguém utiliza, da esquerda e da direita, podemos dizer que o público está a aproximar-se da direita na Europa Ocidental. E a resposta das lideranças políticas é aproximarem-se da esquerda. Isto tem sido gritante nos últimos 15 anos. Quem me dera que não fosse assim. Isto é muito pouco inteligente. É muito pouco inteligente, como alguém no governo do Partido Trabalhista disse no início dos anos 2000, esfregar na cara das pessoas o facto de que não se vai fazer o que elas pedem.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Falou de “esquerda e direita” como uma dicotomia antiga. Quase já não se fala de economia…
… há partes que dizem respeito à economia…
… mas uma grande parte diz respeito a temas de identidade.
… a maior parte, sim.
Assim sendo, pergunto-lhe como é que acha que a sua identidade — enquanto europeu, homem, branco — está sob ameaça.
Não me parece que seja uma questão de ser europeu, homem e branco…
… já agora podemos meter “cristão” nessa equação.
Sim. Mas eu coloco a questão noutros termos. O que nós temos tido na Europa é muito fora do comum. Em termos históricos e sociais. Sendo uma sociedade liberal e democrática, que pode mudar de governo e tendo os direitos liberais, incluindo o direito à liberdade de expressão e de associação, o que se passou é muito pouco comum do ponto de vista histórico. Estamos numa situação estranha em que aquilo que achamos que é perfeitamente normal pode simplesmente desaparecer. A minha opinião é que devemos ter cuidado com algo se achamos que essa norma vale alguma coisa. Não devemos fazer experiências loucas com essa norma se acharmos que vale alguma coisa. Não devemos experimentar coisas que nunca deram provas de sucesso se acharmos que vale alguma coisa. Quem é que seria capaz de injetar no seu próprio filho uma versão de teste de uma vacina? Na Europa, nas décadas do pós-guerra, levamos a cabo uma experiência muito estranha em nós próprios. Nalguns casos vai funcionar, mas há sítios onde não vai funcionar de todo.
E não funcionou para a economia de vários países, sendo a Alemanha o maior caso entre os que existem, ter os trabalhadores-convidados que ajudaram a reconstrução do pós-guerra?
Funcionou nalguns sítios. Há muitas coisas dentro do mesmo saco. Uma delas é o facto de que, tal como Merkel admitiu, não se esperava que eles ficassem. E muitas pessoas foram para empregos que pouco depois desapareceram em poucos anos. Hoje em dia, absolutamente ninguém acha que isso foi uma boa ideia. Ou melhor, admitem que historicamente não foi uma boa ideia, mas isso não os impede de repetir manifestações de um problema semelhante, como vemos na Alemanha e na Suécia. Importaram centenas de milhares de pessoas e fingiram que era mão-de-obra necessária, quando não havia provas de que precisassem de trabalhadores desempregados, sem qualificações e que não falavam a língua do país. Mas, claro, algumas partes [do programa de trabalhadores-convidados] funcionaram, a Europa precisava de ajuda na sua reconstrução pós-guerra. Há uma expressão famosa que diz que o império britânico foi adquirido num “lapso de inconsciência” [“in a fit of absence of mind”, na expressão original, do historiador britânico oitocentista John Robert Seeley]. Porque é que tornarmo-nos uma sociedade multiculturalista com imigração em massa tem de ser feita num lapso de inconsciência? Não entendo isto. Não pensámos nas consequências disto quando elas começaram. Uma das coisas de que falo no livro é que, de cada vez que se deu um passo, ninguém pensou a sério no que podia acontecer. Ou, se o fizeram, ninguém lhes deu ouvidos.
No seu livro critica várias vezes a decisão de Merkel abrir as fronteiras da Alemanha aos refugiados, em 2015. E está a fazê-lo mesmo agora. Mas, no livro, refere-se ao acolhimento de refugiados da seguinte maneira: “O nosso continente está provavelmente a fazer a única coisa que um povo civilizado pode fazer, resgatando estas pessoas, acolhendo-as e tentando dar-lhes segurança”. Onde é que encontra um equilíbrio entre isto?
Isto é um grande dilema que existe, por exemplo, na Igreja Católica. Seria estranho se o Papa dissesse “eles que se afoguem”, não é esse o papel de um líder religioso numa sociedade. Eu vi as pessoas a chegarem à costa. Nessa altura, o que é que fazemos? Estendemos-lhes a mão ou damos-lhes um pontapé na cara para eles caírem ao mar? Se lhes déssemos um pontapé na cara não seríamos humanos. Não seríamos europeus. Nós achamos que é impossível fazer isso, mas há episódios na História que demonstram que isso é possível a qualquer altura, já houve pessoas a tentar chegar às nossas costas que não foram bem-vindas. Mas, para nós, agora, isso seria uma barbaridade e estaríamos a abdicar das mesmas coisas que queremos proteger. Temos de encontrar um equilíbrio entre uma resposta razoável ao sofrimento humano sem pensarmos que somos os salvadores do mundo. Eu pensei muito no assunto quando vi tudo isto a acontecer no pico da crise. É possível ter sonhos em Lampedusa ou nas ilhas gregas com a distribuição equitativa destas pessoas por todo o continente. É possível sonhar. Mas esse sonho na verdade é o de obrigar as pessoas a aceitarem aquilo que não pediram nem querem.
Como assim?
O povo europeu não pediu que 60% daqueles que chegaram fossem ilegais, como até a UE admite. Não pediram asilo. E os governantes e as ONG odeiam pensar nisso, mas foram eles que causaram o fluxo migratório de 2015 porque eles encorajaram as pessoas a fazerem isso. Disseram-lhes que podiam entrar e que, assim que entrassem, podiam ficar.
Mas, em 2015, ficou bastante claro quem disse aos refugiados e migrantes que eram bem-vindos — a Alemanha e a Suécia — e quem disse precisamente o contrário. Só a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de pessoas num ano, o que é um número indiscutivelmente alto. Porque não distribuí-los por toda a Europa?
Isso é uma das coisas que cria o risco de partir um continente. Certamente partiria a UE. É curioso, porque sempre que vou à Europa de Leste, a países como a Hungria e a República Checa, entre 70 a 80% das pessoas é muito favorável à UE. Mas 70 a 80% opõem-se fortemente à imposição de quotas de migrantes. Por isso pergunto sempre o mesmo aos políticos e às pessoas em geral de lá: o que vai ceder? Quer dizer, é possível que uma coisa e a outra convivam ao mesmo tempo. Há a “Lei de Herbert Stein”, que dizia que “coisas que não podem continuar acabam” — e há uma versão em jeito de piada que diz que “coisas que não podem continuar continuam”. Por isso, é possível que simplesmente continuem. Ou é possível que alguém em Bruxelas ou no Grupo de Visegrado [República Checa, Hungria, Eslováquia e Polónia] empurre a situação para uma crise que obrigue alguém a tomar uma decisão. Parece-me que, a certo ponto, vão desentender-se com Bruxelas — o que talvez seja o que Bruxelas quer.

▲ (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
(Photo by Sean Gallup/Getty Images)
Mas não acha que o pico desta crise já passou?
Não necessariamente. O problema de base que temos nisto é que não há garantia nenhuma de que a classe política europeia não vai repetir o mesmo erro. Nem Merkel pediu desculpa ou admitiu que faria as coisas de forma diferente. Disse que devíamos estar mais bem preparados. E ainda não abordaram as questões fundamentais que eu levanto no livro e nas quais temos de pensar. A primeira é: a Europa é a casa de quem? E quem é que pode viver nela? Não pode ser a casa de todas as pessoas do mundo que vêm para cá e dizem que a Europa é a casa deles. Não tenho a certeza que esta tenha sido sempre a resposta de quem está no poder em Berlim e em Bruxelas. Neste momento, pensam que é a casa de quem cá chegar, o que leva a várias questões profundas e existenciais. Porque é que toda a gente no mundo tem uma casa e depois ainda têm a Europa como opção? Nós não temos essa opção.
Está a falar de sair da Europa e ir viver noutro continente?
Sim. Quer dizer, podemos ir viver noutro país, mas…
… mas não é mais fácil um britânico ir viver para a Turquia do que um turco ir viver para o Reino Unido?
Se fosse na ordem dos milhões, se ficassem e não se integrassem, talvez houvesse um problema.
Fala agora de integração, que é um termo que aparece recorrentemente junto de outros dois: multiculturalismo e assimilação. Pelo que entendi do seu livro, acredita que o multiculturalismo é uma ficção. Mas acha que a assimilação é possível?
Não é bem isso que eu penso. A integração pode funcionar. O multiculturalismo é um termo muito escorregadio, porque as pessoas dão-lhe o significado que entendem. Há pessoas que pensam que multiculturalismo significa multirracialismo. Outras, como eu, usam-no como Cameron, Merkel e Sarkozy, para descrever uma política imposta pelo governo, que aconteceu entre meados da década de 1980 até meados dos anos 2000. Ou seja, o estipulado era que as pessoas que viviam nos nossos países podiam viver a vida que quisessem consoante os padrões dos seus países de origem. E, depois, nos anos 2000, a determinada altura, alguns países mudaram e disseram: “Vendo bem as coisas, vocês deviam era ser como nós”.
Ou seja, assimilação.
Sim, o que é uma coisa completamente diferente.
E acha que isso é possível?
Nalguns casos, sim. Eu conheço casos de pessoas que se assimilaram. Não acho que é impossível. Mas há alguns problemas. Por exemplo, o que é que fazemos com as pessoas que dizem “não”? E nenhum de nós respondeu a isto até agora. Há anos que dizemos: “Queremos que vocês se transformem em pessoas iguais a nós”. E alguns dizem: “Nós não queremos ser iguais a vocês. Já vimos como são as vossas filhas, já vimos o comportamento dos vossos filhos e não queremos ser como vocês”. E nós dizemos: “Por favor”. E eles respondem: “E o que é que vocês vão fazer quanto a isso?”. E não há nada que possamos fazer. E isso é um problema enorme.
Não acha que é perigosamente iliberal um estilo de governação que diz às pessoas, independentemente da sua nacionalidade: “É assim que vocês têm de se comportar”?
Como digo no livro, não me surpreenderia se muitos migrantes estivessem totalmente confusos com o que lhes é pedido. Tudo muda de um discurso para outro. Tudo muda de uma década para outra. Primeiro era suposto as pessoas virem fazer um trabalho e depois voltarem para casa. Depois era suposto fazerem um trabalho, ficarem e criarem uma família à vontade. Depois, o governo quis motivar as pessoas a serem como seriam nos sítios de onde vieram. E depois já lhes disseram que afinal têm de ser como nós. Isto são muitas mensagens difusas, não admira que muitas pessoas tenham tido dificuldades em entendê-las. Mas, sim, algumas pessoas diriam que exigir determinado comportamento das pessoas seria iliberal. A minha opinião é que podem ser marcados parâmetros muito largos mas também muito profundos. Limites muito claros. E tem de haver um preço a pagar se esses limites forem quebrados.
Mas para isso já temos as leis, não acha?
Sim, mas há coisas dentro das leis que estão a causar problemas para muita gente. Por exemplo: é ilegal matar alguém, mas a polícia olha para os homicídios de formas diferentes. No Reino Unido, nos anos 2000, a polícia admitiu que houve homicídios de mulheres jovens que não foram investigados porque acreditavam que se tratavam de assuntos comunitários. Então, uma jovem de Londres que não se casou com o rapaz com o qual a família lhe disse que ela tinha de se casar, seria vítima de um homicídio de honra e a polícia nem iria prestar atenção. Não era legal matar esta jovem, mas o Estado decidiu olhar para o homicídio de uma rapariga de uma maneira diferente da que usa para o homicídio de outras raparigas. Há histórias destas por toda a Europa. Isto é um péssimo sinal. Se falhamos nisto, vamos falhar em muito mais. Vamos falhar em coisas básicas dos nossos costumes, como um homem apertar a mão a uma mulher. Ninguém vai fazer isto se hesita quando se trata de um homicídio. Por isso, acho que não temos sido bons a marcar os limites mais básicos — e não me parece que vamos descobrir essa capacidade de forma razoável.
No livro descreve a hesitação geral da classe política em falar destas questões, mas insiste particularmente no caso da esquerda. Tempos houve em que os partidos comunistas, um pouco por toda a Europa, se opunham à imigração sem limites. Tanto que em 2017, no caso de França, houve vários comunistas, ou ex-comunistas, que votaram em Marine Le Pen. Porque é que acha que a esquerda evita falar deste tema?
Porque se preocupa mais com não ser racista do que com os trabalhadores.
Então as questões de identidade sobrepõem-se às da economia, mais uma vez.
Sempre! Olhe o exemplo dos Verdes. Os partidos verdes da Europa costumavam fazer campanha a favor do limite da população. No Reino Unido até existia uma organização chamada Optimum Population Trust e todos os casais eram incentivados a só terem um filho. Porque, claro, como humanos destruímos o planeta e sem os humanos o planeta seria excelente, o musgo das árvores estaria a ter uma vida tremenda. E já passam mais de 20 anos desde que ouvi um [apoiante ou militante] do Partido Verde a defender isto. Porque será? Porque eles adoram impor às famílias brancas que só tenham um filho, mas quando olham para uma família de imigrantes não lhes dizem para reduzirem a taxa de natalidade deles. Então, para os Verdes, o medo do racismo prevalece sobre o ambiente [risos]. Tal como para a esquerda o medo do racismo prevalece sobre os trabalhadores. Toda a gente tem uma maneira de ser amordaçada por isto. Além de chamar a alguém de pedófilo, dizer que alguém é racista é a pior acusação dos nossos tempos.
O seu livro foi descrito numa crítica do The Guardian como “xenofobia gentrificada” e racista. Que resposta dá a isto?
Onde é que eu começo?… Posso responder ad hominem. Não me surpreende que o The Guardian não tenha gostado do livro. O The Guardian é um dos últimos jornais do Reino Unido que quer cortar qualquer discussão deste tema. Eu só tinha ouvido falar da senhora que escreveu essa crítica uma vez, quando ela escreveu depois dos ataques de Colónia que, basicamente, nos devíamos preocupar por estarmos a falar sobre o que se passou. É normal que uma pessoa que quis ajudar a esconder a violação em massa de mulheres numa cidade alemã não goste do meu livro. Porque é normal que não queira enfrentar qualquer problema.

▲ "Se me dissesse 'tem aqui este problema' e me perguntasse se eu queria que fosse Marine Le Pen a resolvê-lo, eu iria rejeitar a proposta."(THIBAULT VANDERMERSCH/EPA)
THIBAULT VANDERMERSCH/EPA
Mas o que é que responde às acusações de racismo?
O livro não é racista. Para já, porque eu não entro nisso. Depois, porque o livro não é assim e outros críticos mais honestos já o reconheceram. Se eu quisesse ser racista, sê-lo-ia. Mas, simplesmente, ainda há uma tentativa de algumas pessoas, e o The Guardian é um grande exemplo disso, de cortar qualquer discussão neste território. Basicamente, querem ilegalizar os receios legítimos das populações — ou torná-los indizíveis. O que eu digo no meu livro, e refiro muitas sondagens que sustentam isso, é a opinião de grande parte do público. Nada do que eu digo no livro vai além da maioria das opiniões, segundo as sondagens. E, nalguns países, o que eu digo no livro é significativamente à esquerda da opinião pública. É o caso de França, onde houve sondagens, ainda antes dos atentados de 2015, onde 70% dos franceses diziam que o Islão é incompatível com a república francesa. Não é a minha opinião, é a de 70% dos franceses antes dos ataques.
Mas ainda assim 70% dos franceses não votaram em Marine Le Pen.
Não! E eu também não votaria nela. Se me dissesse “tem aqui este problema” e me perguntasse se eu queria que fosse Marine Le Pen a resolvê-lo, eu iria rejeitar a proposta.
O seu estilo é de facto frontal quando se trata de falar dos problemas que identifica. Mas houve algumas partes em que, além de frontalidade, senti desconforto. Como quando descreve algumas ruas de Londres onde já não vive uma única pessoa branca. Ou quando fala do comboio RER em Paris, onde diz que quase não há brancos. Tenho razão ao sentir aqui desconforto da sua parte?
Sim, acho que é muito perturbador.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
E isso não é racista? Afinal de contas, sente-se desconfortável porque está rodeado de pessoas que têm uma cor de pele diferente da sua.
No caso de Paris, o exemplo que dou no livro é que, se andarmos no metro, vemos umas poucas caras negras e se andarmos no RER vemos muito poucas caras brancas. É muito desconfortável, porque é um sinal de uma sociedade altamente fraturada que vive lado a lado e não em conjunto. Em Londres, se for a Tower Hamlets é como se estivesse em partes do Paquistão.
Mas será que isso acontece por questões económicas ou por questões identitárias? É que o comboio vai até sítios onde o metro já não chega — e onde as rendas são muito menores.
Exatamente. E o mesmo se passa com partes de Londres Oriental. A minha questão aqui é que, em muito pouco tempo, estes locais mudaram muito e toda a gente pode ver isso. Se a escolha é entre não dizer que é essa a realidade ou dizer que é e por isso ser considerado racista, então devia haver um território no meio dos dois. A maioria das pessoas sentem-no, podem ver com os seus próprios olhos que é essa a realidade, e depois terem os sentimentos que quiserem sobre isso. O meu sentimento, no caso do meu país, é que é extraordinário os sítios serem tão diferentes e ninguém alguma vez ter pedido que eles se transformassem. É surpreendente que se possa mudar uma área e uma sociedade sem qualquer mandato democrático. Se, perante isso, as opções forem estar calado ou lidar com acusações de racismo só por falar, não me admira que muitos prefiram ficar calados. Mas nós devíamos ser melhores do que isso.
Quer dizer que o silêncio é sempre uma má opção?
Não me parece que seja uma política de longo prazo inteligente. Mas há pessoas que acham que é. Mas isso significa embarcar numa mentira e esperar que ela funcione.
Na tradução portuguesa do livro, em grande parte dos casos em que se refere a pessoas de origem africana, a opção é a de escrever o pouco consensual “preto” em vez do mais diplomático “negro”. Esta escolha reflete a versão original?
Não, eu nunca usaria essa expressão. Mas qual é a versão aceitável?
“Negro” em vez de “pretos”. “Pretos” é equivalente a “negroes” em inglês.
Então “negro” é mais aceitável?
Sim. Mas diz-me então que esta escolha não reflete a versão original?
[Nesta altura, a assessora de imprensa da editora interrompe a entrevista e pergunta a Douglas Murray: “Desculpe a interrupção, mas em inglês usam ‘black‘ e ‘negro‘, certo?”. O autor responde-lhe: “Nunca se usa a expressão ‘negro‘”. “Ah, nunca se diz ‘negro‘…”, termina a assessora. Douglas Murray retoma a entrevista]
Eu usaria a expressão “black” [em inglês] para me referir a um negro [em português]. Seja como for, acontece que estes termos variem de um lado para outro. Há uns anos, o ator Benedict Cumberbatch viu-se em apuros numa entrevista nos EUA, onde quis dizer que os atores negros eram pouco representados em Hollywood. Só que, numa entrevista, ele usou a expressão “colored actors”. Houve uma revolta imediata, porque atualmente nos EUA diz-se “people of color”, o que pode não ser radicalmente diferente de dizer “colored people”, mas nos EUA é — tanto que Benedict Cumberbatch teve de implorar para que a sua carreira não desaparecesse.
E ele pediu desculpa depois disso?
Ah, sim, claro. Implorou pela própria vida.
No livro fala muito de pedidos desculpa e critica o sentimento de culpa da Europa. Por acaso, não fala de Justin Trudeau [primeiro-ministro do Canadá]…
… é o pedinte de desculpas mais famoso do mundo. Mas isto não é uma questão de esquerda e direita, porque o antecessor dele, Steven Harper, também fazia o mesmo.
Mas qual é o problema de pedir desculpa por algumas das piores atrocidades da nossa história, algumas recentes e outras nem tanto? No livro contrapõe a Europa com a Turquia, que até hoje nega o Genocídio Arménio. Acha que é esse o padrão moral que devemos seguir?
Claramente que não. Isto é uma área muito interessante e complicada. Isto é um caso em que uma virtude se torna num defeito. É uma virtude ser auto-crítico e ser-se crítico do próprio passado. Mas isto pode facilmente resultar num defeito. E o defeito começa quando se é auto-crítico na esperança de ganhar alguma coisa daí em vez de retificar um erro. Se Theresa May decidir mais uma vez pedir desculpa pela império britânico, eu não iria acreditar que era um pedido de desculpas genuíno, mas antes uma tentativa de conseguir ganhar algo com esse pedido de desculpas. Há aqui um grande problema com isto. Eu não tenho problema nenhum em ser auto-crítico, escrevi um livro só sobre o Domingo Sangrento e as atrocidades cometidas pelo exército britânico [na Irlanda do Norte]. Mas o meu ponto aqui é que, com estas tournées de desculpas, os pedidos de desculpa tornaram-se noutra coisa. Trudeau é só o exemplo mais recente. A culpa histórica é um território muito ardiloso para ser percorrido sem cuidados. O meu entendimento sobre isto é que os pecados de um pai não devem ser imputados a um filho. E nós não fazemos isso. Não culpamos ruandeses nascidos nos anos 2000 por aquilo que se passou nos anos 1990. Mas reconhecemos culpa histórica e pecado em situações óbvias, como a questão da culpa alemã. A grande questão é se a geração de millennials alemães vão continuar a sentir culpa.
Mas acha que estão a ser culpados ou que, de certa forma, acusados de serem herdeiros de um legado?
Certamente. Há coisas das quais ainda se fala na Alemanha, e que eu compreendo, que é dizer: “Olhem o que os vossos antepassados fizeram e tenham cuidado, porque vocês podem vir a repeti-lo”. De certa forma, dentro de uma atmosfera de educação liberal, dizemos às pessoas para terem cuidado com as piores coisas que já foram feitas, e com as pessoas que as fizeram, para evitar que elas próprias o façam. Porque podem fazê-las. Mas na Alemanha há algo que vai para lá disso. E eu vejo isto nos meus amigos alemães e ao ler jornais alemães.
A certa altura no livro, pergunta: “Os jovens alemães, os netos, bisnetos e, eventualmente, os trinetos daqueles que viveram os anos de 1940 irão sentir-se hereditariamente manchados para sempre?”. Mas logo no início do livro diz que “a Europa continuará a ser a Europa e o seu povo vai continuar a associar‑se ao espírito de Voltaire e S. Paulo, Dante, Goethe e Bach”. Porque é que de um lado diz que nos devemos associar a alguns europeus que viveram há séculos e por outro não pensarmos no que alguns europeus fizeram há 70 e poucos anos?
Posso garantir-lhe que em parte alguma digo que não nos devemos lembrar do que se passou. O que eu digo talvez deva haver um limite de tempo para as pessoas se sentirem pessoalmente cúmplices do que se passou. São duas coisas muito diferentes. Mas nunca diria, nem iria sugerir, que se esquecesse disso. A minha sugestão é termos uma atitude razoável às duas coisas. Para mim é obsceno que alguém que não esteve envolvido em algo tremendo que aconteceu antes deles queira assumir responsabilidade. E também é obsceno para mim alguém que não esteve envolvido numa atrocidade do passado seja culpada por razões hereditárias. O meu único pedido aqui é que as pessoas tenham uma atitude razoável perante estas duas coisas. E parece-me que, até certo ponto, tem havido atitudes muito pouco razoáveis sobre o nosso passado. Nós não somos só colonialistas, nós não somos nazis, nós não somos só comunistas, nós não somos só racistas.
Que outras coisas é que somos?
Somos todas as coisas que nos trouxeram até aqui, sejam boas ou más. Mas não somos só o mau. E não somos só o bom. Mas isto talvez seja o problema com que tenhamos de lidar nos dias de hoje. Há pessoas que acham que não temos valor nenhum e pessoas que acham que temos todo o valor do mundo. Devíamos conseguir arranjar um caminho entre esses dois lados.
Acha que o Brexit vai ajudar a resolver as questões que identifica como sendo um problema?
Ainda é muito cedo. Podemos sair da União Europeia e acabar com o Jeremy Corbyn a ser primeiro-ministro. A classe política britânica tem demonstrado a capacidade de meter água de diferentes maneiras.
Mas este remédio vai ser melhor do que a doença?
Vai depender da direção do país e da direção da UE. O Reino Unido era o segundo maior contribuidor para orçamento da UE e era, em todo o caso, um agente importante na UE. E as pessoas votaram para sair. E como resultado, esfolámos toda a classe política: demitiu-se o primeiro-ministro, demitiu-se o ministro das Finanças, houve umas eleições gerais onde Theresa May foi castigada e uma geração inteira de políticos trabalhistas desapareceu. Foram esfolados. Em contraste, nada mudou em Bruxelas. E eu acho que quem perde o seu segundo maior contribuidor deve reconhecer que alguma coisa deve ter corrido mal e perguntar: “Porque é que nos deixaram?”. Até podem dizer que é porque os britânicos são loucos, mas deve haver também alguma auto-crítica, como a nossa classe política fez. Mas porque é que não houve mudança em Bruxelas? Porque é que Juncker não saiu. O facto de não ter havido nenhuma consequência em Bruxelas da saída do Reino Unido é a prova dada de que tivemos razão em sair.
















