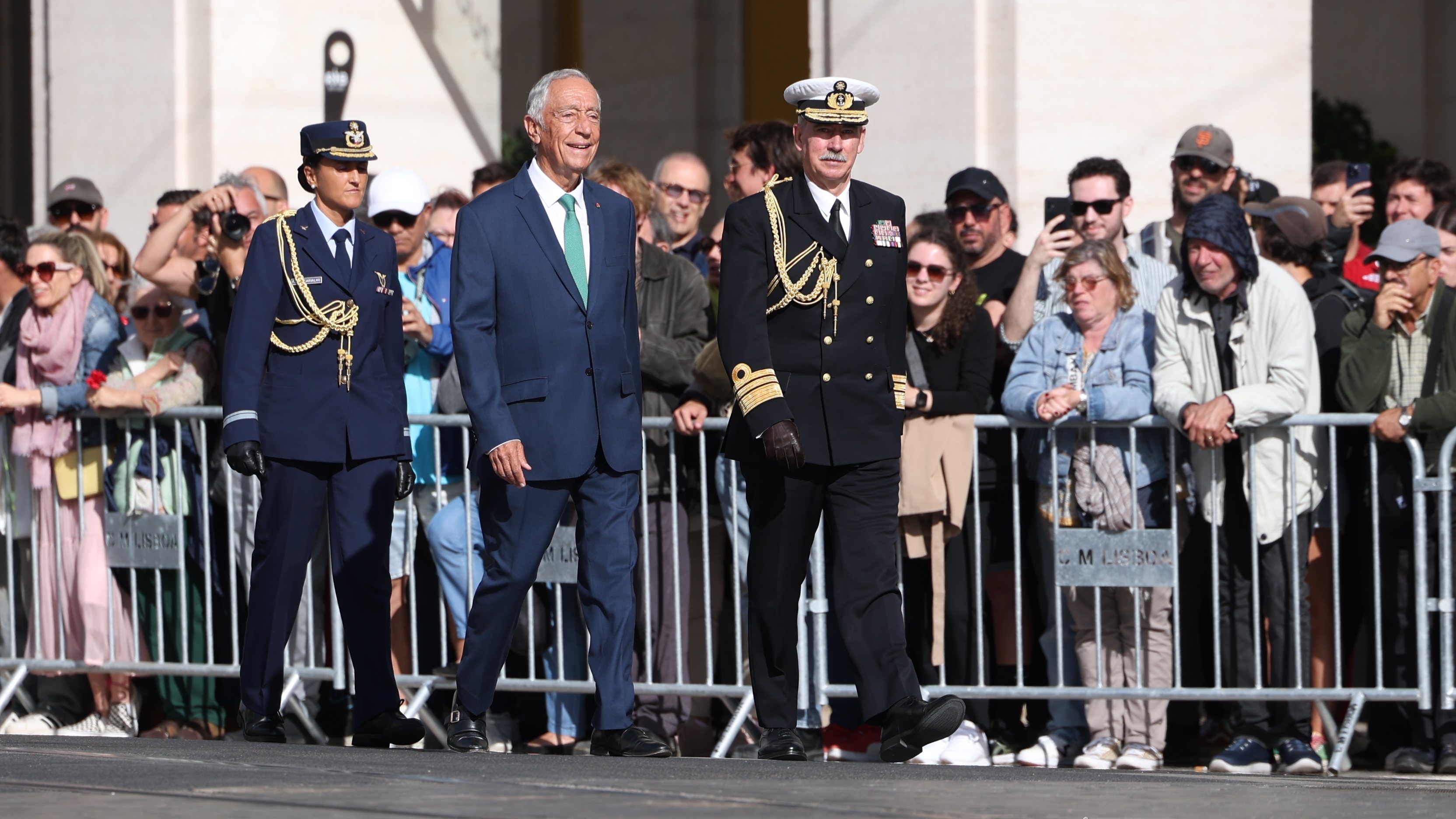Assistência, saúde e epidemias são temas que a historiadora Laurinda Abreu investiga há perto de 30 anos – mas jamais pensou que eles ganhassem de repente a atenção geral, como tem acontecido face ao novo coronavírus. A curiosidade pode estar nisto: será que a história das pandemias nos dá uma leitura mais clara do que está a acontecer? E no caso português será que a resposta das autoridades às “pestes” de outros séculos tem paralelo com a resposta atual?
Em entrevista ao Observador, Laurinda Abreu, professora na Universidade de Évora e investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS), destaca semelhanças: quarentenas, cordões sanitários, proibição do comércio ou centralização da informação vêm desde pelo menos a Idade Média. No entanto, a historiadora sublinha não ter instrumentos para uma análise comparativa entre o passado e as medidas concretas para o coronavírus.
Atarefada com aulas à distância através da internet e artigos científicos que tem entre mãos, Laurinda Abreu respondeu por escrito ao Observador. O ponto de partida das perguntas foram dois ensaios que assinou há dois anos: “A Luta Contra as Invasões Epidémicas em Portugal: Políticas e Agentes – Séculos XVI-XIX” (na revista portuguesa Ler História) e “Epidemics, Quarantine and State Control in Portugal, 1750-1805” (incluído no livro Mediterranean Quarantines, 1750–1914: Space, Identity and Power, com organização de John Chircop e Francisco Javier Martinez, pela Manchester University Press).
Especialista na Época Moderna, a historiadora considera a sua área de estudo ainda pouco aprofundada no nosso país e nota que neste capítulo a historiografia francesa e anglo-saxónico está mais avançada. Licenciou-se em 1984, fez o doutoramento na Universidade de Coimbra em 1998 e nas provas para professora agregada da Universidade de Évora apresentou em 2007 a dissertação O Sistema de Saúde e Bem-Estar em Portugal em Perspetiva Histórica.

▲ "Os barcos que transportavam as mercadorias podiam trazer a morte e a devastação", diz a historiadora. Gravura "Vue du Palais du Roy de Portugal à Lisbonne", de Probst e Winckler (meados do séc. XVII)
DR
A resposta atual às epidemias – e temos aqui em conta o novo coronavírus – tem semelhanças com o que aconteceu no passado?
Se tivermos presente as diferenças entre os contextos — o tipo de recursos envolvidos, nomeadamente, mas não só, os da ciência e de escalas de atuação —, diria que há várias similitudes e recuaria mesmo ao século XIV, à peste negra, o lugar para onde a memória nos reenvia quando pensamos em epidemias. Se eu lhe falar em estratégias de pesquisa e centralização de informação sobre um qualquer foco epidémico; implementação de dispositivos de prevenção e de proteção das populações, desde as medidas de higiene à imposição de quarentenas e cordões sanitários com a exigência de apresentação de “cartas de saúde” para controlo das deslocações; interrupção das trocas comerciais; mobilização de médicos e demais agentes de saúde, poderá supor que me estou a referir à resposta ao novo coronavírus. Na verdade, regressei ao século XIV.
Historicamente, a exposição de Portugal às “pestes” deveu-se à nossa posição geográfica? É daí que surge a ideia de que “a morte vinha do mar”?
Não creio que a posição geográfica de Portugal fosse a razão principal para a invasão das epidemias, termo que prefiro a “pestes”, já que podia albergar várias outras doenças, como demonstrado por Teresa Rodrigues [investigadora do Instituto de História Contemporânea]. Mas não há dúvida de que a fronteira marítima, bem como as dinâmicas comerciais, constituíam elementos de vulnerabilidade. A expressão “a morte vinha do mar”, que tomei de empréstimo a Amândio Barros [especialista em história económica e marítima], reflete isso mesmo: os barcos que transportavam as mercadorias podiam trazer a morte e a devastação. No século XIX, as movimentações de grandes massas humanas através dos comboios (que se juntavam aos vapores) fizeram com que o foco da intervenção das autoridades fosse colocado na fronteira terrestre, até então, no caso português, muito mais desprotegida do que a marítima. As epidemias faziam parte do quotidiano das populações, às vezes com uma regularidade assustadora.
Sendo assim, porque é que a atual pandemia nos parece um facto absolutamente novo?
Como em meados do mês passado escrevia no jornal Le Monde um colega meu, Patrice Bourdelais, o nosso espanto resulta do facto de, desde há dois séculos, vivermos num horizonte histórico de erradicação das doenças infecciosas, sustentada na evolução da ciência e no progresso dos países desenvolvidos. Um caminho iniciado com a vacinação contra a varíola, descoberta nos finais do século XVIII, que se consolidou, a partir da década de 1880, com as descobertas de Pasteur na França e Koch na Alemanha e depois evoluiu, já no século XX, com o surgimento de novos medicamentos capazes de controlar a expansão das ditas doenças infecciosas. Convencemo-nos de que acabariam por desaparecer, mas, como refere Bourdelais, relembrando os avisos que a Organização Mundial da Saúde vem fazendo desde os anos de 1990, no contexto da descoberta do H5N1, da SARS e de todos os demais episódios epidémicos que se lhes seguiram, erradicar as doenças infecciosas é simplesmente irrealista.
Qual foi a doença infecciosa mais temida nos séculos XIV a XIX em Portugal? E qual a forma de controlo mais utilizada pelas autoridades?
A doença mais temida seria aquela que mais matava num curto espaço de tempo (até porque, com uma esperança média de vida tão curta como a que então existia, as pessoas não teriam termos de comparação): a peste, sem dúvida, e durante muito tempo, apesar de começar a perder virulência nos finais do século XVII; mas também, entre tantas outras, a varíola, até que a vacinação conseguiu travar a sua expansão (embora, em Portugal, tenha sido um processo extremamente lento e tenha contado com imensas resistências), e, já no século XIX, a cólera. Refira-se, no entanto, que se temos tendência a realçar os surtos epidémicos, detemo-nos menos sobre os efeitos demográficos provocados pelas doenças infecciosas que permaneciam endémicas entre as populações. Embora pudessem, de vez em quando, explodir em surtos epidémicos, matavam muito, ainda que de forma quase silenciosa, dia após dia, sem causarem grandes sobressaltos. Eram, quase sempre, doenças ligadas à pobreza e à falta de condições sanitárias que normalmente lhes anda associada, um cenário bem conhecido de Portugal no tempo que eu estudo. As soluções propostas em termos de saúde pública pouco evoluíram ao longo deste período, isto é, as medidas executadas no contexto da cólera, no século XIX, não foram muito diferentes das da peste negra, no século XIV.
O isolamento das cidades, a desinfeção, as quarentenas e os cordões sanitários baseavam-se em conhecimento científico ou advinham de suposições e conhecimentos vagos sobre doenças?
Ainda que sem conhecer a etiologia da peste, a evidência do seu carácter contagioso levou as autoridades das cidades do Mediterrâneo, da Itália e da Croácia a assumir o isolamento e a higiene como as principais armas de combate à doença. Comportamentos rapidamente imitados um pouco por toda a Europa, quer através da promulgação de medidas que impunham a obrigatoriedade de desinfetar os espaços públicos e privados, quer do isolamento das pessoas, através de cordões sanitários e de práticas quarentenárias.
Quando começaram os cordões sanitários em Portugal e com que resultados?
Desconheço. Se tomarmos o termo em sentido lato, poderemos dizer que existiram quatro tipos de cordões sanitários, que terão sido estabelecidos em distintos momentos. Por exemplo, se considerarmos as muralhas das cidades como um cordão sanitário, porque, de facto, funcionavam como tal, é provável que remonte aos finais do século XIV a prática de encerrar as portas das urbes ao menor alarme de peste, vigiadas por homens armados que controlavam as entradas e as saídas. Temos ainda conhecimento, para o século XVI, mas provavelmente terão surgido mais cedo, da existência de cordões sanitários territoriais compostos pelas Ordenanças, uma espécie de corpo paramilitar, sob responsabilidade dos municípios. Os dados são, contudo, muito dispersos e fragmentados. Dispomos de informações mais precisas em relação à proteção da fronteira marítima, primeiro, na orla de Lisboa, no eixo Trafaria-Belém, que foi dotada de estruturas fixas no último quartel do século XV. Estruturas que foram sendo ampliadas ao longo das décadas seguintes, quando também foi construído o lazareto da Trafaria — o único local do país onde, a partir de Seiscentos, se deviam fazer as quarentenas dos barcos de maior porte. Paralelamente, foram-se erguendo ao longo de toda a costa lazaretos/estações de saúde, mas a maioria só era ativada durante os surtos epidémicos. Quanto aos cordões sanitários no sentido mais tradicional do termo, quero dizer, constituídos por militares armados e organizados segundo parâmetros internacionalmente definidos, só encontro uma primeira experiência para 1800, e a segunda, para 1804, esta sim, já obedecendo aos preceitos estipulados.
Escreveu num artigo de 2018 que a resposta às epidemias de inícios do século XIX, nomeadamente à da febre-amarela, foram “exploradas politicamente”. Porquê e com que objetivo?
Refere-se, precisamente, aos cordões sanitários que acabei de mencionar, de 1800 e 1804, ou seja, aos primeiros (que eu conheça) cordões sanitários terrestres militarizados estabelecidos na fronteira com a Espanha. A análise da documentação disponível, sobretudo relativamente ao primeiro, apontou-me esse sentido. Repare que a conjuntura política era de alguma complexidade: Napoleão Bonaparte tinha regressado a França, nos finais de 1799, e Portugal voltava a estar sob tensão no contexto do Bloqueio Continental. Como explico nesse artigo, ao mesmo tempo que mobilizava a ajuda militar inglesa (estacionada em Gibraltar), Portugal preparava-se para a ameaça da epidemia que lavrava em Cádis (que poderá ter perdido em cinco meses entre 7400 a 8500 habitantes) destacando homens armados para a fronteira terrestre. Colocava-os em frente (do lado português, bem entendido) às tropas que a Espanha tinha deslocado para a fronteira portuguesa, onde também já tinha instalado hospitais de campanha e armazéns de mantimentos. Num país com enormes dificuldades de recrutamento, tudo indica que o alistamento dos homens, justificado com a defesa sanitária do país, possa ter sido aproveitado para fins político-militares, tendo em conta a guerra, que viria a ocorrer entre maio-junho de 1801. Mas o assunto ainda não está fechado, em termos de investigação, quero dizer.

▲ Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, a 19 de março, dia seguinte ao decreto de "estado de emergência"
João Pedro Morais/Observador
O marquês de Pombal, primeiro, e o intendente-geral da polícia Pina Manique, depois, podem ser apontados como pioneiros da gestão pública de epidemias em Portugal? De onde lhes vinham os conhecimentos? Pode resumir-nos as intervenções de ambos?
Não creio que tal se possa afirmar. Relativamente ao marquês de Pombal (e diga-se que foram vários os surtos epidémicos registados durante o seu governo), o que de mais relevante há a salientar neste campo prende-se com a reorganização dos meios existentes e o reforço do controlo por parte do Estado, no contexto da centralização político-administrativa que estava em curso. Daqui resultou uma significativa redução do poder detido pela câmara municipal de Lisboa, cujo vereador da saúde assumia igualmente o cargo de provedor-mor da Saúde, que superintendia em todo o reino. Apesar de, desde as últimas décadas do século XVI, os vereadores serem nomeados pelo rei, o município tinha um elevado grau de autonomia na gestão das questões dos pelouros da saúde e da higiene, autonomia que Pombal viria a cercear. O que me parece poder ser atribuído a Sebastião José de Carvalho e Melo é a instrumentalização do medo da peste que circulava no Mediterrâneo, a favor da sua sobrevivência política e do seu projeto reformista. Pelo menos, foi assim que interpretei a despropositada força militar mobilizada em 1756 ao longo da costa portuguesa, com maior incidência em Lisboa, quando a epidemia já recuava no Mediterrâneo mas se prepararia um golpe palaciano para o destituir. Pina Manique é um caso mais complexo, já que a sua intervenção tem de ser enquadrada nas funções assumidas pela Intendência Geral da Polícia, desde 1780. Polícia, no sentido cameralista do termo, que se pode resumir, embora o exceda, em “ciência da administração geral do Estado”, que tinha, entre as suas múltiplas atribuições, a defesa da saúde pública. É o conhecimento adquirido nessa área que o secretário de Estado da Marinha e do Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, convoca em 1800, a fim de preparar o país para enfrentar a ameaça da febre-amarela. Sabemos, no entanto, que também se valia da experiência do intendente como recrutador de homens para o exército (competência que lhe tinha sido entregue poucos anos antes). Com poderes extraordinários (assim eram designados), para atuar, a intervenção de Pina Manique terá sido tão “proveitosa” em termos de segurança da saúde pública (palavras do governo) que em 1804 o voltaram a chamar para enfrentar uma nova epidemia de febre-amarela, que alastrava em toda a província da Andaluzia, aproximando-se perigosamente do território nacional. Os conflitos jurisdicionais e atropelos de autoridade verificados em ambos os casos, 1800 e 1804, são uma outra questão, que não cabe aqui desenvolver.
Diria que a administração do Estado sempre teve um rumo definido no controlo das epidemias?
Defendo, desde há muitos anos, que as questões da assistência e da saúde foram, pelo menos a partir do reinado de D. Manuel I, assumidas pela coroa portuguesa como questões da governação: um poder que organiza, que impõe normas e regras mas que raramente financia, como resumi, também em 2018, num pequeno texto para a revista O Referencial. Abreviando, diria que as epidemias estiveram entre as primeiras preocupações da coroa portuguesa no tocante à saúde das populações. Porém, os resultados dependeram, entre outras circunstâncias, das oscilações do poder político: um poder frágil, situação que se verificou em muitos momentos, deixava as populações entregues a si próprias.
Que papel tiveram os militares? E os médicos?
Penso que pretende remeter para a minha investigação mais recente sobre as epidemias no século XIX. Devo dizer que tenho um conhecimento limitado deste período, onde apenas mergulhei devido aos primeiros cordões terrestres de fronteira. A documentação que existe no Arquivo Militar sobre este tópico é muito relevante, tanto em relação às decisões políticas sobre as epidemias como também sobre o estado sanitário do país e modos de vida das populações. Dentre o que lá captei — documentação que ainda estou a explorar —, saliento o facto de, desde o surto de cólera de 1854/1855, os governos entregarem aos militares a defesa sanitária do país, sob a orientação do Ministério do Reino, bem entendido. É claro que os médicos, militares e civis, também participaram nas operações que então foram montadas, contudo a primazia pertenceu ao exército e aos milhares de soldados que colocou na fronteira ou nos lazaretos, onde os passageiros provenientes de Espanha, por comboio ou barco, eram obrigados a cumprir uma quarentena de 14 dias. Demonstrei-o quando analisei o cordão de 1885/1886 (creio que terá sido o último que abrangeu toda a fronteira terrestre, já que o do Porto, em 1899, foi geograficamente circunscrito), que seguia os procedimentos do cordão de 1884, cujos pressupostos remetiam para a década de 1850. Recorde-se que estes métodos, fortemente limitadores da livre circulação e, portanto, do comércio, estavam a ser contestados por vários países, de resto com respaldo de uma parte da comunidade científica, que negava o carácter contagioso da doença. A atuação do governo português não significava ignorância quanto aos mais recentes desenvolvimentos da ciência ou desconfiança nos médicos nacionais, como se pode verificar pela representação do país nas conferências sanitárias internacionais, onde, debalde, se tentava encontrar uma resposta sanitária uniformizada perante as epidemias. Antes, a consciência de que o país não tinha nem estruturas sanitárias nem serviços de saúde, nem dinheiro nem tempo para operar a reforma de todo o setor, como pressupunham as novas orientações de saúde pública, na linha, aliás, da reforma do saneamento urbano e da saúde pública iniciada em Inglaterra, em meados do século XIX, por Edwin Chadwick [advogado e político] Fechar o país parecia-lhes a solução mais segura, não obstante os enormes custos económicos que tal atitude representava. O facto de a cólera não ter atingido proporções epidémicas em Portugal, em 1884, legitimou a decisão governamental do ano seguinte, enquanto a Espanha voltava a registar níveis de mortalidade catastróficos (cerca de 120 mil mortos no surto de 1885).
Que comportamento demonstraram os portugueses ao longo dos últimos séculos face às decisões da administração do Estado no controlo das “pestes”?
Questão difícil de responder. Não disponho de muita informação sobre o assunto. Os dados que temos mostram, para Portugal como para uma outra qualquer parte do mundo assolada pelo flagelo das epidemias, que a ignorância, o medo e a fome nunca foram bons conselheiros. Para me circunscrever a esta última, e a título de exemplo, bem podia a coroa proibir, para assim evitar possíveis contágios, a aproximação dos pescadores aos barcos em quarentena ou que pretendiam aportar ilegalmente nas costas portuguesas se aqueles viam ali a hipótese de algum tipo de ajuda ou pagamento por alguns serviços. Ou mandar queimar os bens e as roupas dos pestilentos, quando a sua venda poderia render algumas moedas. Ou interditar os jornaleiros de atravessar a fronteira para trabalhar em Espanha quando a sua sobrevivência dependia do salário diário. Também não eram fáceis de acatar os condicionamentos ao comércio e à indústria, falando já de Oitocentos, quando os carregamentos de lã, ou de uma outra qualquer matéria-prima, ficavam retidos na fronteira, como se pode comprovar pela imprensa da época ou pelos debates parlamentares. Recordo, por exemplo, o discurso de um deputado, creio que de janeiro de 1886, já o cordão sanitário tinha sido levantado e ainda assim tardavam a regressar as rotinas diárias: em tom ameaçador, bradava ele que, se não fossem tomadas medidas urgentes para agilizar o regresso à normalidade, seria difícil manter a ordem “porque a fome não tem lei”.
À luz do que estudou para os séculos XVIII e XIX, é possível tirar conclusões sobre as atuais medidas sanitárias para o coronavírus? Se sim, que conclusões tira?
Não. Todavia, noto o facto de estarmos a reproduzir as medidas adotadas pela China para enfrentar a pandemia; medidas que, na sua essência, recuperam os modelos italianos desenvolvidos há centenas de anos e que o Ocidente seguiu até ao século XIX.