Em 4 3 2 1, há um facto que atravessa toda a história: Archie Ferguson nasceu em New Jersey em 1947. É assim que começa a história mas o final é mais complicado de descrever. Até porque não há apenas um final. No novo romance, que é publicado a 31 de janeiro, Paul Auster desfila diferentes capítulos com futuros distintos para Archie. Onde andou na escola, que desportos jogava, que pessoas conheceu, que relações teve e tudo o que lhe aconteceu.
Os caminhos são paralelos mas podem existir coincidências. Além disso, a história de Archie Freguson é também a história da América do pós-guerra até aos anos 60, continuando pelas transformações que se seguiram, ao longo de um livro conceptual de 872 páginas. O Observador faz aqui a pré-publicação do início de 4 3 2 1.
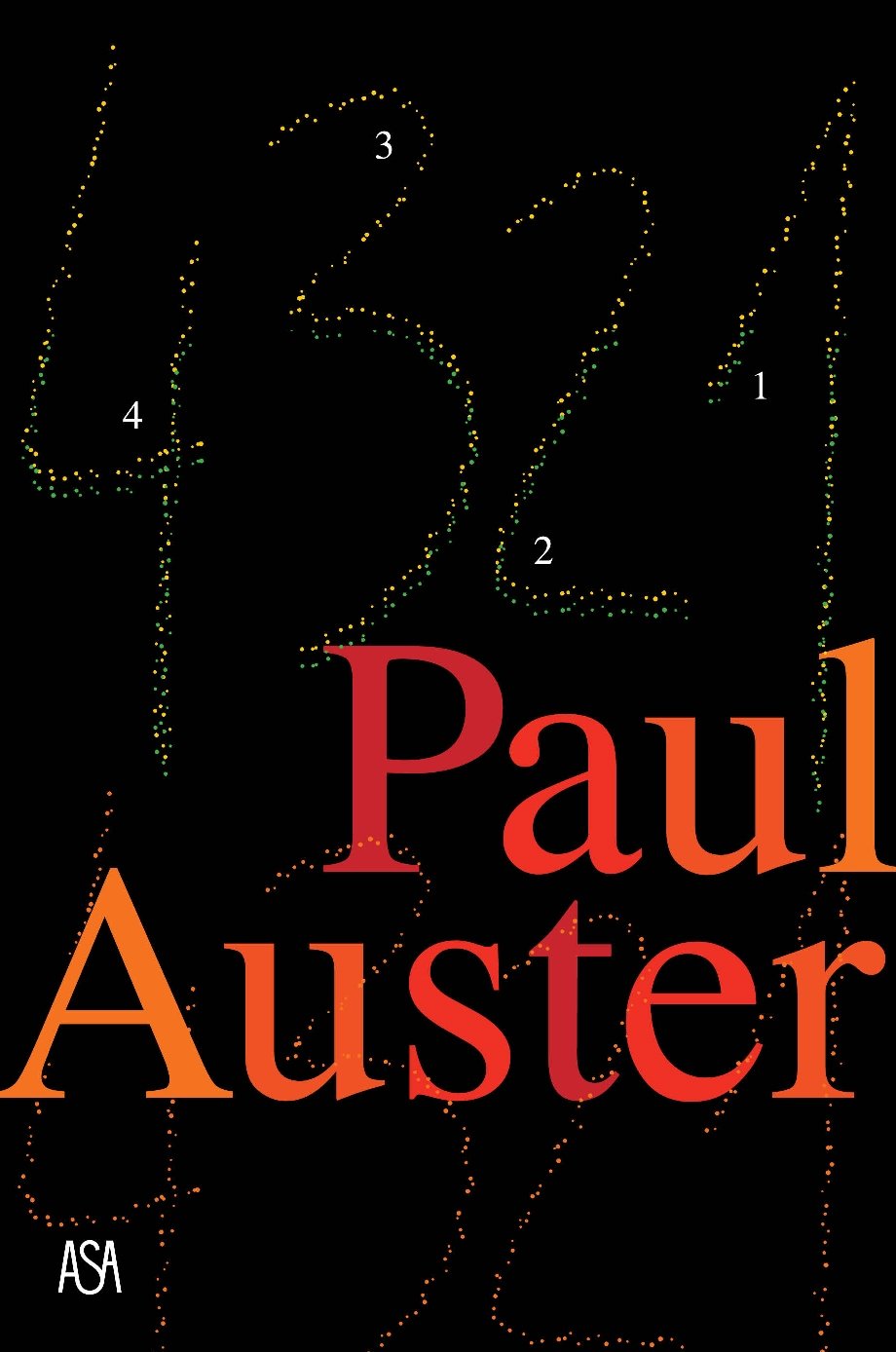
“4 3 2 1”, de Paul Auster (Asa)
“Reza a lenda familiar que o avô de Ferguson partiu a pé da sua cidade natal de Minsk com cem rublos escondidos no forro do casaco, viajou para ocidente até Hamburgo, via Varsóvia e Berlim, e depois comprou passagem num navio chamado The Empress of China, que atravessou o Atlântico sob duras tempestades de inverno e entrou no Porto de Nova Iorque no primeiro dia do século xx. Enquanto esperava para ser interrogado por um funcionário da imigração em Ellis Island, encetou uma conversa com outro judeu russo. O homem disse-lhe: Esquece o nome Reznikoff. Aqui não te serve de nada. Precisas de um nome americano para a tua nova vida na América, algo que soe americano. Dado que o inglês ainda era uma língua estranha para Isaac Reznikoff em 1900, ele pediu uma sugestão ao seu compatriota, mais velho e mais experiente. Diz-lhes que és Rockefeller, disse o homem. Com um nome desses, só pode correr bem. Uma hora passou, depois outra, e quando Reznikoff, de dezanove anos, se sentou para ser interrogado pelo funcionário da imigração, tinha-se esquecido do nome que o homem lhe dissera para dar. O teu nome?, perguntou o funcionário. Batendo na cabeça de frustração, o imigrante cansado disse, bruscamente, em iídiche: Ikh hob fargessen (Esqueci-me)! E foi assim que Isaac Reznikoff começou a sua nova vida na América como Ichabod Ferguson.
Passou um mau bocado, especialmente no início, mas mesmo depois de já não ser o início, as coisas nunca correram como imaginara no seu país adotivo. Era verdade que tinha conseguido encontrar uma mulher logo a seguir ao seu vigésimo sexto aniversário, e também era verdade que a sua mulher, Fanny, cujo nome de solteira era Grossman, lhe deu três filhos robustos e saudáveis, mas a vida na América continuou a ser uma luta para o avô de Ferguson desde o dia em que ele desembarcou até à noite de 7 de março de 1923, data em que encontrou uma morte prematura e inesperada aos quarenta e dois anos – abatido a tiro num assalto ao armazém de artigos de couro em Chicago onde estava empregado como vigilante noturno.
Nenhuma fotografia sua sobreviveu, mas tanto quanto se sabe, era um homem grande com costas fortes e mãos enormes, inculto, sem arte, o perfeito exemplo de um papalvo ignorante. Na sua primeira tarde em Nova Iorque, encontrou por acaso um vendedor de rua a apregoar as maçãs mais vermelhas, redondas e perfeitas que já tinha visto. Incapaz de resistir, comprou uma e mordeu-a avidamente. Em vez da doçura que esperava, o gosto era amargo e estranho. Pior ainda, a maçã era asquerosamente mole, e assim que os dentes de Ferguson furaram a casca, o interior do fruto jorrou sobre a frente do seu casaco numa chuva de líquido vermelho-claro salpicado de pequenas grainhas esféricas. Foi este o seu primeiro sabor do Novo Mundo, o seu primeiro e inesquecível encontro com um tomate de Jersey.
Não um Rockefeller, portanto, mas sim um espadaúdo criado para todo o serviço, um gigante hebraico com um nome absurdo e um par de pés irrequietos que tentou a sorte em Manhattan e Brooklyn, em Baltimore e Charleston, em Duluth e Chicago, trabalhando, diversamente, como estivador, grumete num navio-cisterna dos Grandes Lagos, tratador de animais num circo itinerante, operário de linha de montagem numa fábrica de enlatados, camionista, cavador de valas e vigilante noturno. Apesar de todos os seus esforços, nunca ganhou mais do que trocos, e portanto as únicas coisas que o pobre Ike Ferguson deixou à mulher e aos três filhos foram as histórias que lhes contara sobre as aventuras errantes da sua juventude. A longo prazo, histórias provavelmente não valem menos do que dinheiro, mas a curto prazo têm as suas inegáveis limitações.
A empresa de artigos de couro deu algum dinheiro a Fanny para compensar a sua perda e depois ela deixou Chicago com os rapazes, mudando-se para Newark, em New Jersey, a convite da família do marido, que lhe alugou o apartamento do último andar na sua casa em Central Ward por uma renda simbólica. Os seus filhos tinham catorze, doze e nove anos. Louis, o mais velho, há muito passara a ser Lew. Aaron, o do meio, ganhara o hábito de se chamar Arnold depois de demasiadas tareias no recreio, em Chicago, e Stanley, o de nove anos, era conhecido por todos como Sonny. Para pagar as contas, a mãe deles lavava e remendava roupa, mas em breve os rapazes também estavam a contribuir para as finanças do lar, cada um com um trabalho depois da escola, cada um entregando todos os cêntimos que ganhava à mãe. Os tempos eram difíceis e a ameaça de indigência enchia as divisões do apartamento como uma névoa densa e ofuscante. Não havia como fugir ao medo, e pouco a pouco os três rapazes absorveram as sombrias conclusões ontológicas da sua mãe sobre o propósito da vida. Trabalhar ou passar fome. Trabalhar ou perder o teto. Trabalhar ou morrer. Para os Ferguson, a ideia tola de Um-Por-Todos-E-Todos-Por-Um não existia. No pequeno mundo deles, era Todos-Por-Todos – ou nada.
Ferguson ainda não tinha dois anos quando a avó morreu, pelo que não guardava nenhuma memória consciente dela, mas reza a lenda familiar que Fanny era uma mulher difícil e errática, propensa a violentos ataques de gritaria e incontroláveis crises de soluços, que batia nos filhos com vassouras sempre que eles se portavam mal e estava proibida de entrar em certas lojas locais por regatear os preços em tons vociferantes. Ninguém sabia onde nascera, mas constava que tinha chegado a Nova Iorque aos catorze anos, órfã, e passara vários anos num sótão sem janelas no Lower East Side, a fazer chapéus. O pai de Ferguson, Stanley, raramente falava dos pais ao filho, respondendo às perguntas do rapaz apenas com as mais vagas respostas curtas e cautelosas, e a pouca informação que o jovem Ferguson conseguiu obter sobre os seus avós paternos veio quase exclusivamente da mãe, Rose, a mais nova, por muitos anos de diferença, das três cunhadas da segunda geração dos Ferguson, que por sua vez recebera a maior parte daquela informação de Millie, a mulher de Lew, uma mulher com um gosto pela bisbilhotice que era casada com um homem bem menos reservado e bem mais falador do que Stanley ou Arnold. Quando Ferguson tinha dezoito anos, a mãe transmitiu-lhe uma das histórias de Millie, apresentada como não mais do que um rumor, uma conjetura infundada que podia ter sido verdade – ou não. Segundo o que Lew tinha contado a Millie, ou o que Millie dizia que ele lhe tinha contado, os Ferguson tiveram um quarto filho, uma menina nascida três ou quatro anos depois de Stanley, na altura em que a família se tinha instalado em Duluth e Ike estava à procura de trabalho como grumete num navio dos Grandes Lagos, um período de meses em que a família vivia numa pobreza extrema, e como Ike estava fora quando Fanny deu à luz, e como o sítio era o Minnesota e a estação era o inverno, um inverno especialmente gélido num sítio especialmente frio, e como a casa onde viviam era aquecida por um único fogão a lenha, e como havia tão pouco dinheiro na altura que Fanny e os rapazes tinham sido obrigados a viver com uma refeição por dia, a ideia de ter de tomar conta de outra criança assustou-a tanto que ela afogou a filha recém-nascida na banheira.
Stanley não só falava pouco sobre os pais ao filho, como também não falava muito sobre si próprio. Isto fez com que fosse difícil para Ferguson formar uma imagem clara de como o pai tinha sido em criança, ou em adolescente, ou em jovem, ou no que quer que fosse até casar com Rose dois meses depois de completar trinta anos. A partir de comentários espontâneos que às vezes saíam da boca do pai, Ferguson conseguiu todavia concluir isto: que Stanley tinha sido muito gozado e maltratado pelos irmãos mais velhos, que, sendo o mais novo dos três e portanto aquele que tinha passado a menor parte da infância com um progenitor vivo, era o mais afeiçoado a Fanny, que tinha sido um aluno aplicado e era sem dúvida o melhor atleta dos três irmãos, que tinha jogado a extremo na equipa de futebol e tinha corrido o quarto de milha pela equipa de atletismo em Central High, que o seu talento para a eletrónica o tinha levado a abrir uma pequena oficina de reparação de rádios depois de acabar o liceu em 1932 (um buraco na parede em Academy Street, no centro de Newark, como ele dizia, pouco maior do que a banca de um engraxador), que o seu olho direito tinha sido ferido durante um dos ataques de vassoura da mãe quanto tinha onze anos (cegando-o parcialmente e tornando-o assim inapto para o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial), que desprezava a alcunha Sonny e a largou assim que deixou a escola, que adorava dançar e jogar ténis, que nunca disse uma palavra contra os irmãos, por muito estúpidos ou desdenhosos que fossem com ele, que o seu trabalho de infância depois da escola era distribuir jornais, que considerou seriamente estudar Direito mas abandonou a ideia por falta de dinheiro, que era conhecido como um mulherengo quando tinha vinte anos e saiu com montes de raparigas judias sem qualquer intenção de casar com nenhuma delas, que fez várias excursões a Cuba nos anos trinta quando Havana era a capital do pecado do hemisfério ocidental, que a sua maior ambição na vida era tornar-se milionário, um homem tão rico como Rockefeller.
Tanto Lew como Arnold casaram com vinte e poucos anos, ambos determinados a libertarem-se do lar tresloucado de Fanny o mais rápido que conseguissem, para escapar à monarca vociferante que governara os Ferguson desde a morte do pai em 1923, mas Stanley, ainda na adolescência quando os irmãos se puseram a andar, não teve alternativa senão ficar. Afinal de contas, mal tinha acabado de sair do liceu, mas depois os anos passaram, um após o outro durante onze anos, e ele continuou a ficar, partilhando, inexplicavelmente, o mesmo apartamento do último andar com Fanny durante a Depressão e o primeiro ano da guerra, talvez preso ali por inércia ou preguiça, talvez motivado por um sentimento de dever ou culpa para com a mãe, ou talvez impelido por todas estas coisas, o que fazia com que fosse impossível para ele imaginar viver noutro sítio qualquer. Tanto Lew como Arnold tiveram filhos, mas Stanley parecia contentar-se com relações frívolas, gastando o grosso das suas energias a tornar o seu pequeno negócio num negócio maior, e porque ele não mostrava nenhuma inclinação para casar, mesmo ao passar o quarto de século e aproximar-se dos trinta, parecia haver poucas dúvidas de que iria ficar solteiro para o resto da sua vida. Então, em outubro de 1943, menos de uma semana depois do Quinto Exército Americano tomar Nápoles aos Alemães, no meio daquele período esperançoso em que a guerra estava finalmente a virar para o lado dos Aliados, Stanley conheceu Rose Adler, de vinte e um anos, num encontro arranjado por amigos comuns, em Nova Iorque, e o encanto da eterna vida de solteiro morreu uma morte rápida e permanente.
Tão bonita era, a mãe de Ferguson, tão atraente, com os seus olhos verde-acinzentados e cabelo castanho comprido, tão espontânea e alerta e pronta a sorrir, tão deliciosamente bem-feita em todo o metro e sessenta que lhe tinha cabido em sorte, que Stanley, ao apertar-lhe a mão primeira vez, o remoto e normalmente desligado Stanley, o Stanley de vinte e nove anos que nunca tinha sido queimado pelo fogo do amor, sentiu-se desintegrar na presença de Rose, como se todo o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões e nunca mais conseguisse voltar a respirar.
Também ela era filha de imigrantes, um pai nascido em Varsóvia e uma mãe nascida em Odessa, ambos chegados à América antes dos três anos. Os Adler eram por conseguinte uma família mais assimilada do que os Ferguson, e as vozes dos pais de Rose nunca tinham carregado o mais pequeno vestígio de um sotaque estrangeiro. Tinham crescido em Detroit e em Hudson, Nova Iorque, e o iídiche, polaco e russo dos seus pais tinham dado lugar a um inglês fluente, idiomático, ao passo que o pai de Stanley se tinha esforçado para dominar a sua segunda língua até ao dia em que morreu, e mesmo agora, em 1943, a cerca de meio século de distância das suas origens na Europa Oriental, a mãe dele ainda lia o Jewish Daily Forward, em vez dos jornais americanos, e exprimia-se numa estranha linguagem misturada a que os filhos chamavam «ingliche», um patoá quase incompreensível que combinava iídiche e inglês em quase todas as frases que lhe saíam da boca. Esta era uma diferença essencial entre os progenitores de Rose e Stanley, mas ainda mais importante do que o grau de adaptação dos pais à vida americana, era a questão da sorte. Os pais e os avós de Rose tinham conseguido escapar aos brutais reveses da fortuna que tinham castigado os infelizes Ferguson, e a sua história não incluía homicídios nem assaltos a armazéns, pobreza ao ponto da fome e do desespero, ou bebés afogados em banheiras. O avô de Detroit era alfaiate, o avô de Hudson era barbeiro, e embora cortar roupa e cortar cabelo não fossem o género de trabalho que conduzia à riqueza e ao sucesso material, proporcionavam um rendimento constante o suficiente para pôr comida na mesa e roupa nas costas das crianças.
O pai de Rose, Benjamin, conhecido como Ben ou Benjy, deixou Detroit no dia em que acabou o liceu em 1911 e dirigiu-se a Nova Iorque, onde um parente afastado lhe tinha arranjado trabalho como empregado de balcão numa loja de roupa no centro, mas o jovem Adler desistiu do emprego passadas duas semanas, sabendo que o destino não queria que ele desperdiçasse o seu curto tempo na Terra a vender meias e roupa interior de homem, e trinta e dois anos mais tarde, depois de períodos como vendedor ao domicílio de produtos de limpeza, distribuidor de discos de gramofone, soldado na Primeira Guerra Mundial, vendedor de carros e coproprietário de um negócio de carros usados em Brooklyn, agora ganhava a vida como um de três sócios minoritários numa agência imobiliária de Manhattan, com um salário alto o suficiente para ter mudado a sua família de Crown Heights, em Brooklyn, para um prédio novo em West Fifty-eighth Street em 1941, seis meses antes de a América entrar na guerra.
Segundo o que tinha sido relatado a Rose, os pais conheceram-se num piquenique de domingo no norte do estado de Nova Iorque, não muito longe da casa da mãe, em Hudson, e em menos de meio ano (novembro de 1919), os dois estavam casados. Como Rose mais tarde confessou ao filho, este casamento sempre a intrigara, pois raramente vira duas pessoas menos compatíveis do que os seus pais, e o facto de o casamento durar mais de quatro décadas era sem dúvida um dos grandes mistérios nos anais do casamento humano. Benjy era um espertalhão de falinhas mansas, um maquinador com cem planos nos seus bolsos, um contador de anedotas, um homem ganancioso que açambarcava sempre o centro das atenções, e ali estava ele naquele piquenique de domingo no norte do estado a apaixonar-se por uma mulher tímida chamada Emma Bromowitz, uma rapariga redonda, de peito generoso, de vinte e três anos, com a mais pálida das peles brancas e uma coroa de volumoso cabelo ruivo, tão virginal, tão inexperiente, tão vitoriana na sua expressão que bastava olhar para ela para se concluir que os seus lábios nem por uma vez tinham sido tocados pelos lábios de um homem. Não fazia sentido eles terem casado, todos os sinais indicavam que estavam condenados a uma vida de conflito e desentendimento, mas foi o que fizeram, e embora Benjy tivesse dificuldade em manter-se fiel a Emma depois de as filhas deles nascerem (Mildred em 1920, Rose em 1922), dedicava-lhe o seu coração, e ela, ainda que enganada uma e outra vez, nunca arranjou coragem para se virar contra ele.
Rose adorava a irmã mais velha, mas não se pode dizer que o sentimento fosse recíproco, pois a primogénita Mildred tinha aceitado naturalmente o seu lugar inato como princesa da casa, e a pequena rival que tinha entrado em cena teria de ser ensinada – repetidamente, se necessário – que apenas havia um trono no apartamento dos Adler em Franklin Avenue, um trono e uma princesa, e qualquer tentativa de usurpar esse trono seria recebida com uma declaração de guerra. Isto não quer dizer que Mildred fosse abertamente hostil a Rose, mas as suas bondades eram medidas em colheres de chá, não mais do que tanta bondade por minuto ou hora ou mês, e sempre concedida com um toque de altiva condescendência, como cabia a uma pessoa do seu estatuto real. Mildred, fria e circunspecta; Rose, bondosa e sentimental. Quando as raparigas tinham doze e dez anos, já era evidente que Mildred tinha uma cabeça excecional, que o seu sucesso na escola não era apenas fruto de trabalho diligente mas também de dotes intelectuais superiores, e embora Rose fosse esperta o suficiente e obtivesse notas perfeitamente respeitáveis, não passava de uma nulidade quando comparada com a irmã. Sem compreender os seus motivos, sem uma única vez pensar conscientemente nisso ou formular um plano, Rose deixou pouco a pouco de competir com Mildred, pois sabia instintivamente que tentar emular a irmã só podia resultar em fracasso, e por conseguinte, se queria ser feliz, teria de seguir um caminho diferente.
Encontrou a solução no trabalho, em tentar estabelecer um lugar para si ganhando o seu próprio dinheiro, e assim que fez catorze anos e teve idade suficiente para se candidatar a documentos de trabalho, arranjou o seu primeiro emprego, que rapidamente conduziu a uma série de outros empregos, e aos dezasseis anos já tinha um emprego a tempo inteiro de dia e frequentava o liceu à noite. Que Mildred se recolha no claustro do seu cérebro forrado a livros, que rume à universidade e leia todos os livros escritos nos últimos dois mil anos, mas o que Rose queria, e o habitat natural de Rose, era o mundo real, o movimento e o clamor das ruas de Nova Iorque, a consciência de saber defender-se e trilhar o seu próprio caminho. Como as resolutas e perspicazes heroínas dos filmes que via duas e três vezes por semana, a infindável brigada de produções protagonizadas por Claudette Colbert, Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, Joan Blondell, Rosalind Russell e Jean Arthur, ela assumiu o papel de jovem determinada e empenhada na sua profissão, e abraçou-o como se estivesse a viver num filme só seu, A História de Rose Adler, aquele filme longo e infinitamente complexo que ainda estava na sua primeira bobina mas prometia muito nos anos vindouros.
Quando conheceu Stanley em outubro de 1943, trabalhava há dois anos para um retratista chamado Emanuel Schneiderman, cujo estúdio estava situado em West Twenty-seventh Street, perto de Sixth Avenue. Rose tinha começado com as funções de rececionista, secretária e contabilista, mas quando o assistente fotográfico de Schneiderman se alistou em junho de 1942, Rose substituiu-o. O velho Schneiderman tinha sessenta e tal anos por essa altura, era um imigrante alemão, judeu, que tinha vindo para Nova Iorque com a mulher e os dois filhos depois da Primeira Guerra Mundial, um homem temperamental dado a acessos de mau humor e linguagem francamente insultuosa, mas com o tempo tinha concebido uma afeição renitente pela bela Rose, e porque tinha consciência da atenção com que ela o observara a trabalhar desde os seus primeiros dias no estúdio, decidiu empregá-la como assistente e aprendiza e ensinar-lhe o que sabia sobre câmaras, iluminação e revelação – toda a arte e ofício do seu negócio. Rose, que até então nunca soubera bem para onde ia, que tivera vários empregos de escritório pelo salário que ganhava mas pouco mais, isto é, sem qualquer esperança de satisfação interior, sentiu que tinha de súbito encontrado, por acaso, uma vocação – não apenas outro emprego, mas uma nova forma de estar no mundo: olhar para os rostos de outros, cada dia mais rostos, cada manhã e tarde rostos diferentes, cada rosto diferente de todos os outros rostos, e não tardou muito que percebesse que adorava este trabalho de olhar para os outros e que nunca iria, nunca poderia, cansar-se dele.”














