Foi em 2011 que a espanhola Rosa Montero publicou Lágrimas na Chuva, um romance policial de ficção científica protagonizado por Bruna Husky, uma replicante com apenas dez anos de vida, que vive atormentada pelo pouco tempo que lhe resta, contando-o obsessivamente. Uma andróide a quem foi dada uma falsa memória, pequenas cenas que sabe não serem reais, mas que lhe permitem ter uma identidade, uma infância imaginária. Bruna comoveu os leitores, que se apaixonaram por esta improvável heroína, exigindo o seu regresso. Os pedidos não eram necessários. Desde que criou a personagem e o seu mundo – uma Madrid no início do séc. XXII — que Rosa Montero queria regressar.
O Peso do Coração acaba de chegar às livrarias, numa edição da Porto Editora, e é o tão esperado regresso ao futuro. A Bruna restam agora três anos, dez meses e vinte e um dias de vida. A morte sempre presente, o amor sempre a escapar, a infância perdida e a falsa memória. E Madrid continua terrível, o ar poluído, os pobres mantidos à margem, sempre a tentar trepar os muros que os separam de um mundo onde é possível respirar. Bruna vê-se agora envolvida numa investigação que a conduz às multinacionais corruptas, onde apenas o dinheiro conta, e que a leva a Labari, uma plataforma orbital que vive uma ditadura religiosa. Pelo meio, tenta reparar a sua relação com Lizard e encontra Gabi, uma menina russa órfã pela qual se responsabiliza mas com a qual não se consegue relacionar.
A morte, a memória e a identidade. São as suas obsessões, estão presentes em todos os seus livros. E na conversa que a autora de A Louca da Casa teve com o Observador.
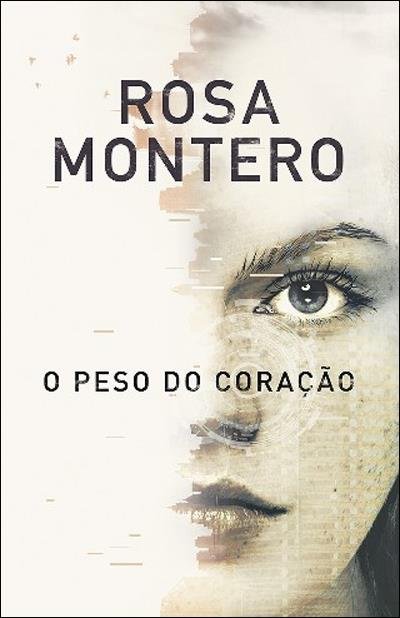
“O Peso do Coração”, de Rosa Montero; 320 páginas, Porto Editora
Porque quis voltar ao mundo de Bruna Husky?
Tinha essa ideia desde que criei Bruna. Ao escrever Lágrimas na Chuva quis oferecer-me um mundo literário. Ser romancista é um pouco ser como Deus. E se além de escrever um romance, constróis um mundo de ficção ao qual podes regressar quando queres, é como ser um Deus muito poderoso. Ou uma criança com um brinquedo enorme. J. K. Rowling disse que quando acabou a série de Harry Potter passou um ano na cama deprimida, sem se conseguir levantar. Percebo-a. O exílio deve ser tremendamente doloroso. Bruna Husky é, de todas as minhas personagens, aquela de que mais gosto, a que me é mais próxima. Não sou uma replicante de combate mas, no essencial, somos parecidas. E ter o seu mundo como um lugar a que posso voltar, que não desaparece, é uma experiência maravilhosa. Não é um trilogia, não é uma saga, não tenho uma história enorme que necessita de três livros para ser contada. O que queria era este mundo a que posso voltar quando quero. Já tenho outro romance escrito, que sairá em Espanha em setembro, contemporâneo. Mas depois desse volto a Bruna. Já tenho imensas ideias. Daqui a uns dois anos sairá.
Que traços são esses que partilha com Bruna?
As personagens são máscaras, tudo nela é muito exagerado. Mas parece-se comigo na sua maneira de estar perante o mundo. O grande tema destes livros de Bruna é a tragédia do ser humano vir ao mundo para morrer. Vimos ao mundo com uma alegria enorme, com desejos infinitos de felicidade e sobrevivência e, de repente, num piscar de olhos, estamos velhos, o corpo destrói-nos, ficamos doentes. E, num novo piscar de olhos, morremos. E noutro morre a geração seguinte, já não há quem nos recorde. Não conseguimos compreender a morte. Não nos entra na cabeça. É impensável. É inaceitável. Para conseguirmos viver acreditamos que somos eternos, esquecemo-nos de que somos mortais. Mas Bruna, que só tem dez anos de vida, não se consegue esquecer. Nisso parecemo-nos. Tenho a teoria, que escrevi em A Louca da Casa, de que nós, romancistas, somos pessoas mais obcecadas pelo passar do tempo e pela ideia da morte que a maior parte das pessoas. Talvez seja por isso que escrevemos. Para tentar agarrar essa vida que nos escapa.
Tem esse sentido da mortalidade muito presente?
Lembro-me de, com dez anos, dizer: ‘Olha Rosita, que tarde tão bonita, aproveita-a, porque não tarda nada estarás na cama a dormir. E rapidamente vais para a escola. E depressa serás adulta, depressa morrerão os teus pais, rapidamente vais morrer tu’. Isto com dez anos. Mas não é triste. Quando se tem essa consciência tão aguda do correr do tempo também se tem uma consciência muito aguda da vida. É o que se passa com Bruna, uma pantera encerrada na jaula da sua pequena vida. Sinto-me próxima dela nisso, mas em ponto pequeno. Sou um gato numa caixa de cartão com buracos. Fisicamente, ela é muito mais corajosa que eu, que sou uma cobarde. Gosto de a imaginar forte, a andar tranquila à noite por zonas perigosas da cidade. Eu morro de medo. É maravilhoso ter este alter-ego. Mas depois ela é muito cobarde do ponto de vista emocional, acha que os sentimentos a fragilizam. Emocionalmente eu sou corajosa. Aí estamos trocadas.
Ela evoluiu bastante no campo sentimental.
Sim, começou o primeiro livro absolutamente sozinha, mas tem vindo a criar a sua família escolhida. Para mim, os amigos são o melhor da vida, são o meu grande triunfo, o meu grande êxito. Tenho amigos de há 40 anos. Continuo a fazê-los. A amizade é muito importante. E dei-lhe coisas como o meu gosto pelo vinho branco. Como ela é muito exagerada tornou-se alcoólica.
Mas não é um romance autobiográfico.
Não. Não gosto da literatura autobiográfica. Todos os meus livros têm personagens com máscaras: uma serva no séc. XII, um taxista em Madrid que perdeu a mulher, uma prostitua na Serra Leoa, uma andróide. A vida destas personagens não tem nada a ver com a minha. Mas os romances são sonhos de olhos abertos. Saem do inconsciente. Às vezes estás a escrever sobre algo muito profundo em ti e nem te dás conta.
Só depois de escrever?
Às vezes nem depois. O que são os fantasmas do escritor? Temas, objetos, palavras, situações, que se repetem inconscientemente. Por exemplo, dei-me conta, depois do meu sexto ou sétimo romance, que todos os meus livros estavam cheio de anões. Até aí não o tinha percebido. Tentei perceber o porquê. Nem sequer conhecia anões. Cheguei à conclusão de que fui uma criança que não chegou a ser criança, por motivos que agora não interessam, e que por isso agora também não sou uma adulta. Aliás, os romancistas são pessoas que não chegaram a amadurecer. É graças a isso que escrevemos. Quem escreve é a criança que temos dentro de nós. Se essa criança morre, se cresce, acabou a criatividade. Isto para dizer que ao escrever podes não ter aperceber de algo tão profundo como isto.
Não se controla?
Nada. Aliás, quando me dei conta disto dos anões decidi que nunca mais os poria num romance. E escrevi o livro seguinte, A Filha do Canibal. Passei três anos a escrevê-lo, terminei-o, corrigi-o, publiquei-o, comecei a promovê-lo e, dois meses depois, dei-me conta de que o tinha voltado a fazer. A protagonista no terceiro capítulo diz: “Sou mentirosa. No primeiro capítulo disse que era bonita. Sou feia. Disse que tinha os olhos cinzentos. São castanhos. Disse que era alta e, na realidade sou baixinha. Bem, muito baixinha. Tão baixinha que tenho que comprar roupa na secção de criança”. Criei uma protagonista anã e não me dei conta. As personagens representam-nos de uma maneira profundíssima. Não sei se Bruna me representa mais que as outras personagens. Mas sinto-a mais próxima, com mais força. É ela que justifica o êxito destes dois romances. Há muitos leitores “brunodependentes”, um fenómeno muito estranho, pedem-me mais livros de Bruna, dizem que têm saudades dela.
Uma andróide que conquistou o mundo.
Acho que tanto o Lágrimas na Chuva como este O Peso do Coração são dos livros mais realistas que escrevi. A ficção-científica é um género que os espanhóis detestam. Mas apenas por preconceito, não sabem o que é. Depois destes romances muitos leitores me disseram: “Li o teu romance e gostei muito, uma coisa extraordinária porque odeio ficção-científica”. Agradecia e perguntava o que tinham lido antes de ficção-científica: nada. Há a ideia de que são temas estranhos, que não têm nada a ver com a realidade, que não vão poder reconhecer-se. É o contrário. A ficção-científica é uma ferramenta metafórica poderosíssima para falar do aqui e do agora. Para falar sobre a condição humana. Os meus romances de Bruna são iguais os outros: têm as mesmas obsessões, os mesmos temas. O meu mundo é realista. É como este em que vivemos. Só que este em que vivemos é pior. Este livro não é apenas ficção-científica, é uma série de coisas. É um romance futurista, um romance policial, um romance existencial, um thriller psicológico, um romance político, um romance de amor, um romance de aventuras, uma metaficção. A sorte de escrever no séc. XXI é que somos livres, podemos utilizar tudo. E o amadurecimento de um escritor passa pela liberdade.
Essa liberdade é um dos motivos pelos quais quer regressar a este mundo?
Não. A verdade é que estou velha. O que, no geral, é uma merda, mas tem algumas coisas boas. Uma delas é a maturidade literária. Lágrimas na Chuva foi um livro que me custou muito escrever, o meu marido, Pablo, adoeceu e morreu enquanto o escrevia. Mas depois desse livro tudo o que escrevi, A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, O Peso do Coração e o que vou publicar em setembro, escrevi com uma grande ligeireza, fluidez, liberdade. Antes escrever era como partir pedra. Mas os últimos três livros fluíram, como uma dança. É das poucas coisas boas de envelhecer. Bom, não morrer também não é mau.

Rosa Montero nasceu em Madrid em 1951. Estreou-se nos livros há 40 anos, com “España para ti… para siempre”
Neste livro Bruna vê-se numa investigação que a conduz por um mundo negro, corrupto, das multinacionais. Vê o mundo assim tão mau?
Óbvio. Aliás, já o disse: acho que o mundo em que vivemos é pior que o do meu livro. Não escrevi sobre pessoas que se dedicam a matar crianças de cinco anos com um tiro na nuca e a gravá-lo. Escrevo sobre refugiados. Sobre a crise. É muito realista. O mundo que criei é uma democracia hipócrita, corrupta, mas é uma democracia, que permite que se lute pela mudança. Mas depois criei duas plataformas orbitais, duas ditaduras, uma religiosa e uma totalitária a que iremos no próximo livro. Quis mostrar que, apesar de tudo, esta democracia repugnante em que vivemos é o melhor possível. A alternativa é muito pior.
Diz no livro que os escritores escrevem a partir da perda, sobretudo quando esta se dá na infância. É o seu caso?
Sim, mas não vou contar porquê. Há um livro muito bom, chamado Génio de Loucura, de um psiquiatra chamado Philippe Brenot, quem tem uma frase de que gosto muito: da dor de perder nasce a obra. E tenho outra teoria. Gosto de ler biografias, autobiografias, diários, de artistas e escritores. E dei-me conta que a imensa maioria dos romancistas teve, antes da puberdade, uma perda violenta do mundo da infância. Claro que estás obcecado pelo tempo, porque sabes o que o tempo faz: acaba com as coisas, mata. Conrad, por exemplo, filho de nacionalistas polacos, foi enviado com os pais para o Norte gelado. Morreram os dois em menos de um ano. Conrad, apenas uma criança, ficou sozinho. Simone de Beauvoir, filha de banqueiros milionários, passou de uma riqueza opulenta a viver em quartos alugados com casas de banho comuns no pátio. Uma perda catastrófica. Depois há perdas menos evidentes, como no meu caso, que não ficam registadas nas biografias oficiais, mas que podem ser igualmente violentas e que, também elas, mostram o que o tempo faz. Escreves para parar o tempo, para agarrar as coisas.
Porque não fala sobre essa perda, sobre a sua infância?
Seria como deitar-me no divã de um psicanalista. Tive uma infância normal. A minha mãe ainda está viva, tem 95 anos, continua com uma cabeça ótima. É uma mulher estupenda, foi assim toda a vida. O meu pai era um tipo valente. Para ganhar dinheiro ia apanhar morangos a França. E era toureiro. Foi ele que me ensinou o amor pelos animais, adorava-os. O ser humano é paradoxal.
Teve tuberculose, ficou fechada em casa entre os 5 e os 9 anos.
As pessoas acreditam que porque estive em casa entre os 5 e os 9 anos, doente e sem ir à escola, me tornei escritora. Acho que não. Tenho amigos que também estiveram doentes nesse período e são diretores de bancos. Acho que a tuberculose foi a resposta a uma situação que era desgastante para mim.
E sobre a qual não fala. O que fez nesse período em casa?
Lia imenso. A minha mãe ensinou-me a ler, aprendi aos três anos e pouco. Um dia ia a ler num comboio, com as minhas tias, tinha uns quatro anos. As pessoas que estavam na nossa carruagem não acreditavam que eu, tão pequena, estivesse realmente a ler. Então as minhas tias disseram-me para ler alto. Como os outros acharam que sabia o texto de cor, deram-me um jornal para que o lesse. E eu ali, como um macaco numa feira, a ler.
Como foi chegar à escola aos 9 anos?
Alucinante. Em Espanha, no ano em que fazia dez anos, entrava-se num ciclo chamado Ingresso. Aos cinco ia-se para a Iniciação. Deixaram-me no colégio e era suposto ir para a Iniciação, com os meninos de 5 anos, uma vez que eu nem sabia a tabela de multiplicar. Mas quando cheguei uma freira perguntou-me: “onde vais?” E respondi-lhe: “Ai não me lembro, começa por In…” Como tinha nove anos, pôs-me na sala do Ingresso. Só se deram conta uma semana depois. Lá fiquei. Tive que trabalhar imenso para conseguir acompanhar. Até hoje, não sei multiplicar.
E como foi para alguém que estava em casa encontrar tantas outras crianças?
Foi óptimo. Sempre fui muito social. Adoro as pessoas. Gosto das pessoas, de ver como são as suas vidas. É raro alguém que não me interesse.
Foi por isso que se tornou jornalista?
Não exatamente. Eu fazia muitas coisas. Houve uma altura em que tive de decidir. Fazia teatro independente. Estudava psicologia (porque aos 16 anos tive ataques de ansiedades enormes, achava que estava louca). Era Hippie, achava que podia ir dar a volta ao mundo. Estudava jornalismo. O jornalismo ganhou. Escrever era-me fácil. Além disso, sempre fui muito curiosa e achei que o jornalismo me permitiria continuar a aprender coisas em todas as áreas. E que me iria permitir viajar e conhecer o mundo. Então comecei a trabalhar como jornalista, aos 19 anos, colaborando em sítios horríveis, como o boletim interno da Companhia do Gás e na Revista de Agricultura do Sindicato Franquista de Agricultura. Agarrava o que podia. Depois lá me fui tornando conhecida nas redações, e comecei a fazer entrevistas.
Como foi, sendo mulher, trabalhar numa ditadura?
Horroroso. Naquela altura ias pedir trabalho às redações e diziam-te: não contratamos mulheres. Não era ilegal. Não tínhamos nenhum direito. E, se me davam trabalho, mandavam-me fazer peças sobre o lar. Ou de cultura, que também era uma coisa de mulheres. Mas era a pré-morte de Franco. Havia uma Espanha real que não tinha nada a ver com a oficial, surgiram meios alternativos, de esquerda, que tentavam fazer algo dentro da repressão e de censura.
Era politizada?
Nunca militei em nenhum partido. Sou muito individualista. Mas estava no Movimento Democrático de Jornalistas, ia a manifestações proibidas, tudo isso.
Como surgiu o seu primeiro romance, Crónica do Desamor?
Comecei a colaborar como entrevistadora do Suplemento Dominical do El País, quando este arrancou, nos primeiros meses de 1977. Já era uma entrevistadora conhecida, tinha ganho alguns prémios. E uma pequena editora pediu-me um livro de entrevistas, feminista, sobre as mulheres no período de Transição. Como era freelancer disse que sim. Deram-me um pequeno adiantamento. Gastei-o. O tempo ia passando, eu fazia muitas entrevistas para o jornal, não tinha vontade de fazer mais. E então sugeri fazer um livro de ficção, que fosse uma espécie de coro das mulheres na Transição. Disseram que sim. E assim foi. Já tinha começado vários romances mas, por vontade própria, teria esperado mais para publicar. Era muito ambiciosa quanto à qualidade do que fazia. Mas ainda bem que publiquei. Não gosto do livro, claro, ninguém gosta do primeiro. Mas as pessoas gostaram e isso deu-me forças para continuar a escrever.
Não chegou a terminar o curso de psicologia?
Não. Fiz quatro anos. Faltou o quinto. Tínhamos aulas praticas num hospital psiquiátrico chamado Francisco Franco – agora chama-se Gregório Marañon. Uma vez por semana assistíamos a uma reunião dos médicos, onde estava o psiquiatra que dirigia o serviço, que era um monstro, e psicólogos e psiquiatras, que discutiam os seus casos. Um dia receberam um rapaz, galego, que tinha sido sempre um estudante brilhante e, ao vir fazer a universidade em Madrid, esparramou-se logo no primeiro ano: foi suspenso, fumava charros, o normal. Mas o pai meteu-o no psiquiatra. Ao apresentarem o caso, os médicos disseram que tinham feito testes a pai e filho, que o filho não tinha nada, mas que o pai era preocupante, tinha traços psicopatas. Mas o princípio da autoridade venceu e, como o rapaz não tinha nada, provocaram-lhe um choque químico para lhe criar uma psicose induzida e depois o curarem. Um método terapêutico louco. Os psiquiatras estavam escandalizados mas o chefe de serviço insistiu nisso. O rapaz estava totalmente drogado, nem conseguia falar. Aquilo repugnou-me.
Disse que estudou Psicologia por ter tido ataques de ansiedade na adolescência. O que os causou? O facto de estar sempre a pensar na morte?
Provavelmente. Um ataque de ansiedade é uma coisa horrível. Estava sozinha sentada à mesa, em casa dos meus pais, a ver televisão, à noite, e, de repente, o efeito túnel surgiu. Fica tudo escuro, o mundo longe, começas a entrar em pânico com um medo nem sabes de quê, com as pernas a tremer, suores frios. Pensas que estás louca, não consegues falar, é tremendo. Ficas com medo ao medo. Foi um ano e meio horrível, com medo de recaídas. Passei muito mal, não tomei um único ansiolítico. Mas passou. Até que aos 21 os ataques voltaram. Desapareceram novamente, aos 30 regressaram. Passaram de novo e acabaram.
Fez algum tratamento?
Nada. Acho que se aprende a viver com isso. Vai-se perdendo o medo ao medo. Estudar psicologia foi útil. Percebi que estes ataques de ansiedade equivalem à gripe dos transtornos psíquicos. É o mais básico que há, não se fica louco, regressa-se ao estado normal. Aprende-se a viver com a angústia. Além disso, acho que há uma relação direta entre ter começado a publicar romances e o facto de nunca mais ter tido um destes ataques. O romance é estruturante, organiza o cérebro. Além disso, ser lida une-te ao mundo. Sentes-te louca quando sais do mundo, quando não tens palavras para explicar o que se passa contigo, é uma solidão absoluta. Mas se és lida estás a comunicar. Hoje, sinto-me feliz de ter tido esses ataques. Permitiram que, de uma maneira segura, fizesse uma excursão pelo lado selvagem da vida. O transtorno mental, essa sensação de estar só, como um cosmonauta a flutuar no espaço com o seu escafandro, é inimaginável para quem não a viveu. Deu-me consciência de outras dimensões da realidade que muitas pessoas vivem. O romance é como um delírio controlado.
Através dos seus romances é possível conhecer as suas obsessões, presentes, aliás em O Peso do Coração: a memória, a morte, a identidade.
Estão em todos os meus livros. A memória como construção imaginária: o que recordamos não é verdade, é uma construção que fizemos. E como tal a identidade, que se baseia na memória, é também algo imaginário. A minha memória é tão horrível que me assusta. Mas acredito que a memória de toda a gente é uma construção. No meu caso, isso é claríssimo. E se a memória for antiga, com mais de dez anos, nem sei se o que recordo é algo que vivi, algo que me contaram, escrevi ou sonhei.
Disse que quando era criança já era muito consciente da sua mortalidade. Como é hoje a sua relação com a morte?
Passei toda a vida a escrever para tentar perder o medo à morte. Depois de escrever a História do Rei Transparente um leitor disse-me: “Gostei muito do livro porque, depois de o ler, fiquei com menos de medo de morrer”. Que bonito. É isso. Só quero ter um pouco menos de medo de morrer. Com A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te quis alcançar a serenidade, saber viver o momento sem angústia, sem ansiedade.
À semelhança de Bruna, conta constantemente o tempo que lhe resta?
Uma conta que fazia desde pequenina – já não a faço há algum tempo – é dobrar a idade. Aos 14, 28. Aos 20, 40. Aos 30, 60. Agora já não o posso fazer. Em média, demoro três anos a escrever cada romance. E agora, desde Lágrimas na Chuva, deu-me uma pressa louca. Tenho muitos romances que quero escrever, não posso levar três anos a escrever cada um. Se demoro o normal só publico a próxima história de Bruna daqui a seis anos. Terei 70. Não pode ser.
Até porque a Bruna só restam três anos. Estaria morta.
Não. A Bruna nunca vai morrer nos meus livros.
É, como muitas das suas personagens, uma sobrevivente.
Todas as minhas personagens são sobreviventes. Durante muito tempo acreditei que escrevia sobre perdedores. Até que um dia, num ato público, me perguntaram em que estava a trabalhar. Estava escrever Instruções para Salvar o Mundo e oiço-me responder: ‘É um romance sobre um taxista, a quem morre a mulher. Bom, resumindo: é, como todas as minhas histórias, uma história de sobrevivência’. Foi aí que percebi: todos os meus protagonistas são sobreviventes.
Nunca desistem.
Nunca. Estão sempre a lutar, nunca perdem a esperança. Como Bruna, que luta contra tudo, contra a morte, mesmo sabendo que vai morrer. Somos animais sobreviventes. Somos tão tenazes, lutamos tanto por sobreviver, que nos convertemos num vírus para o planeta.
Há, como escreve, algo nos nossos genes que nos impele a continuar?
É verdade. Vi muita gente morrer. E de início, quando é a cabeça que ainda manda, ouvi-os dizer: não quero que me façam nada, prefiro morrer. Mas o corpo começa a deteriorar-se e a mente começa a deteriorar-se. E chega um momento em que a mente já não manda. É um momento atroz. A partir daí querem tudo, qualquer coisa que lhes dê mais tempo. Que lhes cortem todos os membros se isso lhes permitir viver mais um dia. É uma coisa cega, animal, são as células a mandar. Já o vi uma e outra vez. É assustador.
Em O Peso do Coração há uma personagem, Gabi, uma menina órfã de dez anos, que perdeu tudo, que prende os poucos objetos que lhe restam num cordel. Como lida com a perda?
Mal. Mas não há remédio. Estamos sempre a perder. Viver é perder: perder futuro, perder amigos, perdemos os dias que temos pela frente. Não gosto. E, como Gabi, tenho um cordel: são os meus romances.


















