O esloveno Slavoj Žižek e o português Boaventura Sousa Santos escreveram e publicaram, enquanto cientistas, logo em março e abril deste ano, dois pequenos livros sobre as consequências ideológicas da atual crise pandémica. Sendo eu um leitor e um escritor lento, ou demorado, confesso ficar sempre impressionado com a capacidade que outros têm de compreender e pensar rapidamente a realidade. Parece evidente, porém, que, neste caso, isso só acontece porque os autores consideram as coisas a partir de uma verdade pré-estabelecida, explicando os movimentos da realidade no contexto dos caminhos previamente definidos pelas suas ideologias científicas. Ora, este é um dos grandes perigos que espreita por detrás do modo como havemos de compreender e enfrentar as crises desencadeadas pela pandemia, sendo nesse sentido que decidi escrever este pequeno artigo.
É importante aqui lembrar, antes do mais, os três desvios que historicamente limitaram – e limitam – a compreensão e a operatividade próprias do conceito de ideologia, tal como foram expostos por Paul Ricoeur num curso que proferiu na Universidade de Chicago, no Outono de 1975. O primeiro, que surge quase desde o seu início, é aquele que reduz o carácter representativo da ideologia a uma mera ilusão, ou distorção, da realidade. O segundo é aquele que, afirmando a ciência como o único acesso verdadeiro à realidade, identifica a ideologia com tudo aquilo que não é ciência, ou de algum modo se distingue dela, nomeadamente a religião, a filosofia e todas as outras formas de representação pré-científicas, acientíficas, ou pós-científicas, que devem, por isso, combater-se enquanto ilusões, ou distorções, da realidade. O terceiro, por último, é aquele que estende ilimitadamente a ideologia a todo o conhecimento da realidade, em virtude do fracasso do propósito anunciado de, por meio da ciência, acabar com as ideologias. (Paul Ricoeur, Ideologia e utopia, Ed. 70, Lisboa, 1991, pp. 93-321).
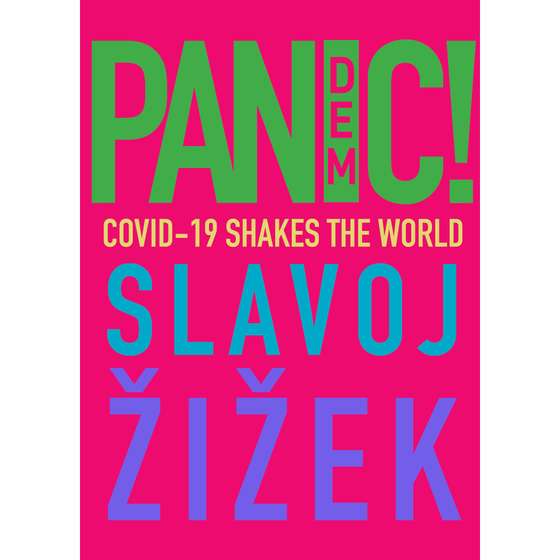
A capa de “Pandemic”, o mais recente livro de Slavoj Zizek
A ideologia, neste sentido, põe-nos perante a difícil questão de saber se e como pode estabelecer-se, nas democracias, uma relação entre o conhecimento da realidade e a legitimação da autoridade. Se não pusermos – e, de algum modo, resolvermos – esta questão, ficaremos inevitavelmente presos àquilo a que Ricoeur chama “o paradoxo de Karl Mannheim”, que justamente pergunta: se a ideologia é apenas uma ilusão e se a ciência não pode substituir definitivamente a ideologia no processo de representação da realidade, então, não só não pode haver uma verdadeira ciência da ideologia (nem, consequentemente, uma absorção da ideologia pela ciência, ou uma ideologia científica), como estamos também condenados a uma ideologia da ciência (ou, o que é o mesmo, a uma ciência necessariamente ideológica).
É exatamente isto que reencontramos nos dois opúsculos de Žižek e de Sousa Santos, a que inevitavelmente se junta o desprezo pela análise das consequências do que afirmam, pois que, quem parte da verdade não aprende com o caminho (ou como dizia o padre Joaquim Cerqueira Gonçalves nas suas lições no curso de filosofia: “contra argumentos não há factos!”). Antes de olharmos resumidamente para as suas obras, porém, é preciso aqui advertir que, se a verdade sem pluralismo é totalitária, o pluralismo sem verdade também o é, sendo em grande medida esse o contexto das inúmeras palestras, seminários e conferências que, do lado liberal, se multiplicam, pretendendo mais entreter do que informar.
O livro de Slavoj Žižek, intitulado Pandemic! Covid-19 shakes the world (OR Books, New York – London, 2020), publicado em março deste ano (!), parte da afirmação de que, neste momento, “a única coisa que é clara é que o vírus irá abalar as próprias fundações das nossas vidas, causando não só uma imensa quantidade de sofrimento, mas também uma devastação económica provavelmente pior do que o da Grande Recessão, (…) [de tal maneira que] não haverá um retorno ao normal: o novo “normal” terá de ser construído sobre as ruínas das nossas velhas vidas, ou então encontrar-nos-emos num novo estado de barbárie cujos sinais são já claramente discerníveis.” (p. 2)
Desde o princípio, portanto, sem qualquer prova, ou demonstração relevante, assume-se que a pandemia, que aconteceu apesar dos alertas feitos nos últimos anos pelos cientistas, veio pôr definitivamente a nu as injustiças do nosso sistema económico e político, (p. 3) mostrando claramente a insuficiência dos mecanismos de mercado e pondo-nos perante uma última e decisiva escolha: ou a barbárie ou uma nova e emergente forma de comunismo. (p. 12)
Vemos assim posta, logo no início do livro, a conclusão a partir da qual se irá observar a realidade. A confusão entre ideologia e ciência, neste sentido, é evidente, de tal maneira que, ainda antes de começar, Žižek faz-nos uma advertência: não devemos pensar que a pandemia “tem um sentido mais profundo, [nomeadamente] o cruel mas justo castigo da humanidade pela desregrada exploração de outras formas de vida no planeta. Se procurarmos uma mensagem escondida deste tipo, permaneceremos pré-modernos. (…) Na ordem maior das coisas, nós somos apenas uma espécie sem especial importância”, sendo nesse sentido que as divisões religiosas, culturais e políticas – numa palavra, ideológicas – que nos separam devem ser postas lado, para podermos enfrentar a pandemia com a luz da verdadeira ciência, que nos mostra estarmos todos no mesmo barco. (p. 14)
Assumida abertamente a luta da ciência contra a ideologia no processo de representação da realidade, o autor sente-se enfim legitimado para se lançar à explicação dos acontecimentos. Nesse processo, porém, a pretensão de uma progressiva conquista do científico sobre o ideológico, como vimos, leva paradoxalmente à vitória do ideológico sobre o científico. Alheio a isso, contudo, o autor remete-nos para o contexto de uma compreensão absolutamente científica do mundo, confundindo ciência e ideologia de tal modo que, na mesma afirmação, pode dizer-nos, por um lado, que “não deve assumir-se que a pandemia é um castigo imposto à humanidade pela exploração desregrada de todas as outras formas de vida do planeta”, ao mesmo tempo que nos assegura, por outro, que a humanidade explora desregradamente todas as formas de vida do planeta e que essa exploração merece um justo castigo.

Getty Images
É a partir deste ponto de vista que Žižek afirma que as divisões e as desigualdades que existiam no nosso mundo “adquiriram uma nova dimensão com o pânico do coronavírus” (p.26), o que, na verdade, significa, primeiro, que a realidade antes e depois da crise difere apenas quantitativamente, isto é, que a pandemia apenas aumentou as desigualdades e as injustiças que já existiam; segundo, que a pandemia as aumentou de tal maneira que chegámos ao limiar da sua transformação qualitativa, isto é, o derradeiro fim do capitalismo e a consequente escolha entre a barbárie ou o comunismo.
Segundo o autor, com efeito, “a atual propagação da epidemia de coronavírus desencadeou uma vasta epidemia de vírus ideológicos, que se encontravam adormecidos nas nossas sociedades: [uns pretendem separar-nos,] estabelecer fronteiras claras e pôr de quarentena inimigos que constituem uma ameaça à nossa [verdadeira] identidade; (…) [os outros pretendem unir-nos] numa sociedade que se realiza nas formas da solidariedade e da cooperação globais: (…) [uma sociedade capaz de] reinventar o comunismo, com base na confiança nas pessoas e na ciência.” (p. 39)
Žižek afirma, portanto, que o coronavírus, ao perturbar o funcionamento tranquilo do mercado mundial, mostra de um modo claro a urgente necessidade de uma reorganização da economia global, que deixe de estar à mercê dos mecanismos de mercado. (p. 44) Para ele, “uma coisa é certa: isolamento, apenas, construir novos muros e mais quarentenas, não resultará. Uma solidariedade incondicional completa e uma resposta globalmente coordenada são necessárias, uma nova forma daquilo a que dantes se chamava comunismo.” (p. 56)
É preciso notar, no entanto – continua ele – que, ao falar de comunismo, não falo de nenhum modo do antigo regime comunista nem dos atuais regimes políticos da Rússia, ou da China. Falo, sim, de “uma mobilização das pessoas fora o controlo do Estado e de uma forte e eficaz coordenação e colaboração internacional.” (p. 67) Se não formos por este caminho, estaremos sempre obrigados ao poder da lógica do mais forte, que, numa crise como esta, poderá ter consequências terríveis. “A abordagem mais ampla do comunismo que advogo é o único caminho para podermos livrar-nos desses pressupostos primitivos. (…) A escolha que temos diante de nós é esta: ou a barbárie ou algum tipo de comunismo reinventado.” (pp. 69-70)
Ao falar de barbárie, porém, Žižek não pensa num estado de “violência brutal pela sobrevivência, com desordens públicas, pânico e linchamentos. (…) Mais do que barbárie aberta, tenho medo de uma barbárie de rosto humano – medidas cruéis de sobrevivência impostas com pena e até com simpatia, mas legitimadas pelas opiniões de peritos”, em virtude de crises cada vez mais recorrentes. (p. 86) Temos de aprender, por isso, a “pensar fora das coordenadas do mercado de capitais e do lucro e simplesmente encontrar uma outra forma de produzir e distribuir os recursos necessários.” (pp. 90-91) Deste modo, mais do que “dizer que teremos de mudar o nosso sistema social e económico [– coisa que o autor dá por cientificamente provada –], o que realmente importa, como notou Thomas Piketty, é como é que a mudamos, em que direção, e que medidas são necessárias.” (p. 94)
A conclusão, portanto, é esta: “comunismo ou barbárie, tão simples como isso” (p. 95) título do último capítulo deste pequeno livro. O autor lembra que, “da esquerda à direita, foi criticado, gozado até, depois de ter repetidamente sugerido a chegada de uma nova forma de comunismo em resultado da pandemia de coronavírus.” (p. 95) A verdade, porém, é que estamos perante escolhas políticas radicais. (p. 99)

▲ A conclusão, portanto, é esta: "comunismo ou barbárie, tão simples como isso" (p. 95) título do último capítulo deste pequeno livro
Education Images/Universal Image
Nos Estados Unidos, segundo ele, vemos já surgir uma versão mais refinada de capitalismo, no âmbito das respostas que têm de dar-se aos problemas causados pela pandemia (p. 100), sendo que “a escolha é entre um número substancial, talvez incalculável, de vidas humanas e o estilo de vida americano, ou capitalista. E, nesta escolha, as vidas humanas vão perder.” (p. 101).
Há mudanças, porém, num outro sentido, que estão já a acontecer, e aqueles que pretendem desvalorizar a epidemia e negar as catástrofes que se lhe vão seguir são aqueles que, no fundo, querem a todo o custo manter a anterior normalidade e evitar a mudança. (p. 102) “É aqui que entra a minha noção de comunismo, não como um sonho obscuro, mas simplesmente como um nome para aquilo que já está a acontecer (ou pelo menos é percebido por muitos como uma necessidade), com medidas que estão a ser já consideradas e até parcialmente impostas. Não é a visão de um futuro brilhante, mas sim de um comunismo de calamidade como antídoto para o capitalismo de calamidade.” (p. 103)
Se os Estados simplesmente se isolarem, as guerras vão rebentar. É a este tipo de acontecimentos que eu me estou a referir quando falo de comunismo e não vejo qualquer alternativa para ele que não seja a barbárie.” (p. 104) É claro que há aqueles que dizem que, tal como durante a guerra fria, o nosso desejo desesperado de sobreviver fará com que esqueçamos as mudanças e nos preocupemos apenas em salvar as nossas vidas, isto é, garantir a continuação do atual estado de coisas. No entanto, contrapõe Žižek, o oposto é verdadeiro: “é através do nosso esforço para salvar a humanidade da autodestruição que estamos a criar uma nova humanidade. É apenas através desta a ameaça mortal que podemos antever uma humanidade unificada.” (p. 105)
Ora, sem de nenhum modo pretender que tudo aquilo que o autor diz é errado, ou inútil, e mesmo reconhecendo algumas observações e análises fecundas e com muito interesse (especialmente no que diz respeito à necessidade de conciliar estruturas políticas globais e locais), chegados a esta conclusão, depois de tudo o que foi dito, é preciso alertar para o grande perigo que esta pequena obra encerra. Confundindo absolutamente ciência e ideologia, num processo que é de conquista e legitimação do poder, o autor afirma a necessidade lógica do comunismo no momento presente da história, apesar de também dizer que não sabe bem o que isso é nem o que deve fazer-se para o realizar. Contrapondo-o à barbárie, porém, afirma-o como o único caminho verdadeiro, ou legitimado pela ciência, convocando todos para a luta em nome de uma ameaça mortal e da transformação final da humanidade. Trata-se, portanto, de uma proposta aberta, não velada, para a instauração de um regime totalitário.
A alegoria da fragilidade
Boaventura Sousa Santos também escreveu e publicou, logo em abril deste ano (!), um ensaio intitulado A cruel pedagogia do vírus (Almedina, Coimbra, 2020), do qual resultará, segundo o autor, um livro maior, que está neste momento a escrever e publicará até ao fim do ano. A verdade, portanto, já lá está, sendo agora preciso apenas ilustrá-la, ou exemplificá-la, com a realidade. Ora, isto é talvez próprio de um romance (isto é, de uma narrativa em prosa, escrita na língua particular do autor, sobre algo por ele imaginado), mas não de uma obra científica (isto é, de um encadeado de enunciados, escritos numa língua universalmente válida, sobre a própria realidade).
É fácil perceber, assim, que, independentemente de Sousa Santos criticar Žižek, cujas propostas diz não terem em conta a diferença entre tempos normais e tempos de exceção, (p. 14) as duas obras têm semelhanças evidentes, muito embora o português vá muito mais longe tanto na confusão que estabelece entre ideologia e ciência, como no consequente desprezo que mostra pela realidade, que vai ao ponto de não se dar ao trabalho de avaliar e criticar as suas próprias afirmações.
O autor começa por dizer que a atual pandemia “não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi impondo como a versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro –, o mundo tem vivido em permanente estado de crise (…), [o qual tinha o duplo objetivo] de legitimar a escandalosa concentração de riqueza e de boicotar medidas eficazes para impedir a iminente catástrofe ecológica.” (pp. 5-6) Com as mudanças drásticas que se deram em consequência da pandemia, porém, “a ideia conservadora de que não há alternativa ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo em que vivemos cai por terra, [ainda que] as alternativas [estejam obrigadas a entrar] na vida dos cidadãos (…) da pior maneira possível.” (p. 6)

▲ A pandemia, segundo Sousa Santos, é uma alegoria, perante a qual o ser humano mostra a sua enorme fragilidade, como fazia perante deus ou os mercados
JIJI PRESS/EPA
Até aqui, portanto, nem no que diz nem em como o diz Sousa Santos difere muito de Žižek. No segundo capítulo, porém, leva a confusão entre ciência e ideologia a um ponto a que o esloveno não se atreveria. Partindo do princípio que a política está hoje inteiramente submetida às necessidades e aspirações dos mercados, afirma que estes, em face da pandemia, perdem o seu poder, com o que surge uma nova claridade: o que esta nova luz nos permite ver e o modo como isso for interpretado e avaliado determinarão o futuro da civilização em que vivemos, sendo que esta nova claridade, e a pandemia, que a provoca, não são um acidente fortuito, mas algo que veio para ficar. (p. 10)
Dito isto, esperávamos ver agora enunciada a conclusão de um conflito histórico inevitável entre barbárie e comunismo, tal como faz Žižek. Eis, porém, que Sousa Santos nos surpreende com um lado mais propriamente místico. A pandemia, segundo ele, é uma alegoria, pela qual o ser humano, tal como toda a vida não humana, se mostra, na sua enorme fragilidade, perante a realidade todo-poderosa de um vírus, da mesma maneira que antes se apresentava perante Deus, ou os mercados. “O deus, o vírus e os mercados são as formulações do último reino, o mais invisível e imprevisível, o reino da glória celestial ou da perdição infernal. Só ascendem a ele os mais fortes (os mais santos, os mais jovens, os mais ricos).” (p. 11)
Abaixo desse reino está o reino das causas, que “desde o século XVII é dominado por três unicórnios: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. São os modos de dominação principais.” (p. 12) Estes três modos de dominação são absolutos, ferozes e destemperados, tendo, além disso, a capacidade da astúcia, que lhes permite não só adaptarem-se sub-repticiamente às transformações superficiais das sociedades, mas também aparecerem como entidades separadas. “A verdade, porém, é que nenhum destes três unicórnios, em separado, tem poderes para dominar. Só os três em conjunto são todo-poderosos. Ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá colonialismo e patriarcado.” (pp. 12-13)
O terceiro reino é o dos efeitos, ou das consequências, que é aquele que a maioria da população consegue ver, embora ainda com dificuldade. As suas principais paisagens são a escandalosa concentração de riqueza/extrema desigualdade social e a destruição da vida do planeta/iminente catástrofe ecológica. “É ante estas duas paisagens brutais que os três seres todo-poderosos e as suas mediações mostram aquilo a que nos conduzem se continuarmos a considerá-los todo-poderosos. Mas serão eles todo-poderosos? Ou não será a sua omnipotência apenas o espelho da induzida incapacidade dos humanos de os combater? Eis a questão.” (p. 13)
É com um espírito quase religioso, portanto, que o autor “se propõe analisar a quarentena a partir da perspetiva daqueles e daquelas que mais têm sofrido com estas formas de dominação e imaginar, também da sua perspetiva, as mudanças sociais que se impõem depois de terminar a quarentena.” (p. 15) Todos eles têm em comum o facto de serem, ao mesmo tempo, os mais desprotegidos no âmbito da quarentena e as vítimas do ataque das políticas neoliberais sofridas no decorrer dos últimos 40 anos. Todos eles, de alguma maneira, estavam já de quarentena, a qual foi agora agravada por via da pandemia de coronavírus. Contudo, “ao contrário do que é veiculado pelos media e pelas organizações internacionais, a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece, porém, que elas se tornam [também] mais invisíveis em face do pânico que se apodera dos que não estão habituados a ele.” (p. 21).
Aqui chegados, portanto, vemo-nos de novo colocados perante um caminho alternativo que historicamente se nos impõe: o fim do capitalismo e um reencontro com a natureza. São esses os dois grandes temas dos dois últimos capítulos deste pequeníssimo livro. O penúltimo fala-nos da intensa pedagogia do vírus, cuja lição principal, de entre as seis que o autor apresenta, é a de que o capitalismo, enquanto modelo social, não tem futuro. Em particular, a sua versão atualmente vigente – o neoliberalismo combinado com o domínio do capital financeiro – está social e politicamente desacreditada em face da tragédia a que conduziu a sociedade global e cujas consequências são mais evidentes do que nunca neste momento de crise humanitária global. O capitalismo poderá subsistir como um dos modelos económicos de produção, distribuição e consumo entre outros, mas não como único e muito menos como o que dita a lógica da ação do Estado e da sociedade. (p. 24) A pandemia tem aqui um papel fundamental, na medida em que “os cidadãos sabem agora o que está em causa. Haverá mais pandemias no futuro e provavelmente mais graves, e as políticas neoliberais continuarão a minar a capacidade do Estado para responder e as populações estarão cada vez mais indefesas. Tal ciclo infernal só pode ser interrompido se se interromper o capitalismo.” (p. 25)
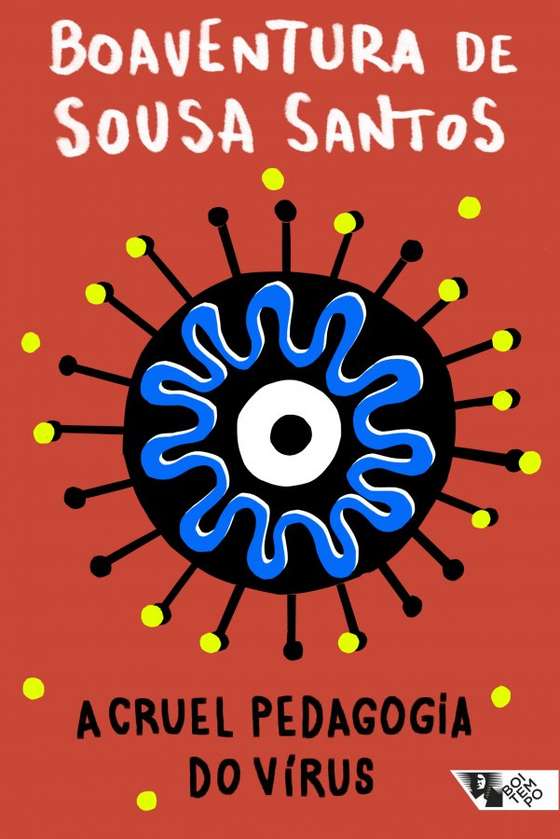
“A Cruel Pedagogia do Vírus”, de Boaventura Sousa Santos
O último capítulo, por isso, fala-nos de um futuro novo, ou alternativo, que pode começar hoje. (p. 29) Este novo futuro “pressupõe uma viragem epistemológica, cultural e ideológica que sustente as soluções políticas, económicas e sociais que garantam a continuidade da vida humana digna no planeta. Essa viragem tem múltiplas implicações. A primeira consiste em criar um novo senso comum, a ideia simples e evidente de que, sobretudo nos últimos quarenta anos, vivemos em quarentena, na quarentena política, cultural e ideológica de um capitalismo fechado sobre si próprio, e a [ideia] das discriminações raciais e sexuais sem as quais ele não pode subsistir. A quarentena provocada pela pandemia é afinal uma quarentena dentro de outra quarentena. Superaremos a quarentena do capitalismo quando formos capazes de imaginar o planeta como a nossa casa comum e a Natureza como a nossa mãe originária a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence. Nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos esta quarentena, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias.” (pp. 32).
É fácil ver, assim, que Žižek e Sousa Santos estão essencialmente de acordo nas teses que defendem nestes dois livros, ainda que indiquem com diferentes nomes o futuro que, de uma forma igualmente vaga, ambos veem, do mesmo modo, a despontar. É fácil ver, também, que ambos estão de acordo quanto ao modo de propor, ou impor, esse futuro, enquanto confundem absolutamente ciência e ideologia no processo de conquista e legitimação do poder. Há um último ponto, porém, que é preciso aqui referir, porquanto torna o livro de Sousa Santos indiscutivelmente mais perigoso que o de Žižek: trata-se do facto de ele defender, a partir de uma metáfora biológica, ou científica, a tese de que os fins justificam os meios na guerra – que diz ser necessária – contra o capitalismo.
O capitalismo, que, segundo ele, está hoje a chegar à sua etapa final, tem por base a exploração sem limites dos recursos naturais. Essa exploração – como também diz – “está a violar de maneira fatal o lugar da humanidade no planeta Terra, traduzindo-se na morte desnecessária de muitos seres vivos. (…) [Ora,] essa violação não ficará impune. As pandemias, tal como as manifestações da crise ecológica, são a punição que sofremos por tal violação. Não se trata de vingança da Natureza. Trata-se de pura autodefesa. O planeta tem de se defender para garantir a sua vida. [E] a vida humana é uma ínfima parte (0,01%) da vida planetária a defender.” (p. 23)
É verdade que Žižek também acaba o seu livro com um apelo à criação de uma nova humanidade como forma de nos salvarmos da autodestruição com que o capitalismo mortalmente nos ameaça. Sousa Santos, porém, legitima abertamente uma guerra contra o capitalismo a partir da ação que, nesse sentido, já está em curso na Natureza. Esta personificação do planeta garante-lhe a objetividade da ação proposta, ao mesmo tempo que o constitui como o seu arauto. Daqui à legitimação de um ato de guerra por meio do qual um determinado País crie, por exemplo, um vírus, com o objetivo de exterminar absolutamente o capitalismo, vai apenas um passo, que, perante circunstâncias favoráveis, a história mostrou já ser muito curto.
Gonçalo Pistacchini Moita é investigador do Cefi – Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa















