Já lhe chamaram Jesus Cristo na rua e já viajou com Nick Cave, o único artista que nunca o desiludiu. Adolfo Luxúria Canibal é também Adolfo Morais Macedo, nasceu em Luanda, fez seis meses a bordo do avião e nunca mais lá voltou. A primeira música que ouviu, secretamente em casa dos pais, foi a de Zeca Afonso, seguiu-se a pop na escola, depois o free jazz com os amigos mais velhos e foi ao som dos The Stooges que descobriu poder do rock e nunca mais se conseguiu libertar dele.
Com os Mão Morta, banda que fundou em 1984 para ir passar umas férias a Berlim, subiu ao palco pela primeira vez como vocalista, testando limites e tornando-se numa figura excêntrica e ao mesmo tempo poética. Nos concertos é visceral, irreverente e carismático, mas à mesa do café bebe chá e pede uma torrada, com a mesma simplicidade com que fala do tempo que não sente passar e do homem de família que sempre foi.
Viveu grande parte da sua vida em Lisboa, cinco anos em Paris, onde não ter dinheiro foi “uma chatice”, e regressou a Braga, cidade onde tem raízes familiares e na qual mudava de presidente de câmara. Adolfo é advogado, faz música para se concretizar, mas nunca quis viver dela. Pratica-a pela vontade de fazer diferente e porque o faz “desopilar das preocupações do quotidiano”. Hoje preocupa-o as coisas comuns: a falta de tempo, a multa que chega a casa ou o dinheiro que não se multiplica até ao final do mês.
Num processo solitário e completamente individual, Adolfo escreve em português, a língua que lhe soa melhor e lhe faz mais sentido. Rejeita fórmulas de sucesso, clichés e poemas lamechas, mas acredita no que é sujo, real e honesto. As dores nas pernas ditam uma idade que parece ser apenas física, a imagem que têm dele não o condiciona e apesar de não projetar o futuro, tem apenas o propósito de não se quer repetir.
No rasto dos duendes eléctricos (Poesia 1978 – 2018) é o título do livro que reúne os seus poemas, numa coleção coordenada por Valter Hugo Mãe para a Porto Editora. Já No Fim era o Frio é o título do novo álbum dos barcarenses Mão Morta, tocado pela primeira vez ao vivo a 28 de setembro, no Hard Club, no Porto, a 11 de outubro, no LAV, em Lisboa, e a 31 de outubro no Cine-Teatro Lutelano, em Loulé.
[“Deflagram Clarões de Luz”, do álbum “No Fim era o Frio”:]
Porque escolheu estudar direito?
Tirei direito por exclusão de partes, em todas as profissões que existiam naquela altura e que me podiam agradar, como antropologia, história ou filosofia, só me via a dar aulas e pouco mais. Apesar de não ter antecedentes na família, direito era aquela área em que tinha mais hipóteses a nível profissional. Quando entrei na universidade escolhi a vertente de advocacia mais política, porque era a mais aberta.
Interessava-se por política?
Não particularmente, mas toda a minha geração tinha descoberto a política depois do 25 de abril nas ruas, mas não era uma coisa que me entusiasmasse, não tinha relações partidárias.
Nunca ponderou isso?
Quando era adolescente rapidamente comecei a dar-me mais com pessoal ligado ao anarquismo, foi mais por aí que me desenvolvi politicamente.
Estudou em Lisboa, mas nasceu em Angola.
Sim, nasci em Luanda, vim ainda bebé. Fiz seis meses a bordo do avião na viagem de regresso.
Nunca pensou em voltar?
Nunca tive particular interesse em voltar. A minha mãe era africana, viveu lá a vida inteira, só veio para a metrópole para estudar. Sentia muito a cultura angolana nela, nomeadamente no picante na comida, nas águas geladas no frigorífico, coisas que não se encontravam nas casas das outras famílias. Lembro-me que ela tinha saudades de algumas frutas exóticas, falava delas com nostalgia. As coisas nunca estiveram muito apelativas para um regresso, houve uma altura em que ponderei vagamente, uns amigos abriram um escritório de advocacia em Luanda e eu podia ter dupla nacionalidade, que não tenho, e ir para lá.
Ainda tem lá família?
Não, veio tudo embora depois do 25 de abril. É uma terra violenta, insegura e viver numa espécie de redoma, afastado do mundo, não me interessava minimamente. Precisava e preciso de outra liberdade,
A música deu-lhe essa liberdade?
Eu não sou músico, não percebo rigorosamente nada de música, gosto de música, que é uma coisa bem diferente. Posso fazer a maiores barbaridades na música, que estou perfeitamente inconsciente de que as faço. Para mim é um espaço de liberdade, na medida em que não estou restringido por regras, se a coisa soa bem, está bem.
Nunca quis viver dela?
Não, isso é um principio que nunca esteve em causa. Houve uma época no início dos anos 1990 em que uma editora estava interessada em nós [Mão Morta], mas a condição era que vivêssemos da música e isso obrigava-nos a gravar discos, a vender discos, a tocar, a ser profissionais a sério, e recusamos na hora. Não nos interessava de todo, gosto demasiado da música para viver às custas dela.
É fácil conjugar a vida de advogado com a música?
Às vezes é complicado gerir o tempo, normalmente quando há complicações quem fica a perder é a música, porque não é uma prioridade nem é a minha profissão.
Como surge a sua ligação à música?
É uma ligação tardia, até à adolescência não tinha qualquer contacto com ela. Vivi em Vieira do Minho até aos 11 anos e lá não se ouvia música. Mesmo em minha casa, a única vez que me lembro de ouvir um disco foi um do Zeca Afonso, a minha mãe tinha sido colega dele na universidade e recebeu os primeiros discos. Os meus pais ouviam aquilo à noite em segredo, pela censura, e nós, crianças, estávamos na cama e levantávamo-nos pé ante pé, muito escondidos, para tentar descobrir a razão daquele secretismo todo. Só quando vim para Braga é que tive uns amigos que eram fanáticos por música pop e aí conheci os Beatles, T.Rex, Harry Nilsson e Cat Stevens. Com 14 anos virei-me para o jazz, os meus amigos eram mais velhos e começaram a ouvir sobretudo o free jazz, eu mergulhei de cabeça naquilo. Só descobri o rock em 1977, quando ouvi os The Stooges, foram eles que me deram aquele click. Havia ali alguma coisa estranha no rock que podia ser interessante. Eles tinham um lado abrasivo muito forte, muito intenso, o free jazz era grito, um saxofone e muita espontaneidade, nos The Stooges encontrei isso tudo, mas com mais power, mais sujidade, com um ritmo mais marcante. Foram a minha porta para o rock e a partir daí foi um amor que nunca mais deixei.

▲ (fotografia: Octavio Passos/Observador)
Octavio Passos/Observador
Em 1984 cria uma banda.
Tudo começou numa brincadeira, foi uma banda criada para irmos passar umas férias em Berlim. Estamos há 35 anos a tentar cumprir esse objetivo, um dia que tocarmos lá o grupo acaba.
Porquê Mão Morta?
O nome surgiu-me numa daquelas aulas chatas de direito, em que o professor, também ele muito chato, falou dos bens de mão morta. São bens que não tinham sucessores e que depois eram revertidos para a igreja. No século XIX era a igreja que registava as pessoas e se a igreja estava interessada num bem facilmente arranjava maneira de ficar com ele, riscando os sucessores do proprietário. Achei essa história demasiado incrível para ser verdade, sendo nós de Braga, uma terra ligada à igreja desde sempre, aquele nome caía-nos que nem ginja.
Além da música, é a poesia que mais o define. Como vê a escrita de canções em Portugal?
Basta ver que dois terços do pop rock que se faz em Portugal é feito em inglês, portanto ninguém liga nenhuma ao texto, se ligassem não tratavam das coisas em inglês. Nunca ponderei cantar em inglês, até porque o meu sotaque é horrível, tal como a maioria dos portugueses. Não há propriamente um género ou uma linha que una todos os poetas, mas acho que há pessoas a escrever bem em português, não sou um caso isolado, partindo do princípio que escrevo bem. O Manel Cruz, o Samuel Úria ou o Romi da banda Peixe:Avião são alguns exemplos disso.
Este mês lança um livro que reúne a sua poesia nos últimos 40 anos.
É um apanhado da minha escrita poética, seja para canções ou não. Tem coisas inéditas, coisas que fiz para os Mão Morta e para outras bandas, e até livros que editei.
Como define a sua poesia?
Sou talvez a pior pessoa para falar disso. Ela tem que soar bem, mas não tem que ser bonitinha. Aliás, diz-me pouco a poesia bonita, há coisas de que gosto muito, mas a maior parte não me diz nada, é lamechice. Gosto da poesia mais experimental, mesmo que o resultado não seja inteligível à primeira.
Como funciona o seu processo criativo?
Na verdade, varia muito. Grande parte da escrita acontece depois da música e encaixa nela, outras vezes são exercícios, brincadeiras, corte e costura de coisas antigas. Pego, por exemplo, num livro e abro-o na página X para tirar uma frase e juntar a outra coisa, crio muitas coisas novas a partir de livros de outras pessoas. Outras vezes pego em palavras e meto-as num saco e vou tirando.
Como surge a ideia musical para este novo álbum?
Parte do Miguel Pedro e do seu interesse pela eletrónica. Ele começou a trabalhar muito nesse campo e lembrou-se de utilizar os conceitos e a construção modular típica da eletrónica na música rock, esse foi o principal ponto de partida. Como podemos transpor um modo de composição que é típico da eletrónica para um novo universo que utiliza outro tipo de construção, como a sala de ensaios, a repetição, o refrão, a estrofe e o solo? Entretanto surgiu o convite para trabalharmos num festival de dança em Guimarães e como não tínhamos tempo para trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo, decidimos juntar as duas.
Explorar a dança com a música rock era um desejo antigo?
Não sei se lhe posso chamar desejo, mas era uma coisa que estava na minha cabeça desde os anos 80, quando vi um espetáculo dos The Fall com o coreógrafo Michael Clark chamado “I am Kurious oranj”. Tinha ficado com essa vontade e esse apetite vago de fazer uma coisa que ligasse o rock e a dança no palco, tocando ao vivo e em simultâneo. Pegámos na ideia no modular e trabalhámos uma sinopse para dança, onde a ideia era jogar com as diversas possibilidades de um só gesto, que num outro contexto poderia ter uma leitura diferente. O Miguel apresentou as suas primeiras propostas musicais, eu comecei a escrever textos para elas, ainda sem ter um fio condutor. Foi a partir da primeira letra que as coisas de desencadearam e interligaram. O disco foi todo construído sequencialmente em 11 músicas, que são 11 módulos.
A história que conta no disco é real?
Não, é completamente ficcional, foi a história que se criou a si própria. Sou autor apenas porque fui instrumento, ela é que se auto gerou. No final vi que existiam ressonâncias de coisas reais da minha vida familiar, espelhava, de certa forma, algumas inquietações provocadas por acontecimentos familiares. Não foi premeditado, nem teve uma racionalidade.
[“O mundo não é mais um lugar estranho”:]
Pode dizer-se que se trata de uma história de amor?
É, sobretudo, uma história de perda, claro que no amor também se perde. Fala de todas as contusões que essa perda traz a um coração ferido.
Como é que o espetáculo está organizado?
Já sem bailarinos e sem dança, vamos aproveitar a ideia e o ambiente gélido do espetáculo que fizemos em Guimarães e transformá-lo num concerto de rock. Terá uma primeira parte onde tocaremos de fio e pavio o novo disco e depois do intervalo haverá uma segunda parte de rock and roll puro e duro, com o restante reportório dos Mão Morta. O cenário muda, saímos do ambiente gélido do disco e passamos para algo mais quente, mais underground e mais sujo.
Faz sentido separar as duas coisas?
Para nós sim, temos tocado módulos separados do disco desde de fevereiro do ano passado, aqui queremos marcar as duas coisas. Esperamos que as pessoas entrem a 100% no disco para depois terem outro momento completamente diferente. Para não haver uma falsa separação, preferimos assumir essa quebra e fazer um intervalo à moda antiga, como se fossemos tocar ao casino ou a um hotel.
A banda faz 35 anos, sente essa idade, o tempo que passou?
Uma pessoa chega a um ponto em que já não dá pelo tempo passar, parece que tudo foi ontem. A sensação de mudança nós temo-la e procuramo-la, desde o princípio que fazemos isso. De disco para disco mudamos, parece que temos uma sede de descobrir coisas novas. Não queremos repetir o que já fizemos, está feito, não faz sentido lá voltar, demos o nosso melhor naquela época e não vale a pena estarmos a fazer o mesmo. Não somos fiéis a nada, a nossa fórmula somos nós. Desde que sejamos honestos connosco próprios, o nosso som vai sair a soar a nós, o que não impede que sejamos curiosos e queiramos saber como se faz isto ou aquilo. Sempre compusemos muito individualmente e depois juntamos tudo, os arranjos já são mais coletivos. Os discos espelham o processo criativo de cada um e espelham a ideia de fuga ao que fizemos antes. Podemos dois ou três discos depois voltar ao que tínhamos feito, mas já voltamos num outro patamar, porque já não estamos no mesmo sítio. Estamos sempre a fugir a nós próprios, encontrando-nos sucessivamente, mas noutros campos.
O que mais admira num artista?
Gosto muito de música, da sinceridade que ela traz e da necessidade de não repetir fórmulas. Uma coisa que me irrita é quando as pessoas começam a jogar com fórmulas que funcionam e a acumular clichés, isso deixa-me com os pelos todos pendurados.
Nick Cave continua a ser o único artista que nunca o desiludiu?
Sim. Em 1988 tocámos a primeira parte dos concertos dele cá, no Porto e em Lisboa. Tinha 28 anos e foi uma belíssima experiência. Fizemos a viagem com ele, como eles vinham em primeira e nós em segunda, fizemos a viagem toda no bar em amena cavaqueira. Não foi só chegar lá e tocar, foi uma coisa convivial. Já éramos fãs dele e ficamos com o ego lá em cima. Os discos dele são todos bons, há o Nocturama, de 2003, que é o chamado “percalço que acontece a qualquer um”.

▲ (fotografia: Octavio Passos/Observador)
Octavio Passos/Observador
Acredita que há sempre um disco percalço?
Acho que sim.
Qual é o percalço dos Mão Morta?
O Pesadelo em Peluche, em 2010, foi um disco mal rececionado. O som não foi aquele que pretendíamos, quisemos trabalhar sobre os clichés do pop, usar as fórmulas para questioná-las e pô-las em causa. Foi mal executado, saiu algo comercial, com um som agudo. É um disco que nos desespera um bocado, a maior parte do público dos Mão Morta não se identifica com ele. O que nos preocupa não é tanto a não receção, é olharmos para o disco e sentirmos que ficou aquém do que queríamos. Os discos nunca ficam a 100% daquilo que idealizamos, às vezes até ficam melhores.
O que o motiva?
Gosto muito de fazer música, dá-me pica fazer coisas novas, trabalhar conceitos para discos e espetáculos.
O que o preocupa?
As minhas preocupações são as preocupações que toda a gente tem, o dinheiro que não chega ao fim do mês, a multa que chega na pior altura, a falta de tempo, a idade, as dores nas pernas, todas essas coisas.
Estamos em ano de eleições, como olha para Portugal hoje?
Penso que depois de termos passado a fase de Passos Coelho, Portugal está sempre melhor, seja qual for a perspetiva. Se Portugal esta ótimo? Não, está longe disso, falta-lhe muita coisa a nível de ambiente, saúde, ensino…
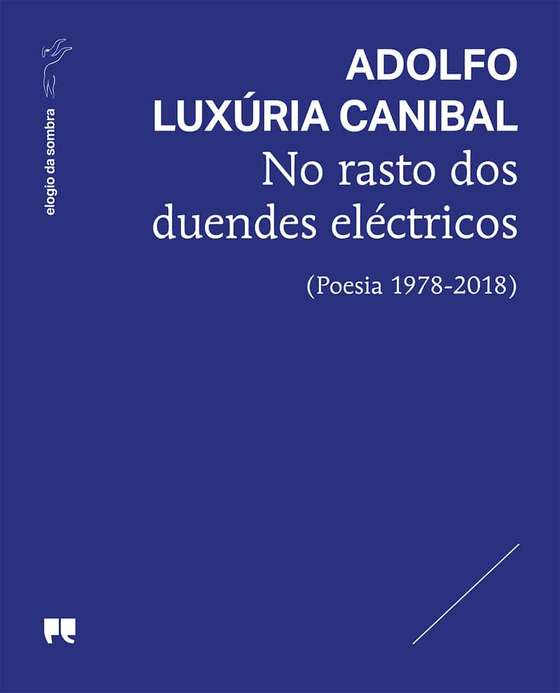
A capa de “No rasto dos duendes eléctricos (Poesia 1978-2018)”, de Adolfo Luxúria Canibal (Porto Editora)
Aqui em Braga, por exemplo, o que mudava se pudesse?
Mudava logo de presidente [risos].
Que ideia pensa que as pessoas têm de si?
Sinceramente não ligo muito a isso, é algo que nunca me condicionou. Quando vivi em Braga antes de ir para Lisboa, andava na rua e as pessoas insultavam-me, chamavam-me MRPP, Jesus Cristo, mandavam-me ir trabalhar. Habituei-me a cagar de alto para o que as pessoas diziam ou pensavam de mim. Às vezes há coisas que me irritam, mas é tudo muito superficial, consigo aguentar-me bem.

















