Sabemos a origem dos símbolos nacionais? E conseguimos descrever a história que os criou e os trouxe, mesmo que transformados, até aos dias de hoje? Qual o seu significado, que importância tiveram ao longo dos diferentes regimes políticos que construíram a história portuguesa e como são entendidos fora da esfera governamental? É a estas perguntas — e a muitas outras — que o livro “Quinas e Castelos: sinais de Portugal” tenta responder. E o Observador faz a pré-publicação de um excerto, que diz respeito à evolução dos símbolos nacionais no século XX, com a República, nas suas diferentes encarnações, como princípio orientador.
O autor de um dos novos títulos da coleção “Retratos”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é Miguel Metelo de Seixas, investigador do Instituto de Estudos Medievais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. É autor de cerca de uma centena de publicações na área da heráldica e da história e é presidente do Instituto Português de Heráldica e diretor da revista “Armas e Troféus”.
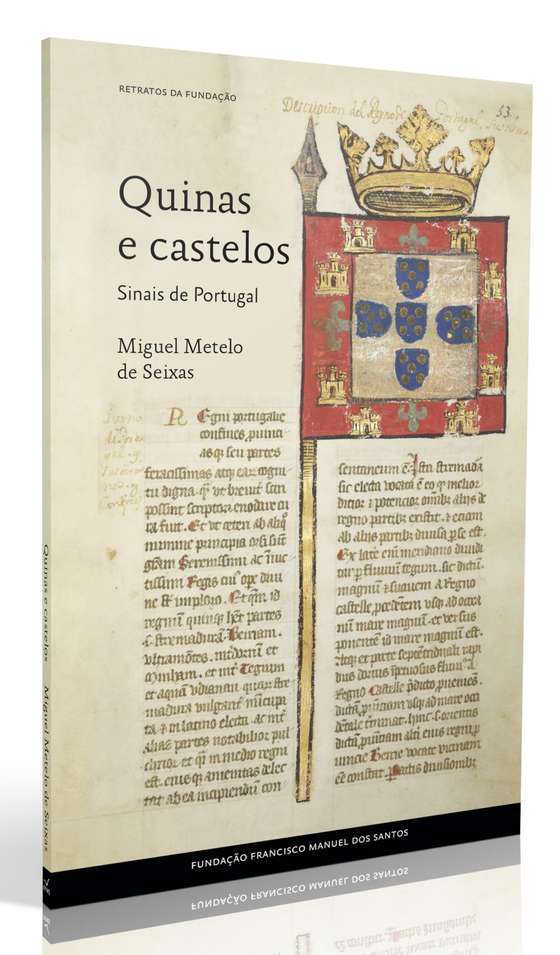
A capa de “Quinas e Castelos: sinais de Portugal”, de Miguel Metelo de Seixas
Ao escolher a esfera armilar para representar essa ideia imperial, a I República fundamentava-se na simbólica consagrada do ultramar português tal como ela, remontando ao reinado de D. Manuel I, se havia consolidado nos séculos seguintes. Mas, além disso, a forma como se conjugou o escudo das armas com a esfera sotoposta colhia precedente nas armas do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, criadas em 1816, decerto abandonadas em 1826, mas que haviam sido retomadas, com essa mesma simbólica ultramarina, pela Sociedade de Geografia de Lisboa, agremiação científica que desempenhara um papel essencial na afirmação da capacidade colonizadora portuguesa durante os últimos decénios da monarquia. Desta forma, a conservação do escudo das armas nacionais assente sobre a esfera armilar transmitia na perfeição a dupla conotação que os republicanos queriam dar de si próprios e do regime que haviam inaugurado em 1910: complementar e inseparavelmente nacionalista e colonialista.
A manutenção das armas nacionais contrapôs-se, de resto, à atitude genérica que a I República adoptou em relação à heráldica. Tida como expressão visual de distinções execráveis, esta foi englobada no rancor desenvolvido contra os títulos nobiliárquicos e as demais formas de exibição de estatutos sociais privilegiados. E, por conseguinte, o seu uso foi objecto de proibição. O princípio ideológico de igualdade dos cidadãos perante a lei, tão propalado pela I República e que levara à abolição de todas as formas de distinção honorífica, teve, contudo, de se adaptar às circunstâncias da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Foi então sentida a necessidade de recriar algumas das distinções entretanto extintas: não apenas as medalhas militares, mas também as antigas ordens honoríficas. Desde então, estas acompanharam a existência da república, ganhando novos estatutos e sendo progressivamente acrescentadas. Deste modo, além das ordens e condecorações recriadas a partir de modelos antigos readaptados (como as medievais ordens de Cristo, Santiago da Espada e Avis ou a oitocentista Torre e Espada), o Estado foi procedendo a criações ex nihilo como a Ordem do Infante D. Henrique, a do Império ou, mais recentemente, a da Liberdade.
A simbólica do Estado incorporou também, a partir de 1910, uma série de representações directamente ligadas à ideia republicana, copiadas sobretudo do modelo fornecido pela III República Francesa. O principal desses emblemas foi o busto da República, inspirado na célebre Marianne francesa. A versão portuguesa coincidia no barrete frígio, sinal de alforria e liberdade desde os tempos da Antiguidade, e na indumentária neoclássica, neste caso adaptada às cores próprias da república portuguesa, ou seja, verde e vermelho. Igualmente se retomou o emblema do feixe de varas atadas de que irrompia um machado, associado na Roma antiga ao desempenho das mais elevadas magistraturas republicanas (uso que remontava aos tempos etruscos, os fasces lictoris eram constituídos na origem por um feixe de varas de bétula branca atados por uma correia vermelha, a que se juntava eventualmente um machado de bronze para assinalar o imperium, poder de vida e de morte outorgado a alguns destes magistrados no exercício de comandos militares). O emblema do feixe de varas constituiu uma referência corrente na I República, durante a qual ocupou lugar de honra na nova moeda nacional, o escudo, sotoposto às armas nacionais, de que o machado formava uma espécie de timbre.
Além da bandeira nacional, o Estado republicano criou ainda uma série de bandeiras complementares destinadas a usos específicos por parte das forças militares, dos navios de guerra e de comércio, da representação do chefe de Estado e, já após o 25 de Abril, da Assembleia da República e das regiões autónomas (Açores e Madeira). Com efeito, logo após a ratificação da escolha da bandeira pela assembleia constituinte de 1911, o Diário do Governo n.º 150, de 30 de Junho desse mesmo ano, instituía um modelo de estandarte regimental e um jaque para os navios, conforme, aliás, os usos e modelos consagrados durante o período monárquico. Mais tarde, em 1930, criou-se um estandarte próprio para o presidente da República, que curiosamente retomava o tipo do pavilhão régio usado sob o regime monárquico: sobre um campo de cor verde uniforme, as armas nacionais (na modalidade adoptada em 1910) envoltas por dois ramos de louro passados em aspa e atados. Este pavilhão destinava-se a assinalar a presença do presidente da República, exactamente como, durante a monarquia, o estandarte real indicava a presença do rei.
O Estado Novo evitou criar sinais demasiado denotativos do seu parentesco ideológico com os demais regimes autoritários da Europa coetânea. O feixe de varas havia sido retomado pela I República como alusão ao poder dos magistrados da república romana; porém, no contexto dos anos 20 e 30, o mesmo sinal havia sido adoptado, em Itália, pelo movimento chefiado por Mussolini, servindo até de inspiração para o seu nome: o termo fascismo provém da designação de fascio, aplicada a esse emblema da Antiguidade. Mas o Estado Novo preferiu romper com tal uso emblemático da I República, que neste novo contexto implicava uma proximidade porventura excessiva em relação ao fascismo italiano. O regime autoritário português, de carácter fortemente nacionalista e, em muitos pontos, tradicionalista, deu clara preferência a emblemas que pudessem inscrever-se numa memória nacional própria, sendo todos eles dotados de uma intensa carga historicista.
Em contraste flagrante com o que se passara na I República, a tendência para as recriações heráldicas marcaria o percurso do Estado Novo desde a sua instituição no decénio de 1930. Aquela limitara voluntariamente a sua expressão heráldica ao escudo das armas nacionais, sobreposto à esfera armilar e por vezes ao feixe de varas. Pelo contrário, o Estado Novo viu na heráldica uma manifestação visual propícia para evocar, com intuitos ideológicos e didácticos, as grandezas pretéritas. Entre os emblemas históricos então recuperados, duas cruzes assumiram particular importância: as das antigas ordens militares de Cristo e de Avis.

As cruzes da Ordem de Cristo e da Ordem de Avis
Ambas as ordens, bem como as respectivas insígnias, haviam sido restauradas na sequência da entrada de Portugal na I Guerra Mundial, como forma de recompensar aqueles que pugnavam pela causa nacional. Mas a cruz da Ordem de Cristo também fora, entretanto, figurada nos aviões portugueses; e, como tal, estivera patente na fuselagem dos três hidroaviões sucessivamente utilizados por Gago Coutinho e Sacadura Cabral durante a primeira travessia aérea do Atlântico Sul em 1922 (significativamente crismados de Lusitânia, Santa Cruz e Pátria), viagem que assumiu um papel de relevo na construção do imaginário colectivo nacional. A seguir, no contexto da ditadura militar instituída em 1926, tal cruz fornecia um meio visual inexcedível para exprimir uma série de conceitos considerados essenciais para a definição do novo regime: a aliança entre o poder militar e a restauração religiosa, mas também a imagem de um Portugal glorioso, triunfante no Ultramar, onde se revelava capaz de erguer e manter um império transcontinental. Não espanta, portanto, que a cruz da Ordem de Cristo tivesse extravasado largamente a identificação da ordem honorífica de que constituía insígnia, para ser tomada progressivamente como símbolo adequado para exprimir os ideais nacionalistas próprios do Estado Novo. Foi essa cruz, aliás, o emblema escolhido pelo movimento do nacional-sindicalismo chefiado por Rolão Preto. Mas, mesmo quando o Estado Novo se quis distanciar desta facção política, não precisou de repelir o respectivo emblema: este já havia tomado um cunho absolutamente nacional. Pela sua conotação histórica com o exercício do poder nos domínios coloniais, a cruz da Ordem de Cristo acabou por assumir particular relevo na simbólica que o Estado Novo viria a determinar para as províncias ultramarinas.
A recuperação da cruz da Ordem de Avis conheceu um percurso igualmente interessante. A Cruzada Nacional Nun’Álvares Pereira, um dos movimentos que esteve na base da constituição ideológica do Estado Novo, recuperou como emblema a bandeira do Condestável (com base na descrição minuciosa que dela fez o cronista Fernão Lopes) e trouxe também de regresso a cruz da Ordem de Avis. A escolha não era gratuita: pretendia-se reatar com um passado ilustre em que Portugal, no rescaldo da vitória alcançada pelo condestável em Aljubarrota, se lançara na construção do primeiro império ultramarino europeu. A hora era de afirmação simultaneamente patriótica e religiosa, para a qual a cruz da Ordem de Avis parecia particularmente talhada no contexto de enaltecimento da dinastia de Avis como “época de ouro” da história portuguesa. Não surpreende, portanto, que tal cruz tenha conhecido aplicações diversificadas. Foi atribuída como símbolo próprio à Legião Portuguesa, cuja bandeira, de fundo branco, era carregada com a cruz verde de Avis e bordadura da mesma cor. Quando se tratou de dotar a Mocidade Portuguesa de um emblema próprio, entendeu-se que poderia ser retomado para esse efeito o escudo de armas reais na modalidade usada pelos primeiros reis da Casa de Avis, isto é, com as pontas dessa cruz incorporadas na bordadura. O emblema da Mocidade apresentava-se em duas modalidades conforme o sexo dos utentes: os de sexo masculino traziam um escudo de ponta redonda (formato que passou a ser designado, na época, como nacional), ao passo que os de sexo feminino usavam um escudo em losango (formato que, desde o século xv, era exclusivo das mulheres).
Na literatura, o ponto culminante desta utilização cívica e historicista da heráldica nacional reside sem dúvida na Mensagem, de Fernando Pessoa. Trata-se de um livro que se apresenta como súmula poética da história de Portugal por via da invocação dos seus heróis. Até aí, nada de novo: essa era uma fórmula recorrente desde os tempos do romantismo oitocentista. O que há de inovador na obra de Pessoa é que a primeira parte deste livro está organizada em forma de brasão: o autor identifica cada personagem com uma parte das armas portuguesas (campo, figuras, coroa, timbre), realizando assim a fusão entre emblemática e mitografia nacional.
Tal ímpeto de recriação heráldica teve também expressão no campo artístico. Ao contrário do que sucedera com a I República, o Estado Novo enveredou pelo caminho de ruptura com os padrões estéticos revivalistas do século xix. O movimento modernista propiciou uma linguagem artística nova, capaz de transmitir a imagem de um Portugal decerto assente na tradição, mas aberto a um futuro simultaneamente inovador e fundamentado. A arte heráldica conheceu, em consequência, uma alteração profunda. Até então, ela havia-se norteado por padrões revivalistas que deixavam fraca margem para o espírito criativo e que se revelavam cada vez mais desadequados face ao quadro cultural, social e político da sociedade portuguesa do século xx. O Estado Novo incentivou uma reinterpretação das armas e dos outros emblemas nacionais segundo padrões estéticos modernistas, tratando de estudar a fundo as suas proporções, simplificá-los, despojando-os de elementos supérfluos. Este despojamento destinava-se a dotar tais emblemas de uma expressão plástica consentânea com o vigor nacionalista que eles deviam a um tempo exprimir e acicatar.
Tal esforço, patente ao longo do decénio de 1930, viu-se consagrado pela Exposição do Mundo Português em 1940, associada às comemorações do duplo centenário da independência (1140) e da Restauração (1640). Para a ocasião, foi também recuperado um outro emblema: a bandeira branca com uma cruz azul, conotada com o conde D. Henrique, pai do primeiro rei, e crismada de “bandeira da fundação”. Esta atribuição baseava-se em trabalhos de diversos eruditos dos séculos xvii e xviii, sem que fosse possível aduzir provas concludentes sobre o seu uso concreto por D. Henrique ou por seu filho D. Afonso I. Certo é que nunca tal cruz fora efectivamente usada na emblemática do Estado; a sua recuperação no âmbito da Exposição de 1940 enquadrava-se numa estratégia propagandística para reforçar a antiguidade da formação da independência portuguesa, em associação, mais uma vez, com o ideário religioso.

▲ O Padrão dos Descobrimentos, construído a propósito da exposição do Mundo Português de 1940
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
[…]
Nesse ímpeto renovador e uniformizador, a heráldica ultramarina foi objecto de atenção especial. Foi criado um programa comum para todas as províncias ultramarinas, que conjugavam nos seus escudos dois elementos fixos e idênticos — as quinas e um ondado, traduzindo visualmente o conceito de nação portuguesa cujas diversas parcelas eram unidas pelo mar — e um elemento próprio a cada uma delas, que expressava a especificidade de cada província; o escudo assentava sobre uma esfera armilar e era encimado por uma coroa mural ornada alternadamente com cruzes da Ordem de Cristo e esferas armilares. A nível concelhio, foi realizado um esforço para dotar os municípios ultramarinos de armas igualmente próximas das dos seus congéneres metropolitanos, completando-as, contudo, com ocasionais elementos “exóticos”. Esta heráldica coerente e unificada visava exprimir a ideia de unidade na diversidade, traduzindo visualmente o conceito de “nação multirracial e pluricontinental”. O heraldista Almeida Langhans dedicou igualmente a estes emblemas um monumental Armorial do Ultramar Português, cuja publicação, iniciada também em 1966, ficaria incompleta. Para as próprias armas nacionais, este autor criou uma versão “imperial”, em que o escudo era completado por uma série de elementos externos alusivos às diferentes províncias ultramarinas. Tal composição erudita não chegou a ser oficialmente utilizada pelo Estado.
Deste modo, o conjunto de emblemas usados pelo Estado Novo caracterizou-se pelo seu cunho predominantemente historicista, caldeado por uma nova interpretação estética e gráfica. Quando se deu a queda do regime em 1974, as armas e a bandeira nacionais puderam manter-se sem alterações. Apenas a restante emblemática, mais directamente conotada com uma dimensão ideológica ou com instituições entretanto extintas, foi alvo de abandono, tal como aconteceu com a versão das armas de Avis ou a cruz desta Ordem, sinais respectivamente da Mocidade e da Legião Portuguesa. A cruz da Ordem de Cristo como símbolo nacional conheceu também alguma redução no seu uso, por se encontrar mais ligada à expressão da dimensão ultramarina. Mas claro que estas antigas cruzes nunca deixaram de ser usadas, até porque continuaram a constituir-se como insígnias das respectivas ordens honoríficas.
Quanto às armas e à bandeira nacionais, a III República não tinha qualquer razão para as abandonar ou sequer para as modificar. O carácter nacional atribuído a tais emblemas revelou-se, neste novo momento revolucionário, tão eficaz para a sua conservação quanto havia sido após a revolução republicana de 1910 (apenas para as armas) ou no período da ditadura militar e do subsequente Estado Novo (para as armas e a bandeira verde e vermelha). Ter-se-á sentido, porventura, algum incómodo ocasional em manter incólume um emblema de que o anterior regime havia feito um uso tão generalizado, e tão intimamente associado ao espírito nacionalista.
[…]
A III República entendeu, portanto, manter a bandeira nacional na sua integralidade. Alguns dos elementos que a compunham poderiam, contudo, gerar controvérsia: o anterior regime reiterara a mensagem religiosa presente nas quinas, assim como reforçara a mensagem ultramarina contida na esfera armilar. No primeiro caso, operou-se uma curiosa transferência para uma espécie de teleologia laica: a carga profética inerente à explicação das quinas desde a Idade Média logrou manter-se sem a sua componente religiosa, trasladando-se para uma esfera cívica de cumprimento do destino histórico e mítico de Portugal (a qual assumiu até, no rescaldo de 1974, uma dimensão propriamente revolucionária). Quanto à esfera armilar, forçosamente desligada da sua conotação imperial depois da independência das antigas colónias, nem por isso abandonou a sua ligação à dimensão ultramarina. Simplesmente, esvaziada da sua carga colonialista, passou a associar-se de forma mais abstracta à universalidade portuguesa. Isso explica porque ela pôde depois transitar sem problemas para o emblema criado para definir visualmente a Lusofonia.
Em contrapartida, a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1986, veio levantar algumas questões acerca da simbólica nacional. Não porque esta se visse de algum modo contestada, mas porque passou a ter de se articular com os símbolos da Comunidade Económica Europeia, depois União Europeia. Esta era representada pela bandeira azul com o círculo de doze estrelas de ouro, inicialmente escolhida em 1955 como símbolo do Conselho da Europa. Contrariamente a uma opinião bastante difundida, estas estrelas nunca corresponderam ao número de Estados-membros: foram sempre doze, por razões simbólicas. Ora, a Comunidade constituía uma entidade supranacional na qual Portugal tinha passado a integrar-se; foi necessário, por isso, criar regras para a exibição conjunta das bandeiras de Portugal e da Europa. Longe de serem meramente protocolares, tais regras ligavam-se a importantes questões de soberania, que lhes estavam subjacentes.

▲ As bandeiras de Portugal e da União Europeia
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Tais questões vieram a lume, por exemplo, quando da criação da moeda única europeia. A adesão de Portugal ao euro implicou a extinção da moeda nacional, o escudo: desapareceu assim um dos mais antigos veículos materiais de expressão da soberania portuguesa e suporte costumado para a emblemática nacional. As moedas metálicas de euro em circulação a partir de 2002 exibem uma face comum (com três tipos, contendo todos o valor facial, o mapa dos países membros da União Económica e Aduaneira e as doze estrelas) e uma face nacional. No caso português, esta escalona-se igualmente em três tipos, para cada um dos quais foi escolhida uma variante diferente do sinal rodado utilizado por D. Afonso Henriques para autenticação dos documentos emanados da sua chancelaria; esse sinal rodado é rodeado em orla pelas cinco quinas e sete castelos das armas nacionais (com a palavra “Portugal” e a data de emissão intercaladas); no lado externo deste círculo, a cada um destes sinais (quinas e castelos) justapõe-se uma estrela, formando-se assim uma segunda orla de doze estrelas. As escolhas operadas para a face nacional revelam-se significativas. Antes de mais, pela dimensão historicista desta auto-representação, baseada nos sinais rodados usados para autenticação pelo fundador do reino. Em segundo lugar, pelo recurso à heráldica nacional numa versão desconstruída: as quinas e os castelos aparecem desligados de qualquer escudo, fora da sua posição ou ordem habitual, de modo a proporcionar uma coincidência numérica e visual: a soma das cinco quinas e sete castelos de Portugal perfazendo as doze estrelas europeias.
[…]
Mas, fora da esfera normativa, os símbolos nacionais foram sendo sempre apropriados, de formas diversificadas, por uma grande quantidade de instituições e de particulares. Foi o caso, antes de mais, da emblemática associativa, que encontrou nas armas nacionais um meio evidente para exprimir a sua condição portuguesa. O exemplo mais notório, pela amplitude da sua divulgação, é o do futebol: a Federação Portuguesa de Futebol adoptou um escudo com as armas nacionais, que apenas se diferenciava do da República pelo seu formato (que retomava um modelo setecentista), pela simplificação da bordadura (com omissão dos castelos e a inserção da sigla FPF em chefe) e pelos seus elementos exteriores, naquele caso limitados a uma cruz da Ordem de Cristo sotoposta ao escudo. De igual modo, o equipamento da Selecção Nacional foi, ao longo dos tempos, apostando em variações da bicromia vermelho/verde (por vezes completada, curiosamente, por um equipamento alternativo azul e branco). Mais recentemente, a mesma Federação criou um prémio significativamente crismado “Quinas de Ouro”.
[…]
Outros logótipos, por fim, fundem a heráldica tradicional com as cores republicanas, em composições mais ou menos arrojadas: assim sucede, por exemplo, com os emblemas da Federação de Ginástica de Portugal, da Federação Portuguesa de Atletismo e da Federação de Andebol de Portugal. Fora do âmbito desportivo, outros tipos de associativismo evidenciam comportamentos semelhantes: veja-se, por exemplo, a Federação Portuguesa de Campismo, com o escudo nacional sobreposto a uma tenda.
Este uso desempoado dos símbolos nacionais encontra-se também na heráldica comercial. É o caso, em primeiro lugar, de algumas empresas que pretendem assim vincar a antiguidade da sua instituição: a Real Companhia Velha ostenta uma versão das armas reais com coroa fechada, terrado, suportes e divisa, como forma de lembrar a sua fundação setecentista e a sua condição privilegiada como empresa vinhateira. Outras firmas viram no recurso às quinas um meio para exprimir o carácter “nacional” da sua implantação, quando não do seu espírito. Assim, a Sociedade Nacional de Fósforos marcou as suas caixas com a designação “Quinas”, que se mantém em uso hoje em dia, sendo completada por uma representação muito estilizada das quinas, reduzidas a cinco escudetes de vermelho postos em cruz, encimados por três palas que produzem o efeito visual de fósforos acesos. Estas mesmas liberdades estilísticas podem ser encontradas numa marca como a da cerveja Sagres, que apostou desde muito cedo numa imagem “nacional”: o seu logótipo inicial consistia numa representação simplificada do escudo com as quinas, tudo a traço vermelho; depois, este traço cheio foi mudado num traço duplo dourado e vermelho a fazer o contorno do escudo, enquanto as quinas se viam preenchidas a verde (as quatro laterais) e vermelho (a do centro), proporcionando assim uma “republicanização” da própria heráldica nacional, por via da fusão entre as armas históricas e as cores republicanas.

















