Milton Hatoum tinha 48 anos quando publicou Dois Irmãos. Antes, tinha publicado apenas um único romance, Relato de um certo Oriente, pelo qual lhe tinha sido atribuído o Prémio Jabuti, o mais importante galardão literário brasileiro, na categoria de “Melhor Romance”. Entre um e outro passaram 11 anos, uma pequena eternidade durante a qual muita coisa mudou na vida do escritor. Além de lhe ter valido o segundo Prémio Jabuti e de se ter tornado no seu livro mais lido, Dois Irmãos marcou um ponto de viragem para o autor que, pouco antes da sua publicação, decidiu deixar uma vida inteira para trás — Manaus, o emprego como professor de francês — para se dedicar à escrita. Dois Irmãos não é, por isso, um livro qualquer: “Esses irmãos foram importantíssimos na minha vida”.
Esses dois irmãos não são também irmãos quaisquer. Apesar de fisicamente idênticos, Yaqub e Omar não podiam ser mais diferentes — um, mais introspetivo, prefere a companhia dos livros, enquanto o outro, impulsivo, prefere passar as noites a percorrer todos os bares de Manaus. A história do seu conflito é a história de uma família despedaçada, cuja ruína, financeira mas sobretudo emocional, parece inevitável desde a primeira página. Mas há ainda Nael, filho da empregada índia, e tantos outros que ajudam a construir um retrato social do Brasil do início do século XX, que não é muito diferente do Brasil de agora. Porque, como diz Milton Hatoum, os “problemas estruturais” já lá estavam muito antes disso. Até Machado de Assis falou neles.
Publicado em 2000, o segundo romance de Milton Hatoum só chegou agora a Portugal pela Companhia das Letras, mais ou menos na mesma altura que chega ao Brasil A Noite da Espera, romance inaugural da trilogia “O Lugar Mais Sombrio”, onde o drama familiar de Martim se cruza com a história da ditadura militar brasileira, a que o escritor volta sempre. A capa, de um amarelo vivo, mostra um pormenor de um quadro feito por um jovem pintor brasileiro chamado Guilherme Ginane. A pintura foi feita a pedido do editor de Hatoum no Brasil com base na história de A Noite da Espera. “Tinha por coincidência um quadro dele na minha casa e aí ele fez a pintura e gostei muito.” O editor, generoso, decidiu oferecer-lhe o quadro, que agora tem em sua casa. “É um quadro muito bonito.”
Apesar de A Noite da Espera ser a novidade, foi sobre Dois Irmãos que Milton Hatoum falou durante a sua passagem por Portugal (primeiro pela Casa da América Latina, em Lisboa, e depois por Óbidos, onde participou no festival literário FOLIO, que decorreu entre os dias 19 e 29 de outubro). Com o Observador, antes da apresentação em Lisboa, a 26 de outubro, falou ainda sobre a situação complicada que se vive no Brasil e sobre o papel fundamental da literatura na formação de cada um. Porque os livros são a melhor coisa do mundo.
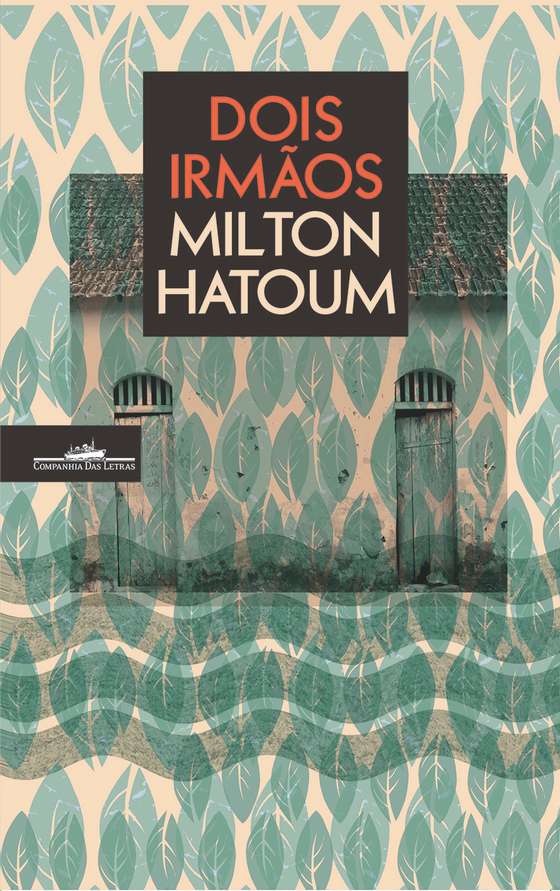
Dois Irmãos, o segundo romance do brasileiro Milton Hatoum, saiu em Portugal em setembro, pela Companhia das Letras. A primeira edição brasileira é de 2000
Queria começar por falar de Dois Irmãos, livro que o trouxe agora a Portugal. Foi publicado 11 anos depois de Relato de um certo Oriente, o seu primeiro romance. Sei que escreveu outras coisas pelo meio, mas foi o livro que demorou mais tempo a terminar. Porquê?
Entre 1989, quando saiu Relato de um certo Oriente, e 2000, escrevi um romance muito longo que terminei em 1994. Se chamava Um Rio Entre Dois Mundos e não foi publicado. Achei que era longo de mais — excessivamente longo — e, naquele momento, não sei por que razão, não o quis publicar. Você sabe, às vezes a nossa vida é um mistério. A ideia dos Dois Irmãos começou a se desenvolver, fiz um esboço e comecei a armar o livro na minha cabeça. Porque só começo a escrever quando a forma da narrativa está muito clara. Mas, antes disso, tive de tomar algumas decisões que foram importantes na minha vida. Saí de Manaus em 1998 e fui para São Paulo para terminar um doutoramento. Era professor de francês na universidade [Federal do Amazonas] e, no fim, acabei por abandonar o doutoramento, a universidade onde tinha um emprego estável num país muito instável que é o Brasil. Houve uma rutura na minha vida. Tinha-me separado, me casei com uma paulista, não tinha filhos, tive dois… Passei três anos a escrever o livro. Ele surgiu depois de muita reflexão sobre o Brasil, a Amazónia, a sociedade brasileira, a literatura brasileira e estrangeira. Queria me dedicar integralmente à literatura e Dois Irmãos acabou por ser a minha alforria, vamos dizer assim. Já tinha largado a universidade e não queria voltar a viver em Manaus.
Foi um livro que mudou a sua vida?
Sim, mudou a minha vida. Mudou profundamente a minha vida — a minha vida íntima, familiar, a minha profissão. Esses irmãos foram importantíssimos na minha vida. E é uma história que tem uma relação forte com um clássico brasileiro, que é o Esaú e Jacó, de Machado de Assis que, infelizmente, é um romance quase à margem. É um grande romance machadiano, que não é menos importante do que Dom Casmurro. É a história de dois irmãos gémeos apaixonados pela mesma mulher, Flora, que têm destinos diferentes, percursos de vida diferentes. Um se torna republicano e o outro monarquista mas, do ponto de vista da política e da sociedade brasileira, é mais ou menos a mesma coisa [risos]. Porque os problemas estruturais de base continuam os mesmos. Isso faz parte da visão muito pessimista de Machado em relação à sociedade brasileira. Machado era o menos otimista — ou melhor, era o mais pessimista dos escritores! E peguei nesses gémeos machadianos, Pedro e Paulo, para pensar também no Brasil e na relação da Amazónia, tão falada mas tão desconhecida, que ocupa praticamente metade do território nacional, com o sudeste, mais industrializado, mais “desenvolvido”. A relação com o Brasil do norte, cuja imagem é a de um Brasil primitivo, da floresta, misterioso, de todos os clichés.
E também mais emocional? No seu livro, Yaqub troca Manaus, a Amazónia, por São Paulo para se tornar engenheiro. São Paulo é, no seu romance, um lugar mais desenvolvido, mais racional, ao contrário de Manaus e das pessoas demasiado emotivas que lá vivem.
Sim. Tal como nos meus outros romances, em Dois Irmãos também há um drama familiar, só que está profundamente vinculado com a decadência da cidade. Tentei unir essa loucura familiar com a destruição de Manaus e, ao mesmo tempo, fazer uma ligação com o Brasil, tendo como pano de fundo o quadro económico e político do país. É um romance ambicioso desse ponto de vista — parte da célula familiar, uma das bases do romance, para chegar à cidade, ao país. São destinos, percursos de vida muito diferentes. O Yaqub opta pela estabilidade, pela ambição, e o outro se perde…
Ou já nasceu perdido?
Sim, já nasceu perdido. E depois há a loucura da mãe, a escolha, o desequilíbrio. Quando você escolhe um filho, está fazendo uma opção que não é racional. É uma coisa muito passional com consequências que podem ser graves. E na literatura as consequências têm de ser graves, não podem ser modestas. As ruturas são violentas.
Não se pode fazer literatura de outra forma?
Do jeito que vejo, não. A literatura não é para pacificar, é para interrogar e questionar. A literatura não pode dar explicações nem nos tornar passivos.
Mas pode ajudar-nos a compreender.
Isso sim. Por isso é que ela questiona e interroga. Essa compreensão é o mais importante — a compreensão do mundo e de nós próprios. O romance junta também elementos e pessoas que são formadoras da sociedade brasileira, como os emigrantes, que neste caso são os libaneses. Não se sabe ao certo quantos brasileiros têm origem síria e libanesa, mas é com certeza um número alto. Talvez entre dez a 12 milhões. E depois os índios — a mãe do narrador –, que conheci na minha infância em Manaus.
Era comum que as empregadas fossem índias, tal como Domingas, a mãe do narrador?
Sim, era comum. E algumas nem falavam português.
E também era levadas de orfanatos para as casas dos futuros patrões?
Sim. Na minha infância e juventude, antes de mudar para Brasília, convivi, na minha própria casa e na casa dos vizinhos, com mulheres, empregadas domésticas, que não recebiam salário. Algumas não falavam português, ou então falavam muito mal. Falavam um dialeto chamado nheengatu. As missões, com as melhores das intenções, tentavam formar, dar escolaridade a estas mulheres que, depois, eram empregadas nas cidades, sobretudo em Manaus. Conheci isso de perto. Ainda existem algumas regiões — no interior da Amazónia, no nordeste — onde há pessoas que moram com as famílias, trabalham e em troca recebem comida e um teto para dormir.

▲ Milton Hatoum nasceu em 1952, em Manaus, na Amazónia, terra que serve de pano de fundo a muitos dos seus romances
ANDRÉ CARRILHO/OBSERVADOR
Portanto, em alguns aspetos, o Brasil não mudou assim tanto.
Não, não mudou muito. Há muita miséria no Brasil. Há milhões de miseráveis. Houve um período, entre o governo de Fernando Henrique [Cardoso, presidente de 1995 a 2003] e o de Lula [presidente de 2003 a 2011], em que houve uma inserção social grande, mas as vidas das pessoas não mudaram muito do ponto de vista da escolaridade, da saúde, da moradia. Houve mais consumo, mas sem cidadania. O romance trabalha com esses elementos da sociedade brasileira. Tem também elementos do romance de formação, porque trata da formação do narrador, da passagem da ingenuidade à vida adulta.
Apesar de também ter uma história algo trágica, Nael acaba por ser o único capaz de construir um futuro. Foi por isso que o escolheu para narrador?
Escolhi-o por questões culturais, sociais e antropológicas. De um modo geral, a literatura é narrada por uma visão que vem de cima, da elite ou do patriarca, e quis inverter isso. Quis que esta história fosse narrada, como você acentuou, pelo sobrevivente, pelo único que se salva da tragédia familiar. E também para dar voz ao filho que não conhece o nome do pai.
Isso é uma dúvida que permanece até ao fim.
Mas eu também fiquei na dúvida!
Não conseguiu escolher entre Yaqub e Omar?
Não. Desde o primeiro esboço que fiquei convicto que, se decidisse, se tivesse alguma inclinação por um deles, iria acabar por revelá-lo ao leitor. Então preferi não conhecer o pai. Isso deu problemas em algumas escolas e cursos. O livro foi leitura obrigatória em vários estados e, na Universidade Federal de Santa Catarina, no sul, houve uma professora que me mandou uma mensagem a pedir que explicasse quem é que era o pai porque ela queria provar a quem fez o exame de entrada na universidade que estava certa. Ela queria me meter num imbróglio jurídico [risos]! Eu disse: “Não sei disso, não sei quem é o pai”. Mas a questão não é saber quem é o pai — a questão é igual a da Capitu do Dom Casmurro de Machado de Assis. Será que Capitu traiu Bentinho com o amigo dele? E de quem é que é o filho? A resposta não é se traiu ou não — é que pode ter traído. O pai pode ser ou não ser outra pessoa. Essa é a perspetiva da literatura — o pode ser.
No que diz respeito a Nael, isso significa que ele é livre de construir a sua própria identidade. É ele que escolhe o pai que quer ter. Só que, na verdade, ele não sabe se é Yaqub ou Omar.
Não, ele não sabe. E, no fim do livro, esse drama moral já não é tão importante porque ele se afasta do dois e, na solidão, naquela casinha, ele torna-se no porta-voz dessa memória familiar. Ele, que não pertence à família. Quer dizer, pertence e não pertence — é ambígua a posição dele. Mas é ele que constrói essas identidades e essas relações graças à sua memória e ao facto de ter estudado, que é um atributo. Isso foi graças ao Halim, ao avô. Halim em árabe quer dizer “generoso”. Mas também pode ser “poeta” ou” médico”. É ele que faz com que Nael estude e se torne professor. Nesse sentido, o romance é otimista, porque a salvação dele passa pelo estudo. Que é no que eu acredito — na escola, pública.
Na formação.
Sim. A formação é a saída. Até para evitar os extremismos. Estamos a viver no Brasil um choque ideológico bruto que não vai levar a lado nenhum, só à violência. Um pouco de formação, de escolaridade, permite refletir sobre o passado e o presente e renunciar, logo à partida, a qualquer violência verbal. O que faz falta — ao povo, às pessoas, à classe média, a todos — é uma formação que convide à reflexão e não ao confronto.
Acredita que se houvesse uma melhor formação que as coisas seriam diferentes?
Não tenho dúvida. Há ondas de preconceito, violência, agressão verbal. Não acredito que essas pessoas tenham lido alguma coisa na vida. Se receberam formação, foi muito precária, muito frágil e muito dirigida, porque a nossa humanidade está acima das ideologias. É isso que é importante. Não nos podemos guiar por uma perspetiva maquiavélica do bem e do mal. Maquiavel pode ensinar como se exerce o poder, mas a reflexão e a compreensão dos outros é adquirida através de um conhecimento profundo da história do país e da literatura. Porque, para mim, a literatura não é um exercício totalmente gratuito. É uma forma de conhecimento, de reflexão, de indagação sobre nós próprios e sobre a realidade. Vejo no Brasil uma espécie de tiroteio verbal que não vai levar a lado nenhum.
Mas porque é que existe essa falha na educação? Porque muitos brasileiros não têm acesso a ela? Ou porque existe uma mentalidade conservadora e uma desvalorização do papel do ensino, da aprendizagem?
Isso tudo ao mesmo tempo. Estamos vivendo as consequências nefastas e sombrias de mais de 20 anos de ditadura, de silêncio, de repressão, de falta de prática política, de proibição da prática política, do debate. E, sobretudo, da desconstrução da escola pública, universal, de qualidade, que era um projeto do governo antes do golpe de 64.
Que ninguém tentou retomar?
Não. Houve uma tentativa no segundo governo do Lula, quando o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo e ministro da Educação, implementou políticas públicas que começaram a transformar o sistema educacional brasileiro. Criou políticas de inclusão social nas universidades… Tudo isso foi importante, mas foi interrompido. Está a ser interrompido ou diminuído pelo governo de [Michel] Temer.
Considera que tem havido um retrocesso nessa questão?
Houve um retrocesso enorme nessas políticas de inclusão social. Houve uma diminuição ou uma interrupção em alguns casos. A minha geração foi uma espécie de elo perdido entre a promessa de uma educação pública de qualidade e a sua desconstrução. Estudei na escola pública e foi lá que li os clássicos brasileiros e estrangeiros. Fiz uma formação, no mínimo, razoável. Mas isso não vingou. Os professores começaram a ganhar um salário muito baixo. É vergonhoso quanto ganha um professor de liceu, da escola primária. Ganham menos de 500 euros na escola pública, os particulares ganham mais. Esse período da ditadura foi um período de enorme regressão, de retrocesso mesmo. O romance trata de algumas dessas questões.
A ditadura militar é, aliás, um dos temas em que toca e que faz parte do tal pano de fundo.
O assassinato do professor de francês [Laval].
Sobretudo nessa cena. É um tema a que volta com frequência. É por isso? Porque considera que é fundamental para entender o que se passa hoje no Brasil?
Sim, acho que sim. E acho que muitos estão a ler o romance assim. Ele foi muito trabalhado nas escolas e universidades. É o meu romance mais lido. Nesse novo, A Noite da Espera, também [volto a esse tema], mas de forma mais direta porque esse grupo de jovens [os protagonistas] está vivendo esse momento em Brasília. No Dois Irmãos e no Cinzas do Norte [2005], o quadro histórico é apenas um pano de fundo, não é o assunto principal. Mas em todos eles o que prevalece é o romance de aprendizagem, de formação, que é um género universal que foi inventado pelos alemães, por Goethe, e explorado pela literatura do século XIX. O Brasil, por ser um país ainda tão jovem, ainda está se formando. O Brasil é o romance da desilusão [risos]. É um grande romance da desilusão.
E acha que algum dia vai deixar de o ser?
Não.
Então também é um pessimista como Machado de Assis.
Sou totalmente machadiano na forma como olho em perspetiva para o Brasil. A sociedade, como um todo, não foi formada do ponto de vista da educação e isso cria uma massa de brasileiros muito ignorante e que pode eleger, por exemplo, um fascista. Temos um candidato abertamente fascista, [Jari] Bolsonaro, um ex-capitão do exército e deputado. No impeachment, elogiou a tortura e, inclusive, aquele que comandou a tortura da Presidente Dilma. Já disse a uma deputada, a uma mulher, que ela só não merecia ser violada porque era feia. Esse senhor é candidato à Presidência. E quem é que ele está manipulando? Uma massa de brasileiros muito ignorantes, preconceituosos, malformados. Deformados, do ponto de vista político. E este é o extremismo mais perigoso. A questão hoje não é a direita, a esquerda ou o centro — a questão hoje é como os extremismos estão a dominar a política. Por exemplo, [Emmanuel] Macron pode ser um liberal de centro-direita, mas com uma visão humanista, que é o que falta a este senhor e a muitos senhores. Bolsonaro nunca terá uma visão humanista. Ele é um fascista convicto e nós aceitamos isso. E isso é que é perigoso — a sociedade e a justiça aceitarem isso e não o punirem por estar a promover o ódio e a violência. A democracia não pode dar espaço à violência, é uma contradição.
Por falar em contradição: falámos há pouco de Zana, a mãe. Apesar de ser a principal causadora da tragédia que se abate sobre a família, é também a última a acreditar que tudo se vai resolver. Antes de morrer, pergunta se os filhos já fizeram as pazes.
Como é contraditória a alma humana! Não se consegue racionalizar tudo. O momento mais difícil da nossa vida é o momento de desequilíbrio, e a paixão é um desequilíbrio. Desde os gregos — eles consideravam a paixão uma alteração do equilíbrio. No caso dela, essa relação passional com o filho leva a toda esta tragédia. E depois há também a relação incestuosa de Rânia com os irmãos [Yaqub e Omar] e com o sobrinho, o narrador. É tudo fora do lugar, fora dos eixos. Zana faz essa escolha e, no fim, tenta contornar o mal que fez, mas já não é possível. As coisas vão-se complicando até que não dá mais para desenredar.
A tragédia era inevitável.
Exato. O romance tem um lado um pouco grego, da tragédia grega. Alguns leitores, professores e críticos leram o romance como se fosse uma metáfora dessa falta de diálogo que existe entre os brasileiros, dessa impossibilidade de conversar entre si, desses dois Brasis diferentes e irremediavelmente opositores. Dois irmãos irreconciliáveis.

▲ Apesar de ser licenciado em arquitetura, Milton Hatoum dedicou grande parte da sua vida à literatura. Publicou o primeiro romance, "Relato de um certo Oriente", em 1989
ANDRÉ CARRILHO/OBSERVADOR
E concorda com essas leituras?
Claro! Acho que é isso. Quando um paulista ou um sulista, que não tem de ser da elite, fala de um nordestino como alguém que é preguiçoso, que não quer trabalhar, isso significa que não entendeu esse nordestino porque foi ele que construiu os prédios dos baianos, dos pernambucanos. Também foram os emigrantes pobres, miseráveis, que foram para São Paulo que construíram a cidade desde os anos 40 até hoje. Foram os irmãos que nós não queremos compreender porque os consideramos inferiores por causa da cor da pele, porque são negros ou mulatos. É o preconceito em relação ao outro, mas a um outro que nem é estrangeiro, é brasileiro. Como diria Mário de Andrade, que escreveu um poema sobre o seringueiro da Amazónia, “esse homem é brasileiro que nem eu”. Eu, Mário de Andrade, paulista.
É por isso que fala tanto de Manaus nos seus livros? Para dar a conhecer esse Brasil que tantos brasileiros desconhecem?
Isso não foi um objetivo, porque isso está na minha vida. Manaus, a Amazónia, está na minha infância.
Faz parte de si.
Exatamente. Faz parte constitutiva de mim, do meu eu, do meu modo de ser. Mas a sua pergunta é interessante porque muitos jovens do sul, de outras regiões, que leram [os meus livros] foram conhecer Manaus e Belém depois da leitura.
Porque muitos brasileiros do sul não conhecem o norte do país, e vice-versa.
É muito longe, é como ir de Paris para Moscovo. De Porto Alegre para Manaus são quatro mil quilómetros. Você atravessa toda a Europa! Os portugueses foram muito gulosos. Lembro que conheci o nordeste na época em que era estudante e andava de mochila às costas, mas primeiro conheci-o através da literatura de Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Não havia televisão em Manaus, não havia nada, então as únicas vias de acesso eram as fotografias e a literatura. Quando li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou Capitães da Areia, de Jorge Amado, para mim foi uma descoberta. A minha professora da escola pública, o Colégio Dom Pedro II, era apaixonada por esses autores. Depois,quando entrei na universidade, fui conhecer estas cidades e o sertão. A literatura me levou a esses lugares. O mesmo está a acontecer com os meus romances, de uma forma muito mais modesta. Não me quero comparar, nem de longe, com estes autores! É um mundo muito longe, muito distante deles [leitores]. É impressionante isso. E depois há essa incompreensão, que a literatura, eu acho, transforma em compreensão às vezes através de uma leitura que é envolvente.
Os livros são a melhor coisa do mundo?
Eu acho. E o amor pela palavra, como disse o [Jorge Luis] Borges, é um mistério!
Dois Irmãos foi recentemente adaptado à televisão. A minissérie, produzida pela Globo, estreou no início do ano, mas o projeto era muito mais antigo.
Tinha oito anos. E a audiência foi impressionante! Ninguém esperava que alcançasse 22 pontos de audiência no horário das dez e meia da noite. Fiquei muito emocionado com o resultado. O roteiro é muito bom porque é fiel à narrativa mas também acrescenta muitas coisas.
E teve um elenco de luxo. Entraram atores como Antônio Fagundes, Cauã Reymond ou Juliana Paes.
Sim e a direção também é maravilhosa. O Luiz Fernando Carvalho é um dos grandes diretores brasileiros. Dirigiu a adaptação de Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, e novelas importantes. A linguagem dele é muito inovadora. Não é aquele pastelão, aquele soap opera previsível. Ele trabalha com uma linguagem muito criativa e pensa em tudo — nos figurinos, na luz, em cada detalhe. É impressionante.
Esteve envolvido de alguma forma? Na produção do guião, por exemplo?
Não. Eu li-o mas não me envolvi. Deixei a roteirista, a Maria Camargo, fazer o trabalho dela.
E este mês saiu no Brasil o seu novo romance, A Noite da Espera, de que já falou há pouco.
É um romance de formação sobre um grupo de jovens em Brasília, no final dos anos 60, um período muito bruto, muito violento da ditadura. Mas é um romance sobre jovens sonhadores que percorrem caminhos de vida diferentes durante essa passagem da ingenuidade para a fase adulta, num país sombrio. Por isso é que chamei à trilogia “O Lugar Mais Sombrio”.
A Noite da Espera é o primeiro volume desta trilogia, que é uma coisa nova para si. Porque é que decidiu distribuir a história por três livros?
Era muita coisa para narrar e não podia publicar 800 páginas num volume só. Era pesado de mais, em todos os sentidos. Na verdade, eles podem ser lidos independentemente um do outro, têm uma certa autonomia. Quem lê o segundo ou o terceiro, em rigor não precisa de ler o primeiro. Melhor é mesmo ler os três pela ordem certa, mas eles não têm uma sequência muito clara. Agora, é um romance que trabalha com fragmentos. Foi a forma que encontrei [para escrever a história] — através de fragmentos, anotações, cartas. E depois há o drama moral do narrador, que é a separação da mãe. O grande tema do romance não é a política. Não é um romance político.
Mas é inevitável que fale muito de política.
Porque eles estão envolvidos pela política, mas o drama do narrador, do Martim, é a perda, a separação da mãe. Vê? Voltei à mãe [risos].
Espero que não seja uma mãe tão complicada como a dos gémeos.
Não, não é. É mais ao contrário, é misteriosa e ausente.

▲ "A Espera da Noite", o último romance de Milton Hatoum, saiu em outubro no Brasil. É o primeiro da trilogia "O Lugar Mais Sombrio"
ANDRÉ CARRILHO/OBSERVADOR
Disse que se passa no final dos anos 60, em Brasília. O Milton esteve lá nessa altura.
Sim.
Recorreu a muitas das memórias que tem daquele tempo?
À minha experiência, embora não seja esse narrador. Ele é um ingénuo, e eu não sou esse ingénuo. Mas a experiência do lugar foi importante. É sempre importante. É como diz aquela frase do [João] Guimarães Rosa, que usei como epígrafe no Cinzas do Norte: “Eu sou de onde eu nasci. Sou de outros lugares”.
Os seus livros falam sempre de lugares que conhece bem.
Exato. Só posso escrever assim, não consigo dissociar a minha experiência de vida e de leitura do que escrevo. Talvez seja uma limitação, mas sinto que assim expresso a minha verdade, que nada mais é do que a verdade das relações humanas.


















