Patriarca de Lisboa entre 1971 e 1998, D. António Ribeiro exerceu funções eclesiásticas durante alguns dos períodos política e socialmente mais importantes da história do país no século XX: os últimos anos do Estado Novo, a revolução de abril e a procura de reconciliação entre Igreja e regime no pós-1974.
Este ano, foi publicada a primeira longa biografia do 15º patriarca de Lisboa. Escrita por Paula Borges Santos, Investigadora Principal do Instituto Português de Relações Internacionais da NOVA FCSH, “mostra como D. António Ribeiro foi o patriarca de Lisboa mais comprometido com a democracia e reativo contra as ditaduras, conseguindo fazer com que o Patriarcado e a Igreja portuguesa em geral retomassem um papel influente”, segundo a autora.
Revelando “os numerosos esforços diplomáticos e negociações” que D. António Ribeiro liderou ou encetou “durante os anos controversos da ditadura e da erosão do colonialismo português”, o livro é descrito como “uma biografia pastoral” publicada pela Universidade Católica Editora. O Observador revela aqui um excerto do sétimo capítulo, intitulado “O annus horribilis de 1973”, que detalha as tensões sentidas no ano que antecedeu o 25 de abril e que recorda as divisões na Igreja portuguesa sobre o modo de reagir à guerra colonial.
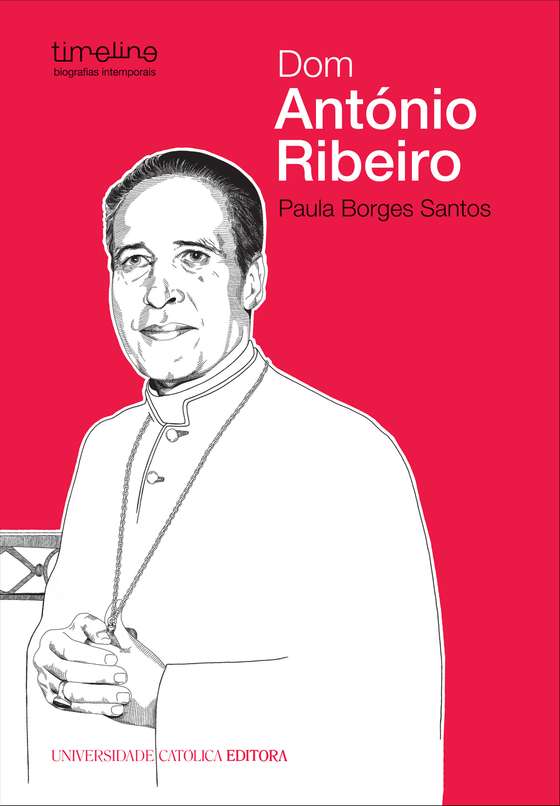
A capa do livro “Dom António Ribeiro”, de Paula Borges Santos
O annus horribilis de 1973
O segundo ano de D. António Ribeiro como patriarca de Lisboa, coincidente com o ano civil de 1973, revelar-se-ia para o próprio uma prova difícil, a ponto de tomar um aspeto exterior grave. Emagreceria e perderia o semblante sorridente, e até alguma alegria, que apresentara até aí nas suas aparições públicas. Na realidade, a nomeação para bispo residencial de Lisboa tinha já introduzido uma cambiante no seu comportamento. A sua habitual discrição dera lugar, quase imediatamente, a um crescente autocontrolo e a sua forma de estar, marcada por algumas relações conviviais e por uma circulação na cidade feita de liberdade de movimentos, conhecera uma forte restrição, passando a sair, sobretudo, para desempenhar compromissos de agenda, sem nunca esquecer a posição institucional que ocupava. Nos contactos diretos com as autoridades públicas, os media ou até com outros membros do episcopado, do clero, religiosos e leigos da diocese, manter-se-ia contido, escolhendo dizer o essencial, embora usando de grande cordialidade e afabilidade. Por possuir um olhar aberto, atento e expressivo, era, no entanto, relativamente fácil descortinar o que lhe desagradava ou que lhe merecia simpatia. O patriarca pouco tinha que ver com o homem que, em privado, amigos muito próximos conheciam. Ainda assim, os acontecimentos de 1973 geraram preocupação (e mágoa) em D. António, mesmo que não lhe tivessem retirado serenidade, como notou o cardeal Daniélou, que nessa primavera visitou o jovem patriarca.
A celebração do Dia Mundial da Paz e o “caso da Capela do Rato”
Desde 1969 que a CEP, seguindo instruções da Santa Sé, comunicadas em agosto de 1968 pelo núncio apostólico ao cardeal Cerejeira, convidava à celebração do Dia Mundial da Paz, instituído por Paulo VI e estipulado para o primeiro dia de janeiro de cada ano. Antecipando que aquela iniciativa pontifícia, inaugurada em 1968, teria consequências de natureza política no País, por causa do conflito militar em Angola, Moçambique e Guiné, podendo servir ainda para ataques à hierarquia eclesiástica com o argumento de alegada “conivência com o Estado”, os bispos portugueses equacionariam, no final de 1967, publicar um documento relativo ao Dia Mundial da Paz. Todavia, tal ideia foi abandonada por falta de consenso sobre a linguagem a utilizar (não colheriam as sugestões defendidas por D. António dos Reis Rodrigues, que acumulava funções como bispo de Madarsuma e vigário-geral castrense), optando o episcopado por enviar uma nota de esclarecimento sobre o seu pensamento e posição (para cuja elaboração foi sugerido o nome do professor universitário Guilherme Braga da Cruz) aos bispos da Igreja Católica universal. Em alternativa à nota da CEP, foi ainda alvitrada a hipótese de ser publicado um editorial no Novidades, mas alegando problemas internos do jornal, D. Manuel Gonçalves Cerejeira repudiaria essa possibilidade. Uma nota pastoral dos bispos surgiria apenas em dezembro do ano seguinte, convidando os católicos a responder à segunda jornada do Dia da Paz, dedicada à “promoção dos direitos do homem”, e a não esquecerem “a situação de guerra em que nos encontramos e as responsabilidades que pesam sobre nós da rápida promoção dos povos ultramarinos que integram a Nação portuguesa”. A partir de 1970, a responsabilidade de preparação daquela data recaiu sobre a Comissão Episcopal de Ação Social e Caritativa e D. Manuel Falcão, que detinha a presidência da mesma, constituiu para esse efeito, a “Comissão do Dia da Paz”, formada por D. António Ribeiro, então bispo auxiliar de Lisboa, e pelo prelado coadjutor de Lamego. A este grupo de trabalho coube expedir para as dioceses do País instruções para as celebrações em todo o território nacional, que podiam envolver celebrações religiosas, vigílias ou iniciativas de formação.
Pelo contexto político vigente, todos os anos, desde que fora estabelecida, a data suscitava manifestações de contestação ou críticas da parte da Oposição, muitas lideradas por católicos, à continuação da guerra colonial ou às limitações de direitos e liberdades determinadas pelos poderes públicos. Particular visibilidade e impacte tinham tido a vigília de 1969, organizada por um grupo de leigos na Igreja de São Domingos em Lisboa, onde se denunciara veementemente aquela nota pastoral do episcopado sobre o Dia da Paz; e a homilia proferida por D. António Ferreira Gomes a 1 de janeiro de 1972, durante a qual afirmara que “a hierarquia está […] presente à guerra localmente pelos capelães; e esses capelães, uma vez postos em ação, impressionam-nos e assustam-nos pelas suas virtudes “militares”, e exortara a quem o ouvia: “se queres a paz, trabalha pela justiça”. Ao questionar o acompanhamento que sacerdotes emprestavam aos militares combatentes na guerra em África, o bispo do Porto manifestara distanciamento em relação à atividade de assistência religiosa prestada às forças armadas, tal como era sustentada pelo episcopado português e pela Santa Sé, e tecia uma crítica clara, embora não explícita, à política do Executivo de prolongamento daquele conflito militar. O episódio motivara viva discussão na Assembleia Nacional, que registaria intervenções tanto de condenação como de defesa daquela posição do bispo do Porto. Contudo, nenhuma dessas ações fora alvo, em grau tão elevado, de medidas repressivas acionadas pelas autoridades públicas, como sucedeu com a vigília pela paz, realizada na Capela do Rato, organizada na noite de 30 para 31 de dezembro de 1972.
Esta iniciativa foi promovida por alguns membros da comunidade da Capela do Rato, ligados ao grupo do Boletim Anticolonial (como Luís Moita, Nuno Teotónio Pereira, Conceição Moita, Isabel Pimentel) e contou com a associação de não crentes ligados a círculos oposicionistas. Agiam com consentimento do padre Alberto Neto, responsável eclesiástico por aquela comunidade e haviam mantido informado D. António Ribeiro dessa intenção, ainda que sem dar pormenores da ação a desenvolver. Na missa vespertina de 30 de dezembro de 1972, o celebrante, padre João Seabra Dinis (que substituía o padre Alberto, ausente por razões de saúde), foi surpreendido por um pequeno grupo de participantes (segundo o próprio, não teria sido posto ao corrente por Alberto Neto do que se preparava), que anunciou a intenção de permanecer no interior da capela, nas 48 horas seguintes, para reflexão sobre a paz e principalmente sobre a guerra travada nos territórios portugueses. Porém, no decurso da vigília, as Brigadas Revolucionárias fariam propaganda à iniciativa, lançando panfletos em vários pontos da cidade e arredores, por petardos, apelando à solidariedade com os participantes – entre os quais estavam algumas figuras relevantes dos círculos políticos e culturais lisboetas, como Sophia de Mello Breyner, Francisco de Sousa Tavares ou Francisco Pereira de Moura. Lia-se nos panfletos que havia sido iniciada «uma greve de fome contra a guerra colonial». O sucedido motivou a intervenção da polícia de choque naquele local de culto, ao princípio da noite de 31 de dezembro, onde vinte pessoas haviam iniciado a prática de um jejum voluntário. O espaço foi evacuado e foram presas todas as pessoas presentes, algumas libertadas depois sob caução. De entre os detidos, catorze pessoas foram conduzidas aos calabouços do Governo Civil de Lisboa e mais tarde levadas para o forte de Caxias, onde ficaram incomunicáveis. Foram ainda dadas ordens policiais para encerramento da Capela do Rato nessa noite e no dia seguinte.
Tomando conhecimento do sucedido, D. António Ribeiro optou por não acatar aquelas instruções e voltaram a cumprir-se os cultos religiosos programados, celebrados pelo padre António Janela, na noite de 31 e na manhã de 1 de janeiro. No final desta última eucaristia, este sacerdote, e também o padre Armindo Garcia, foram detidos por dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP). Solidarizando-se com o padre Janela, esse último sacerdote espontaneamente identificar-se-ia como membro da equipa presbiteral da comunidade do Rato. Na Capela, entretanto evacuada, permaneceu a polícia, em guarda à porta. Ao ser informado da detenção dos dois padres, o patriarca enviou o seu secretário pessoal, António Paes, para exigir a sua libertação junto da polícia. Tendo sido somente libertado o padre Garcia, D. António apresentar-se-ia pessoalmente na sede da Direção-Geral de Segurança (DGS), exigindo que também o padre Janela fosse colocado em liberdade. Aguardaria algumas horas naquelas instalações até ser satisfeito o seu pedido e abandonaria o local apenas com o sacerdote a seu lado.
O caso provocou uma torrente de acontecimentos que se arrastaram no tempo, quer pelo aproveitamento político que mereceu quer por expor tensões e conflitos já latentes na Igreja de Lisboa. No imediato, a atenção da opinião pública nacional e internacional focou-se no ineditismo da atuação policial – a sua ocorrência num lugar de culto e com detenção de tão elevado número de pessoas. Surpreendia também o uso do Decreto-Lei n.º 25317 de 13 de maio de 1935, o qual, por deliberação do Conselho de Ministros de 9 de janeiro, permitira impor a demissão compulsiva ou a rescisão de contratos de trabalho aos funcionários públicos ou administrativos detidos na Capela do Rato. Desta medida seria apresentado recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, por advogados já prestigiados e conhecidos pelas suas ligações à Oposição (entre os quais figuravam Francisco Salgado Zenha, Francisco de Sousa Tavares e Jorge Sampaio). No debate político confrontavam-se duas legitimidades distintas: a dos participantes, situada num duplo plano eclesial e político, e a das autoridades governamentais, de carácter exclusivamente político. Para os primeiros, entre os quais se encontravam crentes e não crentes, a vigília procurara corresponder ao apelo dirigido por Paulo VI aos cristãos para que refletissem sobre o problema da paz (diálogo que os não crentes acompanhavam), ao mesmo tempo que representava um meio de ação acionado para questionar o esforço de guerra em África, como manifestação direta da vontade de serem exercidos direitos, liberdades e garantias que a ditadura negava. Para o Governo, a iniciativa criara uma questão política: os católicos, ao atuarem com uma organização política da Oposição e ao questionarem abertamente a política governativa, extrapolavam os limites consentidos à sua intervenção na sociedade. Na Assembleia Nacional, na sequência de um requerimento apresentado pelo deputado Francisco Sá Carneiro, em que pedia esclarecimentos ao Governo sobre o assunto, far-se-ia também a discussão do caso com grande violência verbal, num confronto em que o professor Miller Guerra acabaria por renunciar ao seu mandato parlamentar.
Para o interior da Igreja, sobretudo na diocese de Lisboa, os incidentes da Capela do Rato suscitaram divisões e perplexidades. Tendo-se rapidamente espalhado diversas versões dos acontecimentos, D. António optou por publicar uma nota de esclarecimento, no dia 10 de janeiro, que se destinava a reagir ao comunicado do Ministério do Interior surgido no dia 6. Nesta data, a DGS pressionava ainda o secretário do patriarca a entregar o texto lido aos microfones da missa das 19h30 do dia 30 de dezembro, e que o padre João Seabra Dinis entregara ao padre Alberto Neto para ser levado ao patriarca no próprio dia. A exigência da polícia política foi recusada por D. António Ribeiro e, três dias depois, o seu gabinete respondia que o patriarca possuía uma cópia do texto, “que a DGS poderá facilmente obter por diversas vias”. Acrescentava-se que o pedido era negado “considerando as óbvias razões pastorais inerentes à sua [do bispo] missão”. A DGS voltaria a repetir o mesmo pedido, logo que recebeu a resposta do secretário do patriarca; novamente, este não cedeu. Na nota do Patriarcado, o bispo manifestava que o princípio que inspirara a reunião era legítimo, mas que a sua concretização fora feita com “certos procedimentos abusivos, […] de modo e para fins” que a autoridade diocesana “não pode consentir”. Não hesitava em referir que eram “razões de princípio” que determinavam essa condenação, salvaguardando, porém, que tal significava “desencorajamento da procura, por parte dos católicos e dos homens de boa vontade, das soluções concretas que levam à paz baseada na verdade, na justiça, na caridade e na liberdade”. O patriarca criticaria também a atuação das forças policiais, “ao intervirem no lugar sagrado nos termos em que o fizeram”.
Num clima bastante emocional, como o que se vivia, esta nota de D. António conheceu uma recepção tanto positiva como negativa. Pelo teor do que ali registara, o bispo de Lisboa recebeu dezenas de cartas pessoais (algumas ainda antes da publicação daquele documento), onde muitos expressavam o que pensavam da política ultramarina do Governo e do arrastamento da guerra em África, e conheceu também comentários públicos apreciativos das suas afirmações. Manifestaram-se diversos católicos que não se revendo na vigília, criticavam o padre Alberto e os promotores da iniciativa, defendendo ainda a intervenção policial ocorrida. Outros saudaram as palavras do patriarca, entre esses estavam a Vigararia Episcopal para o Apostolado dos Leigos, a Junta Diocesana da Ação Católica do Porto, e alguns particulares como Adérito Sedas Nunes (“Não quero deixar de prontamente comunicar a V. Exa. Reverendíssima a minha total solidariedade com os termos em que está redigida e a muita satisfação com que a li”, acrescentando que aquele era “um dos atos mais importantes da Igreja em Portugal desde há longos anos”); a deputada Raquel Ribeiro, que integrava a chamada “ala liberal” na Assembleia Nacional; o então recente ex-dirigente da Junta Central da ACP, António Luciano de Sousa Franco (“[…] sinceramente gostei. Se poderia talvez dizer-se mais, o que V. Exa. Reverendíssima disse foi claro, firme e consolou-me”). Numa linha semelhante, ainda que não escondendo julgar que D. António Ribeiro poderia ter ido mais longe, pronunciar-se-ia a equipa nacional da LOC, formada por João Gomes e pelos padres Horácio e Agostinho Jardim Gonçalves: “A Nota está ainda muito longe daquilo que seria expressão efetiva de uma Igreja profética, que coerente e corajosamente, sabe discernir entre a verdade e o erro para denunciar injustiças e aprovar caminhos de libertação […], o certo é que a mesma constituiu já uma atitude a que foram sensíveis muitos cristãos e homens de boa vontade e com a qual nos solidarizamos no essencial.” Fazendo eco de uma crítica que seria recorrente, aqueles dirigentes registavam que tinha parecido “demasiado hermética e pouco acessível ao público em geral e, de modo particular, aos trabalhadores”, mas porque “não desconhecemos as dificuldades e as consequências provenientes da sua atitude, por isso mesmo lhe queremos afirmar o nosso apoio, exprimindo o desejo de que não lhe falte [a D. António] a coragem para, como bispo, estimular cristãos num compromisso, cada vez mais sério face às realidades do nosso tempo”. Menor satisfação apresentou o assistente diocesano da JUC de Lisboa, para quem a nota do Patriarcado exigia ser escrita em “termos muito claros”. Também o superior da Congregação do Espírito Santo (Instituto Superior Missionário), ainda que lamentando a atitude da comunidade do Rato perante D. António, lembrava que o que estava em causa era “a hierarquia não tomar posição sobre a forma como o Governo conduz a política ultramarina”. Considerando que só a condenação da mesma era aceitável, vincava como “choca a ideologia da portugalidade, afirmações de direitos históricos, da capacidade colonizadora dos portugueses, da explicação do terrorismo como apenas importado e não eclodindo localmente” e alertava estar “na hora de o Patriarcado fazer algo de concreto”, “sem o extremismo do Rato”.
De entre as cartas rececionadas, o prelado reagiu quando lhe pediam esclarecimentos e, em alguns casos, corrigiu interpretações dadas à nota do Patriarcado. Em especial, cuidou de responder ao número substantivo de presbíteros de todas as regiões da diocese que, mostrando confusão perante os acontecimentos, pediam a D. António que os esclarecesse. Com esse gesto, o bispo demonstrava a importância que tinha para si manter com os sacerdotes uma comunicação esclarecida. O patriarca receberia ainda o embaixador da Bélgica em Portugal, Maw Wery que, após ter presenciado casualmente no exterior da Capela do Rato a detenção pela política dos participantes na vigília lhe solicitara uma audiência, com o objetivo de satisfazer dúvidas sobre o sucedido. Outro interlocutor que lhe mereceu reação foi Raul Rêgo, diretor do jornal República, que lhe enviou a prova de um artigo onde se comentava os acontecimentos da Capela do Rato e que fora cortada pela Censura, nas passagens onde citava D. António Ferreira Gomes e na frase: “Para o Patriarcado orar pela paz tem de ser uma concentração íntima, sem tocar no problema da guerra que segue o seu rumo, conforme as autoridades entendem.
Por esses dias, D. António continuava ainda a enfrentar pressões do ministro do Interior, que reagiu à nota publicada pelo Patriarcado, defendendo a atuação das forças policiais na Capela do Rato. Ainda no final do mês de janeiro, Gonçalves Rapazote mostrava-se, por escrito, agastado com D. António Ribeiro: “Vejo que as reservas expressas do Patriarcado, quanto à intervenção pública na Capela do Rato, se limitam à falta de uma palavra prévia à autoridade eclesiástica e a pormenores da atuação policial.” Sobre esta, menorizava: “o padre Janela foi levado à esquadra do Rato e depois à DGS pelo seu comportamento: abrindo a Capela ao público antes de, por acordo de V. Reverência e o Senhor Governador Civil, ter sido regularizado o serviço de culto e restabelecido o regime de vigilância normal”. Para a perturbação do poder político quanto ao caso concorria ainda o facto de a repressão exercida ter sido duramente comentada pela imprensa internacional e objeto de protestos de alguns intelectuais europeus. Para que a informação circulasse no exterior do País havia também contado a mobilização de vários católicos e de oposicionistas, alguns no exílio.

















