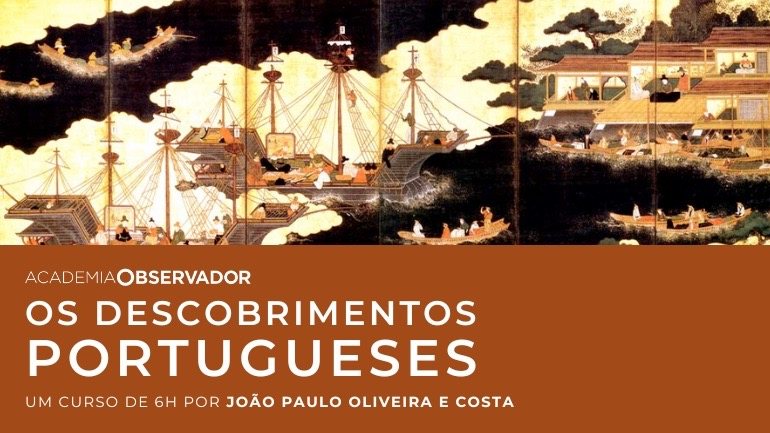Índice
Índice
Uma surpresa
Quando, a 15 de Dezembro de 1955, a imprensa portuguesa e internacional noticiou que, em Nova Iorque, passando das dez da noite do dia 14, dezasseis países, entre os quais Portugal, tinham visto ser favoravelmente votadas pela Assembleia Geral [AG] das Nações Unidas, após uma “recomendação” do Conselho de Segurança [CS], as respetivas candidaturas a Estados membros daquele organismo, as reações dos governos candidatos e admitidos, e dos governos dos países membros que aprovaram as candidaturas, foram mais de alívio e de uma certa incredulidade, do que propriamente de “euforia”. O mesmo pode ser dito em relação ao modo como aquela mesma notícia foi recebida pela opinião pública internacional.
A “euforia internacional” a que na tarde do dia 15 o Diário de Lisboa se referia para compor parte da sua manchete sobre os acontecimentos da véspera era, acima de tudo, uma alusão à tensão que desaparecera após a inesperada resolução de um problema que se arrastara por quase dez anos e, aparentemente, continuava sem solução à vista. O acumular de tensão tinha razões simples e conhecidas: a partir de 1946, nalguns casos, como o de Portugal ou da República da Irlanda, desde anos subsequentes, noutros casos, como os da Áustria, da Hungria, da Bulgária ou da Itália, um número crescente de Estados vira serem travadas as suas candidaturas de admissão à ONU. Os aspirantes pertencentes ao “bloco americano”, como sucedia com Portugal ou Itália, tinham visto as respetivas candidaturas barradas pelo veto soviético nas votações do CS, ao passo que países pertencentes ao “bloco soviético”, como a Bulgária ou a Hungria, testemunharam as suas pretensões serem alvo de reação idêntica por parte dos representantes dos EUA e, muitas vezes também, da França, do Reino Unido e da China nacionalista, remetida política e territorialmente à ilha Formosa após a vitória comunista na guerra civil em 1949, mas preservando ainda o estatuto de membro permanente do CS.

Primeira página do “Diário de Lisboa” de 15 de Dezembro de 1955
Em 1955, tudo indicava que os acontecimentos decorreriam como habitualmente. É verdade que, entre 1951 e 1954, a diplomacia soviética tentou resolver o impasse existente propondo que se votasse, e eventualmente aprovasse, em conjunto a admissão de todas as candidaturas pendentes, independentemente dos Estados que pretendiam aderir à ONU estarem mais ou menos próximos de um ou de outro bloco político-ideológico. Até Dezembro de 1955, os EUA recusaram esta solução. Fizeram-no por terem durante muito tempo considerado que acabariam por conseguir impor aos soviéticos as razões da sua força. A 14 de Dezembro, inesperadamente, e depois de ter conseguido isolar o problema da adesão da Mongólia que a China nacionalista insistia em vetar, pelo que como contrapartida Washington aceitou retirar o Japão do pacote de países aderentes entretanto negociado com Moscovo, a diplomacia norte-americana aceitou a solução arquitetada e apresentada pelos soviéticos desde 1951. Portanto, e como resultado de uma solução soviética, Portugal, e após de cinco vetos consecutivos impostos por Moscovo, viu finalmente resolvida a questão da sua adesão à ONU.
Inesperadamente (ao ponto de, por exemplo, o delegado observador do Ceilão aos trabalhos da X AG da ONU ter partido para Washington por considerar altamente improvável a resolução do problema da admissão de novos membros), as votações do CS e da AG de 14 de Dezembro desbloquearam um imbróglio político-diplomático que, mais do que prejudicar os países e os governos cujas candidaturas eram sistematicamente vetadas, desprestigiava as Nações Unidas, a começar pelo seu Secretário-Geral e acabando na AG e no CS, ao mesmo tempo que definia com tons particularmente carregados o estado das relações entre Moscovo e Washington e o ambiente geral de “guerra fria” em vigor desde 1947/48.

▲ A eleição de Eisenhower em 1952 deu à diplomacia norte-americana uma outra flexibilidade
AFP/Getty Images
Aliás, o entendimento americano-soviético que permitiu a solução finalmente encontrada a 14 de Dezembro de 1955 para o problema das admissões à ONU, se algum elemento positivo tinha para além do resultado da votação e das suas consequências diretas para os Estados nelas interessadas, residia no facto de parecer indiciar que, senão a curto, pelo menos a médio prazo seria possível esperar uma melhoria substancial nas relações político-diplomáticas entre os EUA e a União Soviética, facto que, cedo ou tarde, deveria repercutir-se nas políticas externas dos respetivos aliados e num desanuviamento do ambiente internacional. Este otimismo prudente, e pelo menos do ponto de vista do “bloco americano”, parecia ser consequência da morte de Estaline em 1953 e da mudança, no sentido da moderação e da procura do diálogo, que a nova liderança soviética parecia estar a querer encetar, pelo que fazia sentido em 1955, mas não antes, aceitar a solução soviética já com quatro anos. Paralelamente, a eleição de Eisenhower em 1952, substituindo Truman na presidência dos EUA no início do ano seguinte, deu à diplomacia norte-americana uma outra flexibilidade, facto que lhe permitiu contribuir para resolver o problema da admissão de novos estados na ONU.
De qualquer modo, para o Governo português e para o Estado Novo, a entrada na ONU, mais do que antecipar os problemas políticos e diplomáticos vividos naquela organização durante décadas, fundamentalmente por causa de temas coloniais, e apenas concluídos em 2002 com a independência da República Democrática de Timor Leste, marcava o ponto final numa caminhada iniciada ainda durante a Segunda Guerra Mundial.

▲ Depois da morte de Estaline em 1953 a nova liderança soviética procurou o diálogo
Getty Images
Saber esperar
Na sequência de diligências feitas em Lisboa por representantes dos governos britânico e norte-americano, Portugal apresentou a sua primeira candidatura a Estado membro da ONU em Agosto de 1946. O veto soviético à candidatura portuguesa, como de outros países que tinham permanecido neutrais durante a Segunda Guerra Mundial, além de ter aberto um ponto de fricção na diplomacia lusa (apenas resolvida em Dezembro de 1955), provocou um certo embaraço ao governo de Salazar. Não tanto pela sua dimensão externa, mas sobretudo pelas repercussões imediatas que teve no domínio da política interna.
A oposição ao Estado Novo, reunida no Movimento de Unidade Democrática [MUD], tentou usar o aparente vexame associado aos efeitos provocados pelo veto soviético para reforçar a legitimidade política e moral da sua luta pelo derrube do Estado Novo. A reação das autoridades, classificando como “traição” a atitude do MUD e de “clandestina” a origem de documentação usada nas críticas que aquele movimento dirigiu ao governo e ao regime, materializou-se na prisão de membros da Comissão Central do MUD e na instauração de processos disciplinares a duas das suas figuras destacadas, Mário de Azevedo Gomes e Bento de Jesus Caraça, de que resultou a sua demissão de funções docentes de instituições do ensino superior.
No entanto, e no contexto da História da primeira década de vida da ONU, o veto à admissão de Portugal em 1946, como o bloqueio imposto a várias candidaturas, a começar pela portuguesa, entre 1947 e 1954, nada teve que ver com a natureza “fascizante” ou “fascista” do salazarismo, como advogava o MUD e alguma historiografia depois advogou. Deveu-se exclusivamente ao modo como a União Soviética e os EUA tentaram subordinar aos seus interesses a arquitetura da ordem internacional do pós-guerra e, em particular, a da ONU.

O veto a Portugal nada teve que ver com a natureza “fascizante” ou “fascista” do salazarismo
Testemunho de que a natureza autoritária do salazarismo muito pouco teve que ver com o veto soviético foi a evolução do número de países membros da ONU entre 1945 e 1955. Em 1945, após a realização da Conferência de S. Francisco, era de 51 o número de Estados membros da ONU. Desde este momento fundador, e até Novembro de 1955, foram contabilizados 31 pedidos de admissão. O português contava-se entre eles. Simplesmente, por desacordo entre a URSS e os EUA apenas nove países foram admitidos naqueles nove anos que mediaram a primeira candidatura de Portugal em 1946 e a sua admissão em 1955. Os pedidos de admissão do Afeganistão, Islândia e Suécia foram aceites logo em Novembro de 1946, seguindo-se o da Tailândia em Dezembro do mesmo ano. Em Setembro de 1947 o Iémen e o Paquistão foram admitidos (a Índia fora fundadora da ONU ainda que na qualidade de colónia britânica). Em Março do ano seguinte foi a vez da Birmânia. Em Maio de 1949 ocorreu a surpreendente incorporação de Israel. A Indonésia tornou-se país membro da ONU em Setembro de 1950. Resumindo, em 1955, na véspera do dia 14 de Dezembro, a ONU contava apenas com sessenta Estados membros.
Portugal apresentou a sua primeira candidatura a 2 de Agosto de 1946. Apreciada em reunião do Membership Committee a 14 daquele mês, teve os votos contrários da URSS e da Polónia, tendo a Austrália, “por razões processuais”, optado pela abstenção. Favoravelmente votaram o México, a China, a França, os EUA, o Reino Unido, o Brasil, o Egipto e a Holanda. Depois deste resultado ter sido confirmado em reunião do CS, a AG votou unanimemente a resolução n.º 35 (I) pedindo aos países membros do CS que reconsiderassem os pedidos não atendidos de admissão de Portugal, da Mongólia, da Albânia, da Jordânia e da República da Irlanda. Em reunião do CS de 29 de Agosto o veto soviético repetiu-se, pelo que os pedidos de admissão foram definitivamente recusados no seu conjunto.
Em 1947, Portugal e os demais candidatos cujas admissões tinham sido vetadas no ano anterior continuaram a ver recusadas as suas candidaturas. O CS voltou a considerar a resolução n.º 35 (I), mas a 18 de Agosto a URSS e a Polónia repetiram o voto contrário à admissão portuguesa. Mais uma vez, porém, os restantes membros do CS apreciaram favoravelmente aquele pedido (no CS a Colômbia substituíra entretanto o México e a Síria o Egipto). Em Novembro, a AG propôs que o CS reavaliasse o pedido de Portugal por considerar que se tratava de “um país pacífico”. Foi então aprovada pela AG a resolução n.º 113 (II). Contabilizou quarenta votos a favor da admissão de Portugal e nove contra (Bielorrússia, Checoslováquia, Etiópia, China, Filipinas, Polónia, Ucrânia, URSS e Jugoslávia), além de três abstenções (Guatemala, Haiti e Paquistão). Mas determinante foi o facto da orientação do CS não ter sofrido qualquer modificação, mantendo-se o veto soviético.

▲ Após a realização da Conferência de S. Francisco, era de 51 o número de Estados membros da ONU
Getty Images
No ano seguinte, em Setembro, a URSS opôs-se à inscrição na agenda da III AG da questão da admissão de novos países. Porém, o CS considerou a resolução n.º 113 (II), pendente de 1947. A favor da admissão de novos países votaram a Argentina, o Canadá, a China, a Noruega, a Síria, o Reino Unido, os EUA e a França. Contra contaram-se os votos da Ucrânia (que entretanto substituíra a Polónia como membro não-permanente do CS) e da URSS. A AG votou ainda a resolução n.º 197 (III), semelhante à que havia sido proposta em 1947 pela Austrália, e em que era recomendada a adesão de Portugal. Foi aprovada no início de Dezembro por 39 votos contra seis e uma abstenção. A resolução já tivera uma votação favorável quando foi levada a um comité ad-hoc (ou Comissão Política Especial) em finais de Novembro. Fora aí aprovada com 29 votos favoráveis à adesão e seis contra.
Em 1949, a 13 de Setembro, o CS impediu, com dois votos contrários (URSS e Ucrânia), a admissão de Portugal. Favoravelmente manifestaram-se os restantes membros permanentes e representantes dos países com assento não-permanente: Argentina, Cuba, Noruega, Síria e Canadá. Neste ano, a AG aprovou a resolução n.º 296 (IV) pedindo ao CS que considerasse o pedido português com base num parecer do Tribunal Internacional da Haia. O pedido foi aprovado com 53 votos a favor, cinco contra e uma abstenção. A resolução foi ainda ratificada pelo comité ad-hoc por 41 votos a favor, cinco contra e quatro abstenções.
Em 1950, a AG pediu ao CS que considerasse todos os pedidos pendentes de admissão na ONU com base na resolução n.º 506 (V). Esta resolução fora aprovada em plenário sem qualquer voto contra e algumas abstenções. Em 1951, a AG renovou a resolução n.º 506 (V) ao aprovar a n.º 620 (VI). Em CS, e a favor de uma entrada em bloco de todos os candidatos, votaram a URSS e o Paquistão. Contra pronunciaram-se a China, os EUA, o Brasil, a Holanda, a Turquia e a Grécia. Abstiveram-se a França, o Reino Unido e o Chile. Em Fevereiro de 1952, o CS reconsiderou a proposta soviética de admissão simultânea de 14 Estados, entre os quais Portugal. Nesta reunião foram novamente tidas em conta as resoluções n.º 506 (V) e n.º 620 (VI), tendo o Paquistão e a URSS votado favoravelmente. China, EUA, Brasil, Holanda, Grécia votaram contra. Reino Unido, França e Turquia abstiveram-se. O comité ad-hoc rejeitou entretanto a proposta polaca para uma “reconsideração conjunta da admissão” da Albânia, da Mongólia, da Bulgária, da Roménia, da Hungria, da Finlândia, da Itália, de Portugal, da República da Irlanda, da Jordânia, da Áustria, do Ceilão, do Nepal e da Líbia por vinte e oito votos contra, vinte a favor e onze abstenções.
Em 1953, e para tentar resolver a questão pendente das admissões reiteradamente rejeitadas, a AG criou um Comité de Bons-Ofícios destinado a persuadir alguns membros do CS, sobretudo os EUA e a China, a acolherem favoravelmente as propostas de admissão conjunta que remontavam a 1951. Em 1954, o Comité de Bons-Ofícios foi reconduzido nas suas funções. Em 1955, e apesar de até muito tarde nada parecer indicá-lo, conseguiu apresentar resultados, ainda que tenha sido essencialmente a aproximação de posições entre as diplomacias soviética e norte-americana, com causas exteriores às questões pendentes na ONU, que desbloqueou uma situação que se arrastava havia quase uma década.
A entrada de uma vaga de novos países membros, e segundo palavras do representante português, gerou uma “atmosfera […] de otimismo” nos bastidores das Nações Unidas e nas primeiras reuniões da AG. De Nova Iorque para Lisboa dava-se conta de que fora dado um importante passo para a “definitiva consagração do princípio da universalidade” da ONU, facto que se sobreporia a “quaisquer restrições ideológicas ou de expediente”.
Sentado, “provisoriamente”, entre os delegados do Nepal e da Roménia, Vasco Garin, o delegado português, foi imediatamente felicitado por representantes de vários países, destacando-se Sir Pierson Dixon do Reino Unido – feliz pela admissão do seu “’oldest ally‘” –, Alphand pela França e vários diplomatas das Américas. O representante da União Indiana, padre Jerónimo de Sousa, com quem Portugal tinha já a correr um contencioso por causa do destino político dos territórios sob administração portuguesa no subcontinente indiano, cumprimentou calorosamente Vasco Garin. Iniciada a sessão da AG, proferiram “palavras de particular apreço para Portugal” os delegados da Colômbia, da Venezuela, do Paquistão e da República Dominicana.

▲ Decorreram diligências por parte de vários países para conquistarem o voto português para diversas propostas
AFP/Getty Images
Em seguida decorreram diligências por parte de vários países com o intuito de conquistarem o voto lusitano para diversas propostas à beira de serem votadas. Este facto parecia tornar Portugal, segundo o seu representante na AG da ONU, em mais uma “vítima do caciquismo de matriz parlamentar prevalente na organização.” No entanto, o voto português não foi dado a ninguém evocando-se a ausência de “instruções”. À medida que as votações sucediam, Garin abstinha-se ou ausentava-se da sala.
Sobre a escolha do novo Estado membro não-permanente do CS, o delegado português informou as Necessidades de que os trabalhos da AG tinham, antes da admissão dos novos Estados, procurado eleger um dos candidatos à vaga (Jugoslávia e Filipinas). Porém, os 29 escrutínios realizados até 15 de Dezembro não tinham dado a nenhum dos países os dois terços de votos da AG necessários à eleição. Esta realidade decorria do facto de alguns países terem procurado alterar as regras de eleição dos representantes não-permanentes. Segundo o preceito vigente, em 1955 deveria ser eleito um país do sudeste europeu. Porém, alguns Estados consideravam tal acordo ultrapassado, pelo que defendiam dever ser atribuído o lugar a um Estado do sudeste asiático, consequência da “importância que essa zona do Mundo passava a ter.” A manutenção do status quo tinha o apoio da maioria do grupo europeu (França e Reino Unido incluídos) e do “grupo soviético”. Os EUA “e grande parte do numericamente forte grupo latino-americano” apoiavam uma mudança das regras e, portanto, a eleição das Filipinas. Não admira por isso, e como afirmava o delegado português em telegrama para Lisboa, que houvesse “necessidade de se recorrer mais uma vez à política de corredor.”
Na reunião do grupo europeu, o representante de Portugal procurou ouvir e esclarecer-se. Não manifestou a intenção de apoiar as Filipinas na votação secreta que teria lugar, ao mesmo tempo que dava nota de que a “coesão do grupo europeu ocidental” parecia uma “coisa não perfeitamente clara.” De qualquer modo, não deixou “entrever o sentido em que” Portugal ia votar, sobretudo porque “não havia a excluir a hipótese de a Jugoslávia vir no fim a ganhar o lugar.” Não descortinava igualmente qualquer vantagem em “hostilizar” o bloco europeu, sobretudo porque este estava decidido a apoiar aquele país dos Balcãs. Assumir um papel “quixotesco” não era, portanto, uma possibilidade. Depois, e perante a auscultação feita pelo delegado francês sobre o sentido de voto dos representantes dos países presentes, o “espanhol” manifestou as “reservas” do governo do seu país à candidatura jugoslava. O delegado de Portugal, considerando “não haver vantagem em ir tão longe”, informou o seu colega espanhol de que não tinha ainda “recebido instruções”, pelo que “reservava a posição” portuguesa sobre o assunto.
Várias diligências depois (levadas a cabo por uns quantos delegados e pelo Presidente da AG), ao fim de “trinta e seis escrutínios”, e com a abstenção portuguesa, a Jugoslávia foi eleita membro não-permanente do CS. Encerrado este episódio, o representante de Portugal censurava, para além dos princípios e do modo de funcionamento da ONU, cheio de jogadas de bastidores, o comportamento da Espanha: “[…] Parece-me ser de deixar […] aqui […] uma reflexão breve acerca da atitude do delegado espanhol, o qual, aproveitando-se da confusão, alienou as Filipinas, por que se batera, para arrebanhar um voto em favor do seu país, que juntou decerto ao seu próprio. Esperava ele novo escrutínio em que me disse dever a Espanha obter 12 votos – certamente para ver se lhe daríamos o nosso. Antes que ele fosse mais longe na sondagem, disse-lhe secamente que não abandonaríamos as Filipinas. Pouco depois, um dos secretários espanhóis, decerto sem conhecer as apressadas manobras do seu chefe, lamentava-se da falta de coesão manifestada pelos americanos.”
Preparar o futuro
Durante a Segunda Guerra Mundial o governo português acompanhou os desenvolvimentos políticos e militares que conduziriam à criação e consolidação de uma nova ordem internacional após a conclusão do conflito. Se até ao Verão de 1943 a atenção se dividia entre aquilo que o “Eixo” e os “Aliados” propunham ou pareciam propor, a partir de finais de 1943, e, sobretudo, a partir de 1944, era claro, também em Lisboa, que caberia aos “Aliados” edificar essa nova ordem internacional. Ora esta nova ordem poderia interferir com o Portugal do Estado Novo essencialmente de três maneiras: no plano externo, criando um ambiente político-jurídico e moral hostil ao colonialismo e isolando e/ou hostilizando os regimes política e ideologicamente da família do fascismo; no plano interno, apoiando personagens e forças políticas da família dos regimes políticos vigentes nas três potências que se preparavam para ganhar a guerra e organizar e tutelar a nova ordem política internacional. Como hoje se sabe, nenhum daqueles três temores era absolutamente justificado, o que não significa que os temores portugueses não fossem racionais. De qualquer modo, o colonialismo sobreviveu ao fim da guerra, ainda que não intocável nem intocado; e britânicos, norte-americanos e soviéticos não interferiram na situação política portuguesa nem hostilizaram o Estado Novo, apesar da sua natureza e práticas “fascizantes”.
Entre 1945 e 1955 os únicos reveses sofridos pela diplomacia e pela política externa portuguesa resultaram, em primeiro lugar, de resoluções próprias e, em segundo lugar, da forma como a rivalidade entre os dois blocos político-militares se formou e cristalizou logo a partir de 1946. Assim, a não participação portuguesa na Conferência de São Francisco (realizada de 25 de Abril a 26 de Junho de 1945), onde se discutiu e aprovou a Carta das Nações Unidas e se estipulou que os países participantes se tornariam em fundadores da ONU, resultou do facto de o governo de Lisboa ter decidido manter a neutralidade de Portugal até ao fim da guerra. Mais tarde, em 1947, o Governo português decidiu não aceitar a ajuda financeira norte-americana ao abrigo do Plano Marshall (pelo menos inicialmente), embora tenha participado nos trabalhos e feito parte do Programa de Recuperação Europeia (ERC) e da Organização para a Cooperação Económica Europeia (OEEC). Finalmente, o adiamento até Dezembro de 1955 da admissão na ONU foi uma consequência de factos e de decisões que o Governo de Lisboa não podia controlar, exceto, claro, no caso de desistir da sua candidatura.
A demora na admissão acabou aliás por servir os interesses de Portugal, uma vez que o regime e o governo prepararam uma reforma do sistema constitucional que, nomeadamente ao reformular a nomenclatura dos territórios ultramarinos e a natureza político-jurídica e histórica da relação daqueles e das suas populações com o Portugal metropolitano. Isso permitia argumentar que o Estado português não era colonialista e não possuía colónias. Terminada a revisão constitucional de 1951, as autoridades portuguesas sustentavam com maior veemência e acrescida legitimidade que não administravam “territórios não-autónomos”, facto que pretendia subtrair a uma fiscalização da ONU as “províncias ultramarinas” que governava em África, na Ásia e na Oceânia. A reação portuguesa materializada na revisão constitucional de 1951 foi um caso claro de promoção da associação dos territórios ultramarinos com o território metropolitano numa “base de igualdade” jurídico-política e historicista. De Estado-nação que tinha um império, Portugal passava a ser, usando aquele expediente político-jurídico, um Estado-nação que era um império legitimado pela História e pelo direito.
Uma política de sucesso
A história da relação de Portugal com a ONU, nomeadamente no espaço de tempo relativamente longo (1945-1955) que mediou entre a gestação desta e a admissão daquele, foi, em primeiro lugar, a história do modo como um pequeno país com o estatuto de potência neutral no decurso da Segunda Guerra Mundial assistiu e se preparou para uma mudança profunda na forma como a sociedade internacional se organizou e o poder foi (re)distribuído entre os seus membros. A questão da admissão portuguesa e do seu protelamento por quase uma década teve uma importância marginal. E vale não tanto por aquilo que significou para Portugal, mas por aquilo que indiciava que a ONU era: um espelho da forma como a sociedade internacional, ou o sistema internacional, foi reformulada e funcionou a partir de 1945/6.
É claro que após a entrada de Portugal e a visibilidade e o peso que a questão colonial ganhou na política externa portuguesa e na política internacional (muito mais naquela do que nesta), amplificou-se o papel, mais simbólico do que real, da ONU na tentativa de resolução da questão colonial lusa. Ainda assim, quer depois da admissão de Portugal, quer, sobretudo, entre 1945 e 1955, a história da política externa e da política colonial portuguesa esteve longe de se resumir ou ser dominada pela ONU. E foi assim porque não coube àquela instituição o papel de regulação do sistema internacional e de legitimação política dos Estados que as autoridades portuguesas e os seus arquitetos, sobretudo os “Três Grandes”, terão, respetivamente, temido e desejado.
Do ponto de vista português, e porque é aquele que aqui mais interessa, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente através dos acordos celebrados com o Reino Unido e com os EUA para a concessão de “facilidades” militares no arquipélago dos Açores, foram abertos canais de integração de Portugal e do Estado Novo na ordem internacional em formação que mostraram dispensar uma ligação íntima às Nações Unidas. Depois de 1945, e apesar de Portugal ter visto recusada a sua admissão à ONU, o Estado Novo não apenas contou com a solidariedade da generalidade dos Estados membros perante esta adversidade, como não foi o único país neutral a ver-se impedido de começar a participar nos trabalhos da ONU. Além disso, vários e importantes acontecimentos tiveram lugar entre 1946 e 1955 permitindo que Lisboa escapasse ao isolamento, ou ao ostracismo, que uma não pertença à ONU poderia sugerir. O facto de ter sido convidado e ter aceitado participar na fundação da Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE) em Abril de 1948 e do Pacto do Atlântico em Abril de 1949, ou de, em 1951, ter celebrado com Washington um acordo político-militar sobre o uso de meios militares nos Açores pelos norte-americanos, contribuiu de forma decisiva para que a questão do isolamento internacional nunca se colocasse ao salazarismo ao contrário daquilo que a oposição então sugeria e alguma historiografia acriticamente sustentou mais tarde.
Isto significa, portanto, que apesar das mudanças ocorridas no sistema internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial, além de outras que tiveram lugar quer antes do deflagrar daquele conflito quer no seu decurso, a política externa e a diplomacia de Portugal foram capazes de se adaptarem a essas mudanças e de as incorporarem sem, no entanto, haver um sacrifício daquilo que era considerado ser o essencial do interesse nacional: preservar o regime político autoritário e nacionalista e os seus alicerces políticos, económicos e sociais. Ao contrário daquilo que o governo português temeu nos últimos três anos da Segunda Guerra Mundial e nos alvores da criação da ONU nada de fundamental teve que mudar nas suas opções de política externa, política interna e política colonial. E, no entanto, em 1945, como em 1955, a realidade subjacente a cada uma daquelas variáveis era muito diferente da que existira dez, quinze ou vinte anos antes do fim da guerra…
Fernando Martins é professor do departamento de História da Universidade de Évora e é autor, entre outros, do estudo “A Política externa do Estado Novo, o Ultramar e a ONU. Uma doutrina histórico-jurídica (1955-68)”