Da condessa húngara que, no século XVII, terá sido responsável pela morte de mais de 600 pessoas, sobretudo raparigas jovens e virgens, em cujo sangue tomava banho para amaciar a pele; à assassina portuguesa Luísa de Jesus, que em 1772 confessou ter asfixiado 28 crianças, logo depois de as resgatar da Casa da Roda de Coimbra e de embolsar os 600 réis que a Misericórdia atribuía por cada uma. Assim que começou a investigar sobre o assunto, Virginia López rapidamente percebeu que ou limitava a escolha ou ia acabar, em vez de com um livro, com uma enciclopédia (provavelmente em vários tomos) sobre os maiores serial killers da História.
Só poderiam entrar dez assassinos, todos contemporâneos, com vidas e mortes balizadas pelos séculos XX e XXI. Um deles seria António Luís Costa — mais conhecido como cabo Costa —, o serial killer português responsável pela morte de três mulheres em Santa Comba Dão.
Depois, quando a lista já estava completa, surgiu o brasileiro Pedrinho Matador — responsável por mais de 100 mortes, metade dentro, metade fora da prisão, hoje youtuber com quase 100 mil seguidores — e não houve volta a dar: seria “Killers – As vidas e as mortes de onze terríveis assassinos em série”.
O objetivo inicial era contar boas (leia-se horríveis) histórias sobre um tema que tanto tem inspirado formas de arte como cinema e literatura; mas, no final, a autora acabou a questionar-se sobre questões bem mais profundas. “À medida que ia aprofundando as vidas deles, descobria pontos em comum entre todos… Infâncias difíceis, procura de reconhecimento, falta de amor… em muitos dos casos, dos pais, nomeadamente da mãe. A figura da mãe na infância destes killers tem um impacto muito forte na construção da personalidade assassina. Não quer dizer que todas as pessoas que tiveram infâncias difíceis vão ser serial killers… Mas chamou-me à atenção o facto de terem esse ponto em comum… Por isso, este livro também pode servir como reflexão sobre a condição humana. Como alguns seres humanos são capazes de cometer este tipo de atrocidades contra outros seres humanos”, explica ao Observador.
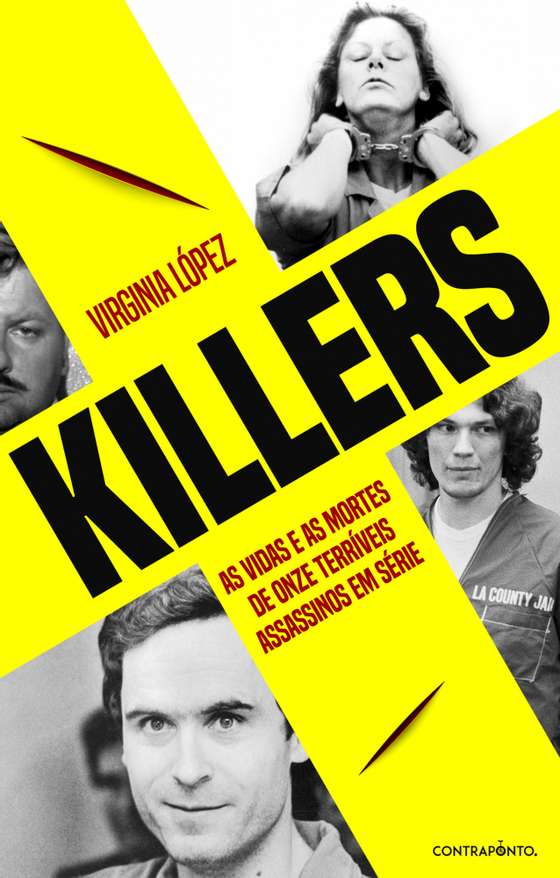
“Killers – As vidas e as mortes de onze terríveis assassinos em série” é editado pela Contraponto e estará à venda a partir desta sexta-feira
Em “Killers” há homicidas incontornáveis como John Wayne Gacy Junior, o palhaço assassino que entre 1972 e 1978 violou e matou pelo menos 33 rapazes e jovens; Ted Bundy, o charmoso e brilhante estudante de Direito que, mais ou menos no mesmo período, violou e matou mais de três dezenas de mulheres; ou Ed Gein, o assassino em série que ficou conhecido como o Carniceiro de Plainfield e se celebrizou por inspirar o serial killer Buffalo Bill, de “Silêncio dos Inocentes” e Norman Bates, de “Psycho”. Mas também lá estão personagens menos conhecidos do grande público, como Richard Ramírez, aka Night Stalker, Andrei Chikatilo, o Canibal de Rostov, ou Manuel Delgado Villegas, el Arropiero. “Para ser sincera, eu não conhecia muitos dos serial killers que aparecem neste livro”, confessa a autora, espanhola, empresária, durante anos jornalista correspondente em Portugal do El Mundo e da Cadena Ser.
“Porquê estes e não outros? Porque eram histórias variadas e também porque, geograficamente, eram de diferentes lugares do planeta. Há vários dos Estados Unidos, sim, mas também há um killer português, um espanhol, um brasileiro e um soviético. Este livro tem um canibal, violadores, uma mulher, necrófagos… Cada um tem um modus operandi diferente, motivações diferentes e matou em épocas diferentes.”
Com a ajuda da autora, escolhemos três deles. Eis as suas histórias.
Aileen Wuornos, a Dama da Morte
Diane Wuornos tinha apenas 17 anos quando, no dia 29 de fevereiro de 1956, Aileen Carol nasceu, na cidade de Rochester, estado do Michigan. Era inegavelmente nova. E Aileen nem sequer foi a sua primeira filha: Keith tinha nascido um ano antes, fruto número um do seu casamento aos 15 com Leo Arthur Pittman, que, na altura, já tinha sido preso, condenado por abuso sexual de menores, e que em breve se suicidaria, por enforcamento, no hospital-prisão para onde foi enviado, depois de diagnosticado com esquizofrenia.
Tendo em conta a juventude e o quadro descrito, não será estranho perceber por que motivo Diane, 17 anos voltemos a recordar, decidiu deixar os filhos com os pais, ambos de origem finlandesa, e partir para tentar começar de novo. Na verdade, e fossem os avós de outra têmpera, talvez esta história não fizesse sequer parte de “”Killers”. Não eram, claro: Britta, a avó, era alcoólica e violenta; Lauri, o avô, um violador que começou a abusar da neta ainda antes de ela saber escrever.

▲ A história de Aileen Wuornos foi transposta para o cinema em Monster. Charlize Theron interpretou o papel principal e ganhou o Óscar, em 2004
Getty Images
Aos 14 anos, Aileen suplantou a mãe e engravidou. Nunca soube quem era o pai do filho, que nasceu dias depois de chegar aos 15 e foi imediatamente dado para adoção. Podia ser um dos rapazes da escola, com quem mantinha relações sexuais a troco de cigarros. Podia ser o próprio irmão, com quem terá reproduzido, ao longo dos anos da adolescência, grande parte dos “ensinamentos” do avô, explica Virginia López, em “Killers”.
Na ignorância, saiu de casa dos avós para não mais voltar, começou a prostituir-se, deu início a uma vida de pequena criminalidade e passou os anos seguintes a entrar e a sair da prisão, acusada de pequenos roubos e de grandes assomos de raiva: uma vez foi detida depois de, embriagada e ao volante, ter decidido disparar a sua pistola calibre .22 para o ar — “Tomem lá, seus cabrões! Ah ah ah!” —; noutra ocasião, foi presa por ter atirado uma bola de bilhar à cabeça de um empregado de um bar.
Antes de descarrilar por completo e de se tornar assassina em série — entre o outono de 1989 e o verão do ano seguinte, matou 7 homens, sempre com disparos à queima-roupa com a sua .22 —, ainda recebeu 10 mil dólares como única beneficiária do seguro de vida do irmão, morto com cancro no esófago; e casou por conveniência mútua com um septuagenário abastado, dono de um clube náutico na Florida. Em poucos meses, estourou o dinheiro do irmão e bateu no marido, que tratou de anular o casamento — mas não, não foi ele a sua primeira vítima.
Matou pela primeira vez a 30 de novembro de 1989, aos 33 anos, numa altura em que já tinha conhecido o amor da sua vida, com quem vivia num quarto de motel na zona de Daytona e a quem fazia questão de sustentar. No final, foi Tyria, a mulher por quem Aileen Wuornos, aka “Dama da Morte”, se apaixonou, quem a entregou à polícia e a fez pagar, com uma injeção letal, o ódio que durante anos acalentou contra os homens.
Ao todo, assassinou sete, entre os 40 e os 65 anos, que depois aproveitou também para roubar. Todos eram clientes, que a abordaram na expectativa de trocarem dinheiro por sexo, todos foram mortos a tiro. “Na verdade, estava a conciliar as suas duas profissões, a de ladra e a de prostituta, e assim rentabilizava o seu tempo e o seu negócio, enquanto, de alguma maneira, talvez, tentasse também expiar os fantasmas da sua atormentada infância”, pode ler-se em “Killers”.
Descuidada, tanto na forma como se desfez dos corpos como a apagar os vestígios da sua presença nos locais dos crimes, foi detida em menos de um ano, depois de Tyria a ter feito confessar ao telefone. Seria executada a 9 de outubro de 2002, tinha 46 anos. Até morrer, disse-se sempre vítima: “A polícia fez de mim uma assassina. Podiam ter-me prendido muito antes e assim tinham evitado todas essas mortes”. “Ela foi abusada e teve uma infância terrível. Mas em vez de ser uma heroína e dar a volta a sua vida, decidiu ser uma vítima da sua tragédia”, conclui ao Observador Virginia López.
Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador
Diz que a primeira vez que sentiu ânsias de matar tinha 13 anos — mais do que isso, diz que a primeira vez que tentou matar tinha 13 anos. Problema: não empurrou o primo, com quem se desentendeu já nem sabe bem porquê, com força suficiente e, em vez de cair para dentro da prensa de moer cana de açúcar, o rapaz feriu apenas o braço de raspão. Para efetivamente matar, Pedro Rodrigues Filho, natural de Santa Rita Sapucaí, estado brasileiro de Minas Gerais, ainda teria de esperar mais um ano.

▲ Aos 19 anos, Pedro Rodrigues Filho já tinha a alcunha de Matador. Há quem lhe chame Dexter da vida real, numa referência à série com Michael C. Hall
Quando naquela manhã de 1968 ouviu o pai contar à mãe que tinha sido injustamente despedido, acusado de um roubo que um terceiro teria cometido, Pedro, 14 anos, agarrou na espingarda da família. Primeiro matou o prefeito da cidade, que tinha demitido o pai. Logo a seguir, procurou o verdadeiro ladrão e fez o mesmo. Depois mudou-se para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde viviam os padrinhos, e dedicou-se ao tráfico de droga — atividade profissional que lhe deu bastantes oportunidades mais para premir o gatilho (e desferir a faca).
Antes de completar 18 anos, já tinha mais de uma dezena de mortes no currículo. Todas com uma característica em comum: as vítimas eram criminosos, traficantes de droga, violadores, abusadores de mulheres e crianças — e por isso mesmo mereciam morrer. Apesar de ele próprio ser um fora da lei, considerava-se um justiceiro e começava a ganhar nome no meio. Para a posteridade, ficaria conhecido como “Pedrinho Matador”, o mais sanguinário de todos os assassinos brasileiros, responsável por mais de 100 mortes, metade delas cometidas já atrás das grades.
Foi preso no dia 24 de maio de 1973, estava a dois meses de chegar aos 19, e já tinha perdido o amor da sua vida, Maria Aparecida Olímpia, executada por ser sua mulher, grávida do seu filho por nascer. Por ela, tatuou “Sou capas de matar por amor”. E foi: assassinou o carrasco dela, na cerimónia do próprio casamento, num ataque que só poupou mulheres e crianças e deixou por terra 24 homens — 8 mortos, 16 feridos.
Foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Como no Brasil não existe prisão perpétua ou pena de morte, cumpriu 34 primeiro e outros sete depois, por crime de motim dentro da prisão. Pelo meio, terá sido responsável por cerca de 50 mortes mais, incluindo a do recluso que teve o azar de ser transferido na sua companhia (“Era um violador”); o companheiro de cela, que, lamentavelmente, não conseguia reprimir o ronco durante o sono; e… o próprio pai.
Quando nasceu, Pedro Rodrigues Filho tinha o crânio danificado, resultado das agressões com que o pai, de quem herdou o nome, brindou a mãe durante toda a gravidez. A violência, conta Virginia López em “Killers”, foi uma constante na infância e adolescência do rapaz — e a sua propensão para a defesa dos mais fracos e para a justiça feita com as próprias mãos também. “De cada vez que o pai batia na mãe, crescia dentro dele um sentimento de ódio contra todos os homens que maltratavam uma mulher ou uma criança. Para as defender, poderia ter sido polícia ou advogado. Mas Pedro Filho optou por uma via que, para ele, era mais rápida e contundente: matá-los.”
Paradoxalmente, foi em defesa do pai que Pedro Filho matou pela primeira vez. Quando o ciclo de violência se completou e o pai finalmente assassinou a mãe, com 21 facadas, Pedrinho Matador jurou vingar-se. E vingou-se, de forma especialmente bárbara: na prisão, onde se encontraram, esfaqueou-o 22 vezes, abriu-lhe o peito e arrancou-lhe o coração, que depois mordeu, ainda quente, e mastigou. “Não o engoli, como dizem por aí, só o mastiguei e depois cuspi — Era essa a vingança que tinha prometido, tinha de a cumprir. — Vingança é vingança — explicou, anos mais tarde, numa entrevista na televisão”, pode ler-se em “Killers”.
Em liberdade desde 2018, Pedro Rodrigues diz que já não sente vontade de matar e que quer “morrer em paz, de velho”, sem inimigos que o “incomodem”. Aos 65 anos, mantém com um amigo um canal de YouTube, onde, explica Virginia López, já tem quase 100 mil subscritores e “diz aos jovens para não matarem”. Apesar disso, nas entrevistas que vai dando, garante que não mudaria uma vírgula à sua história: “Não estou arrependido, matei muitas pessoas que não valem nada, eram uma merda”.
Cabo Costa, o assassino em série português
De entre os onze assassinos em série que retrata no livro, António Luís Costa, o único português, será, muito provavelmente, diz Virginia López ao Observador, “o tipo mais ‘normal’ de todos”. Ex-militar da GNR, casado e pai de dois rapazes, estava aposentado há pouco mais de um ano quando, a 8 de maio de 2006, Joana Oliveira, filha dos vizinhos, de apenas 17 anos, desapareceu da pequena aldeia de Cabecinha do Rei, nos arredores de Santa Comba Dão.
Tói (assim era conhecido na zona) foi, a par dos familiares da jovem, estudante do 11.º ano, um dos mais empenhados nas buscas. Como sempre que era preciso ajudar, aliás. Como bom religioso que todos os domingos ia à missa, menos de um mês antes tinha ido em peregrinação a Fátima e regularmente colaborava na recolha de comida e roupa para os mais desfavorecidos, o cabo Costa, como em breve ficaria conhecido em todo o país, esteve sempre disponível para ajudar. Como já tinha estado um ano antes, a 24 de maio de 2005, data em que Isabel Cristina Isidoro, outra rapariga da aldeia, também desapareceu sem deixar rasto.
Em 2005, aproveitando a teoria equacionada pelos próprios pais de que Isabel, também de 17 anos, teria decidido finalmente emigrar para junto do namorado e de uns familiares que viviam em França, Tói tinha-os sossegado: “De certeza que está muito melhor em França”. Agora, tentava repetir com os pais de Joana a fórmula e o bom resultado — apesar de o corpo de Isabel até já ter aparecido há largos meses, junto à praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, o cadáver nunca tinha sido identificado, exatamente porque o desaparecimento da rapariga não tinha sido comunicado às autoridades.
Quando Fernando Oliveira, pai de Joana, lhe disse que a filha tinha desaparecido, Tói ofereceu-se para o ajudar a procurar. Quando a ausência de novidades se lhe tornou insuportável, consolou-o. Quando, em junho, a notícia do achamento de um cadáver na barragem do Coiço, a 20 quilómetros de distância, fez com que o vizinho temesse o pior, sossegou-o: “Fernando, tem calma que o corpo que apareceu não é o da tua filha”.
Apenas quatro dias depois dessa última conversa, António Luís Costa, 53 anos, membro da assembleia de freguesia, frequentador assíduo da Casa do Benfica e entusiasta do Grupo Desportivo Os Pinguins, seria detido pelos antigos colegas da GNR. Por muito que, mais tarde, aos jornalistas, tenha assegurado a sua inocência — “Eu não sou psicopata, não sou serial killer e muito menos um tarado sexual” —, terá confessado os homicídios de Isabel Isidoro, Joana Oliveira e Mariana Lourenço, desaparecida da aldeia a 14 de outubro de 2005, logo da primeira vez em que foi interrogado pela Polícia Judiciária de Coimbra, pode ler-se no livro de Virginia López.

▲ António Luís Costa matou três raparigas, suas vizinhas, numa aldeia perto de Santa Comba Dão, entre 2005 e 2006
Acusado de dez crimes, entre os quais três de homicídio qualificado e dois de ocultação de cadáver, foi condenado a 25 anos de prisão no dia 31 de julho de 2007, há já 12 anos. “Normalmente pensamos que estas coisas de serial killers só acontecem nos Estados Unidos. De repente, estamos a falar de Cabecinha do Rei, no centro de Portugal, uma aldeia como tantas outras, um vizinho como tantos outros… O facto de só ter matado três mulheres prova que a investigação portuguesa atuou depressa e conseguiu descobri-lo a tempo de evitar que pudesse matar mais vezes. Se não tivesse sido detido, talvez tivesse sido um killer mais prolífico, como aconteceu com outros assassinos que atuaram há mais anos, quando não havia testes de ADN e era mais difícil chegar até aos autores das mortes”, analisa a autora de “Killers” ao Observador.
Isabel Isidoro, a primeira vítima, terá sido a única com quem António Luís Costa manteve relações sexuais, de forma consentida, de acordo com o próprio. A rapariga, a quem deu boleia, devia-lhe 25 euros e ter-lhe-á sugerido pagar a dívida assim, mas, no final, no banco traseiro do Fiat Punto branco do ex-cabo da guarda, ter-se-á arrependido. Foi depois de ela ter ameaçado contar tudo aos pais e acusá-lo de violação que o cabo Costa lhe levou as mãos ao pescoço para a estrangular. Quando lhe envolveu o corpo em sacos de serapilheira e o atirou ao mar, numa falésia junto ao cabo Mondego, não saberia, mas Isabel ainda estava viva, revelou a autópsia.
Cinco meses depois, quando assassinou Mariana, e outros sete meses mais tarde, quando pôs fim à vida de Joana, já não cometeu erros. Usou o mesmo ardil com as duas: chamou-as ao barracão que lhe servia de garagem, junto à vivenda onde morava com a mulher e os filhos, e tentou beijá-las. Quando elas o recusaram, estrangulou-as, sob a imagem de Santo António e as fotografias da irmã Lúcia e do papa João Paulo II que tinha nas paredes. Uma vez mortas, atirou os cadáveres para a barragem do Coiço, mais uma vez dentro de sacos de serapilheira, que fechou com fio de nylon.
Efetivamente, o corpo que apareceu junto à entrada do túnel de acesso de água às turbinas no dia 1 de junho de 2006 não era de Joana, como disse a Fernando Oliveira. Era de Mariana, a rapariga especialmente bonita que vivia com o tio a quem, durante meses, Tói garantiu que tudo devia estar bem, ela só podia ter ido para o Brasil, perseguir o sonho que há muito acalentava de se tornar modelo.
Foi graças às indicações que o homicida confesso deu à PJ que o corpo da derradeira vítima foi encontrado e retirado da água. Apesar de os 25 anos de prisão a que foi condenado só terminarem em 2032, António Luís Costa, hoje com 66 anos, poderá pedir a liberdade condicional já em 2023. Garantem vários habitantes de Cabecinha do Rei, citados em “Killers”: “Se ele regressar, daqui não sai vivo”.













