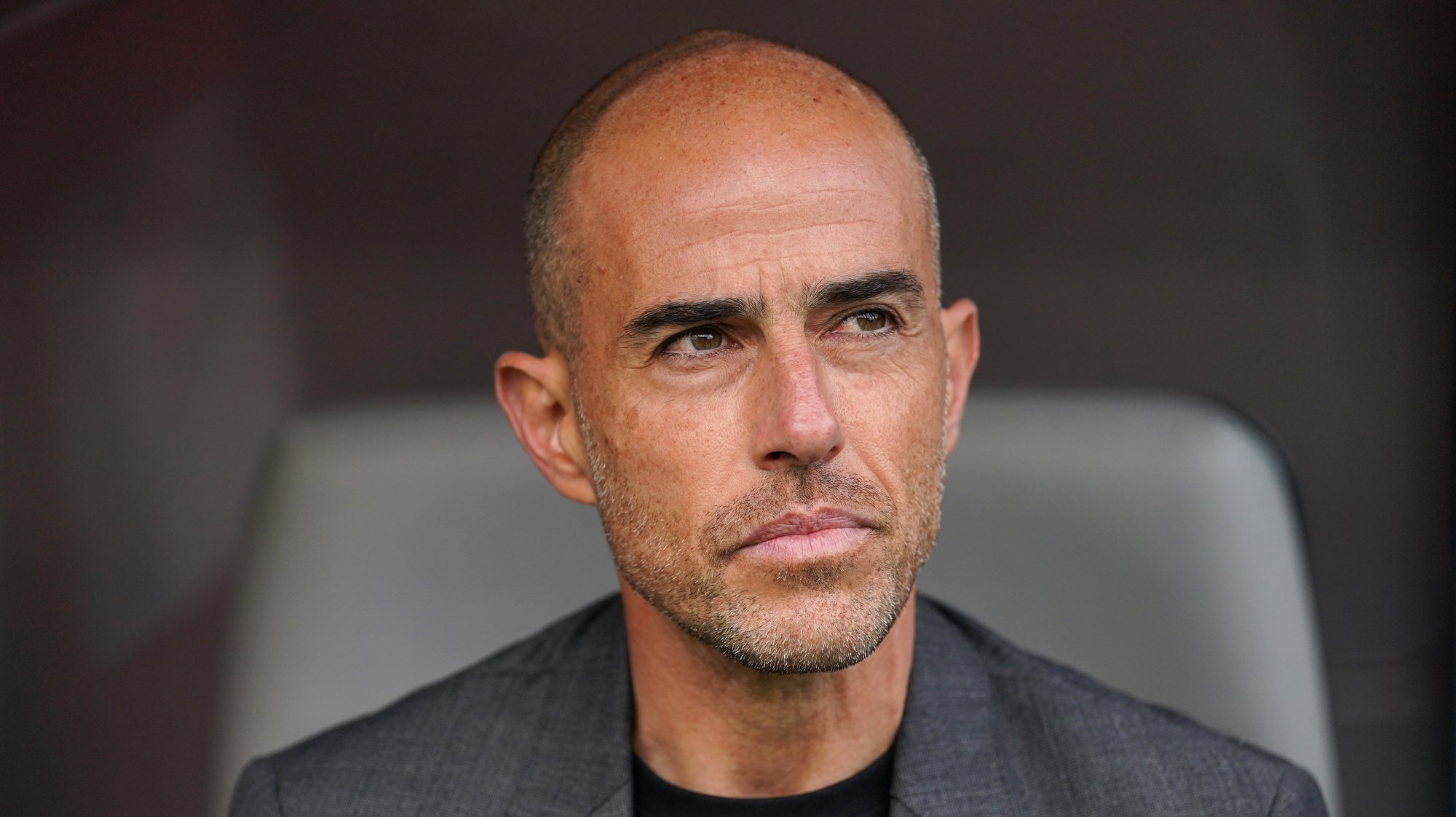É muito impressionante como a nossa relação de proximidade e de distância com o passado muda com a idade. Uma pessoa que tenha nascido em 1960 julgou-se durante uma larga fatia da vida nascida muito depois do fim da Segunda Guerra Mundial, apenas para descobrir, a uma certa altura, que nasceu praticamente em cima dessa guerra. E essa relação de proximidade e de distância vale não apenas para os factos, mas também, como é óbvio, para os costumes. Comportamentos e modos de falar legítimos tornam-se, a pouco e pouco, ilegítimos; e outros, antes ilegítimos, tornam-se legítimos. Nós próprios mudamos constantemente, e a nossa matéria é feita dessa mudança.
O grande pensador destas coisas, depois de Marco Aurélio, é Montaigne. O mundo apresenta todos os sinais de uma extrema instabilidade, de uma “perene agitação”. Como diria Sá de Miranda, “o mundo é todo de acontecimentos”. E, regra geral, a mudança é de temer, quer dizer: a realidade é temível. Os objectos são incertos, e, como tal, não se captura o ser, captura-se apenas a passagem, a contínua flutuação da incerteza, a diversidade e o dissemelhar. Nada podemos apreender de subsistente e permanente, nada permanece idêntico a si: é como empunhar água. Como manter confiança na realidade das coisas, por definição em permanente trânsito? Como manter, pura e simplesmente, a confiança?
E o que se diz da vida diz-se de nós próprios. A vida ecoa, numa ressonância interna, a estrutura do mundo, ou, melhor, confunde-se com ela. A estabilidade e a solidez são-nos avessas. Toda a vida é movimento, irregularidade, agitação de formas, nada é fixo ou estável. Flutuamos permanentemente entre conselhos contraditórios. Não passamos de retalhos diversos, no fundo descosidos uns dos outros, e mesmo descosidos de nós mesmos, mesclados e remendados, diz Montaigne. A coerência não desapareceu: pura e simplesmente, ela nunca existiu. O nosso estado é inimigo da consistência. É difícil “fundar um juízo constante e uniforme” no ser humano, assunto “maravilhosamente vão, diverso e ondulante”. O espírito humano desconhece o sossego, a vida – para utilizar mais uma vez as palavras de Sá de Miranda – “está mal segura”. A mudança é permanente, di-lo a idade. Caminhamos para o meio-ser, que nos impede de nos capturarmos a nós mesmos. O meio-ser que já não sou eu, que se me escapa e me deixa para trás como uma recordação, é, paradoxalmente, aquilo que já não muda. O resultado final da mudança é a imobilidade, o esvaziamento da forma, a impossibilidade de ser outro.
Lembrei-me de Montaigne porque, no outro dia, um azar, uma irritação estúpida e egotista com o mundo, me levou a reler Uma Família Inglesa, de Júlio Dinis. E mais uma vez veio para junto de mim o Porto de meados do século XIX. Quando Carlos Whitestone, tomado de amores por Cecília, sai da casa de Cedofeita para mergulhar em românticos pensamentos, atravessa o que é hoje a Praça Mouzinho de Albuquerque, vulgo Rotunda da Boavista, uma zona de pinhais e campos, e ouve “a voz das raparigas do campo, chamando o gado, rindo ou cantando”, enquanto sonha com “uma mulher, a quem se queira como amante, que se estime como irmã, que se venere como mãe, que se proteja como filha”. Vem “cultivar a bucólica” para um lugar onde, há cerca de cento e sessenta anos, a “solidão suburbana” nos permitia respirar “a pleno peito a atmosfera balsâmica do lugar”, “longe do rumor da cidade”.
Moro hoje ali e a paisagem é diferente. Foi sobretudo muito diferente nestes últimos dias, com a celebração do S. João e o maelstrom sonoro que a acompanhava dias consecutivos. Amaldiçoei o mundo (e não só), e juro a pés juntos que, se pudesse ser transportado até 1855, na condição de não estar na Crimeia (a Guerra da Crimeia é o símbolo do mundo exterior em Uma Família Inglesa), logo o fazia. Mas chegou-me, por vias várias, o bom-senso. O mundo é todo de acontecimentos e a vida está mal segura. Sá de Miranda concorda plenamente com Montaigne. A única diferença é que Sá de Miranda chorava e Montaigne ria. Às vezes é difícil não ser como o primeiro. Mas é melhor ser como o segundo. Os campos de Júlio Dinis já não estão ali. Mas quem sabe se ainda não me vou apanhar com saudades do barulho que esteve aqui? Vale a pena repetir. Não passamos de retalhos diversos, no fundo descosidos uns dos outros, e mesmo descosidos de nós mesmos, mesclados e remendados.