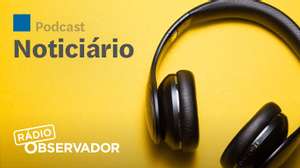Quem não conhece, nos seus mínimos traços, o organizar estatal do Socialismo? E o não-intervencionismo estatal do Capitalismo? Creio que os leitores deste órgão de comunicação sejam minimamente literados acerca dessas duas realidades. Mas, e do Distributismo, o que se saberá? Aqui talvez haja menos pessoas informadas.
É natural. Tão natural, mas verdadeiramente estranho devido ao génio de ambos, como não se conhecer G.K. Chesterton e Hilaire Beloc que tanto pugnaram pelo Distributismo. É mesmo deixando-me “faiscar” pela celebração dos 150 anos do nascimento do primeiro desses autores (29 de maio de 1974) que falarei um pouco daquela proposta no âmbito das teorias económicas (mas não só, nem essencialmente).
Relativamente alarmados pelos perigos dos possíveis extremos do Capitalismo e do Socialismo, Leão XIII (em 1891) e Pio XI (em 1931) apelaram a que se encontrasse um sistema que fosse mais equilibrado, sobretudo a nível da dignidade humana – esse absoluto respeito de Deus na pessoa e na qual ninguém pode entrar sem o consentimento dela. Levando a sério esses apelos Chesterton, e também Beloc, desenvolvem e promovem o Distributismo.
Em que consiste o Distributismo para um Chesterton que, atento à questão da propriedade e ao valor do personalismo, disse «outrora teria concordado com o socialismo, pois é simples; hoje estou em desacordo total com ele, pois é demasiado simples» [“Eugenics and Other Evils”] e que «as grandes transações financeiras com que se alimenta o capitalismo são tão morais como pirataria em alto mar» [“The Outline of Sanity”]?
Pois bem, para responder a tal pergunta é necessário reter que o essencial da preocupação de Chesterton – que não era um economista, mas um apologista cristão, escritor magnífico e jornalista – era dar a conhecer a incontestável veracidade do Deus-Amor que Incarnou em Jesus Cristo «não para amar a humanidade, mas cada pessoa» [“Twelve Types”] por um amor cheio de compaixão e deferência e, assim, resgatá-la dela mesma, sobretudo para ela se tornar dadora de prazer em vez de sorvedora do mesmo.
Com isto apontado sucintamente, para Chesterton o Distributismo era uma forma de sublinhar a universalidade do direito à propriedade na linha de um imenso esforço de pugnar contra as desigualdades sociais e económicas. E isto, não a partir de uma análise fechada ao Transcendente, mas tendo como ponto de partida justamente o que o Mesmo mostra ser o ser humano – algo que este autor afirma que é «a única forma do homem ser salvo da escravatura degradante de ser um mero filho das modas epocais» [“The Catholic Church and Conversion”].
Mas qual o motivo desta genuína inquietação para Chesterton? Há várias respostas possíveis para esta questão, a começar pelo que já se disse dois parágrafos acima, passando pela vontade de, como cristão, agitar o Mundo – não para o fazer desabar, mas para o estabilizar – e, sobretudo, levando-se a sério o devolver a todas as pessoas o âmago que lhes deve ser intrínseco nos modos de organização política, económica e social.
Modos esses, em que a pessoa humana nunca é um meio, mas um fim, pois o seu ser «imagem semelhante de Deus» o exige – a não ser que se estime tal pessoa meramente como «uma infeção da matéria» [“Alcohol, Drunkenness, and Drinking”]. Baseado na distinção entre “justiça distributiva” (do bem comum da partilha) e “justiça corretiva” (do valor comum na troca) já presente na vetusta “Ética a Nicómodo”, vemos Chesterton advogar que a primeira das duas justiças indicadas tem uma prioridade fulcral sobre a segunda.
Assim, tem-se um focar nos meios de produção, como é prática nos nossos dias na Coreia do Sul e em Taiwan, em que a propriedade alargada é o meio de se alcançar um salário justo. Já sei o que estão a pensar os teólogos moralistas especialistas na economia: “Isto não cheira a keynesianismo?” E isso não é afirmar, desde logo, a possibilidade, existente hoje, de um rico ser mais poderoso do que qualquer Estado, por meios não controláveis nem minimamente democráticos?
Ah, que “faro apurado” teriam esses teólogos. Na verdade o keynesianismo é ele mesmo “distributivista”, ou, como talvez gostarão tais especialistas de dizer, “redistributivista”. Mas há uma diferença radical que talvez possa passar desapercebida: enquanto Keynes postula, numa impossibilidade tão lógica quão prática, uma redistribuição do rendimento que se engole a si mesma, o Distributismo, segundo Chesterton, postula a partição da propriedade que, no dizer deste autor, «é simplesmente a arte da democracia» [“What’s Wrong with the World?”]; a arte, diria eu, de não condenar tantas pessoas à miséria.
Essa propriedade distribuída seria, na medida do exequível, de posse privada, sempre à pequena escala – algo que Chesterton, tanto quanto sei, não clarifica quantitativamente – e enraizada no que é local. Temos aqui um precursor do “pensar global, organizar local”? Não estou certo disso. Talvez outros especialistas, menos em Chesterton e mais na economia e na sua moralidade possam refletir sobre esse assunto, mas trata-se de algo que, no presente, me dá muitas dúvidas.
Posso é dizer que sei que – quando, por vezes, «é desconcertante ver os políticos a enganarem não só em temas de relevo para todos, mas inclusive naqueles com quem ninguém se importa» [“Politicians and Miracles”] – se o Distributismo fosse implementado, poderíamos dar largos passos para se ter uma economia mais desconcentrada e, ao mesmo tempo, uma maior cooperação comunitária apoiada na inalienável importância da família e no princípio da subsidiariedade. Princípio este, que daria às comunidades a oportunidade de tomarem as melhores decisões para as suas necessidades específicas.
Chesterton era papudo, mas não era um anjinho. Donde não se pense que ele não sabia que se o Socialismo e o Capitalismo eram meros sistemas, o Distributismo era algo mais profundo, mais essencial, mais em contacto com uma cognição integrada e integral do ser humano. Uma cognição que, por estar ausente de ciências que discorrem sobre este ser – como, entre outros, a pedagogia, a psicologia e a sociologia – não conseguem apontar caminhos sólidos para a edificação, nem do mesmo, nem da relação dele com o seu entorno.
É a partir do ser humano, da pessoa humana enquanto sujeito espiritual e, depois, da humanidade como um todo, que o Distributismo necessita de ser visto. Não, pois, a partir de uma antropologia castrada enquanto materialista e utilitarista, mas de uma que não se interroga sobre «o enigma da inevitabilidade da morte biológica humana – pois sabe que é um parto –, mas da certeza do motivo, mais negro para tantos, do ser humano estar vivo» [“The Thing”].
Ou seja: do crer que o homem, sendo imagem de um Deus-Trindade incessantemente novo numa dança eterna de amor dado e acolhido, pode ser capaz de se mover intimamente e, no que lhe é próprio, encetar alterações a nível das suas motivações e prioridades. Sim: estas alterações podem ser para pior – é o risco do livre-arbítrio –, mas também podem ser para melhor – é a felicidade da liberdade –, mas em qualquer um dos casos se mostra que o Distributismo, quando vivido (e até quando somente pensado), torna-nos «capazes de ver as coisas mais simples e até as mais evidentes» [“The Thing”].
E inclusive ser capaz de ver, se calhar, as próprias obras de Chesterton. Obras que se forem desconhecidas acabam por constituir uma das tão sedutoras recusas do amor que são imperdoáveis. Recusas estas que são, afinal e sem nenhuma contradição, as únicas que podem ser perdoadas, de acordo com o que tão deliciosamente disse, num sítio que não consegui encontrar a tempo da redação deste texto, aquele gigante da nossa humanidade livre e liberta, sobretudo do medo de viver e de amar.