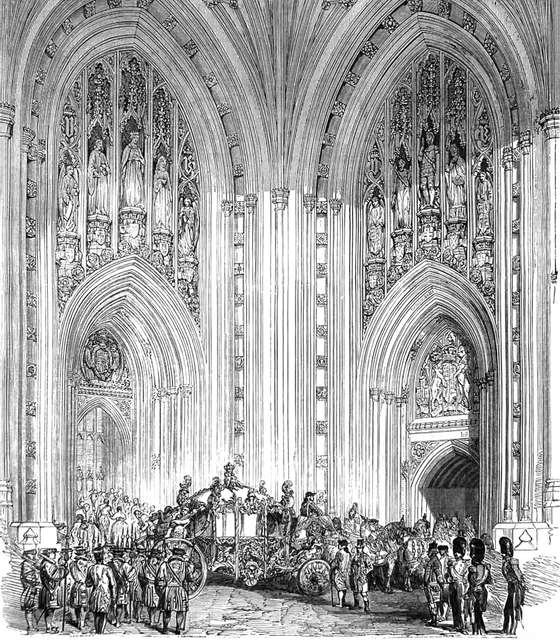We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T. S. Eliot, Four Quartets
I
Na história do pensamento político, ainda está por escrever uma obra sobre o contributo dos dandies para o progresso geral da Humanidade. Exemplos não faltam. Benjamin Disraeli (1804‑1881), o mais carismático dos primeiros‑ministros vitorianos, é apenas um deles. Como explicar que o líder conservador tenha concedido o direito de voto aos trabalhadores urbanos, com a Reform Bill de 1867, para espanto e temor dos seus próprios colegas de partido?
Sim, é possível analisar o gesto com as lentes do maquiavelismo. Peter Viereck, no clássico Conservatism, concede espaço a essa visão das coisas: depois da reforma eleitoral de 1832, promovida pelo rival Partido Whig, que chamou às urnas a classe média urbana (tradução: mais de 400 mil potenciais votantes “burgueses”), Disraeli entendeu que a única forma de resgatar os conservadores da morte lenta era apelar para a população que continuava à margem do processo democrático: a working class inglesa, nem mais, nem menos.
Mas existe outra forma de interpretar a proposta, igualmente acomodada por Viereck. Confiar que as classes trabalhadoras podiam ser compostas por “conservadores disfarçados”, dispostos a votar nos tories porque a Constituição inglesa é justamente vista como um património comum que importa conservar, revela igualmente o tipo de “estética política” que Disraeli cultivou desde a juventude literária (1). E por “estética política” pretende designar‑se uma capacidade para vislumbrar no caos da realidade dimensões morais profundas que a acção governativa persegue e concretiza. Exactamente como um artista persegue e concretiza a obra que tem em mente. Os mais pobres, parecia dizer‑nos Disraeli, não são necessariamente agentes revolucionários, como os tories temiam.
Se fossem tratados como gentlemen, eles comportar‑se‑iam em conformidade. Antes de Oscar Wilde cunhar o seu célebre “manners before morals”, Disraeli aplicou a máxima à esfera estritamente eleitoral.
Joaquim Nabuco faz parte da mesma escola e a expressão “estética política” foi cunhada pelo seu punho (p. 107). Como o próprio confessa, a sua conduta política aproxima‑o do orador, do poeta, do escritor (p. 63). E, se dúvidas houvesse sobre tal filiação e temperamento, bastaria citar o capítulo mais glosado e poderoso de Minha Formação (1900): intitula‑se “Massangana”, nome do engenho pernambucano onde o autor viveu os primeiros oito anos de vida, e que em termos puramente literários coloca o autor entre os gigantes da língua portuguesa.
Mas o interesse de “Massangana” está na forma como revela a “estética política” de Nabuco aplicada à causa que o imortalizou: a abolição da escravatura no Brasil. Dois momentos, em especial, revelam‑na de forma inesquecível. O primeiro emerge quando o autor, “sentado no patamar da escada exterior da casa”, vê um escravo abraçar‑lhe os pés, pedindo‑lhe que a sua madrinha o comprasse. O “jovem negro” procurava assim fugir do seu senhor e dos castigos de que era vítima. Nabuco comenta: “Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição com a qual eu vivera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava” (p. 229). O “espectador” Nabuco, para usar uma terminologia cara a Adam Smith (1723‑1790), era capaz de se colocar no lugar do outro; de imaginar as suas angústias e provações; de sentir, no fundo, as “primeiras vibrações do sentimento” que são sempre anteriores às grandes elaborações teóricas. O “jovem negro” foi, atenção aos termos, o “traço inesperado” de uma tela ainda por pintar.
Para quem sempre reclamou uma influência inglesa, Nabuco colocava em forma narrativa o que Adam Smith defendera filosoficamente na sua Teoria dos Sentimentos Morais (1759): existe em cada um de nós uma “paixão” natural pelo destino dos nossos semelhantes. E é precisamente pelo facto de sermos humanos que, através de um exercício de “imaginação”, somos capazes de ter “lágrimas de simpatia” (2) quando vemos espectáculos de miséria. Mais ainda: como refere Smith (e Nabuco), esses sentimentos “naturais” podem ser anteriores à reflexão sistemática; mas eles desempenham o papel basilar de qualquer acção política que aspira à grandeza ética. Nabuco não nega essas “lágrimas de simpatia”. Pelo contrário: na parte mais sublime do referido capítulo – a visita ao cemitério dos escravos, alguns anos depois – o autor invoca reminiscências de infância; chama os infelizes pelos nomes; conclui até que as ossadas que pisa pertenceram a homens que morreram sentindo‑se “devedores” do exacto sistema que os acorrentara. Não é possível encarar estas epifânicas experiências e não sentir a bússola moral em busca do seu norte. Nabuco conclui: “Foi assim que o problema moral da escravidão se desenhou pela primeira vez aos meus olhos em sua nitidez perfeita e com sua solução obrigatória” (p. 236). Uma vez mais, os termos são importantes: o problema da escravidão “desenhou‑se” aos olhos do autor com uma “nitidez perfeita”.
Há quem veja nestas sentenças um adeus ao esteta, ao dandie, ao diletante da juventude. Puro engano. Se, como dizia Keats, “uma coisa bela é uma alegria para sempre”; e se, como afirma Nabuco em homenagem ao mesmo poeta, “um único fragmento da verdadeira beleza basta para iluminar a existência humana inteira” (p. 77), então o contrário de uma tal asserção é igualmente verdadeiro: uma coisa horrenda, como a escravatura, é uma tristeza para sempre. E só uma alma com um poderoso “ímã estético” (p. 110) (outra expressão feliz de Nabuco) podia fazer da sua vida pública uma luta contra essa “mancha” grotesca no retrato do Brasil e da Humanidade.
Mas se o capítulo sobre a infância em Massangana revela a dimensão moral e estética de Joaquim Nabuco – ou, melhor dizendo, moral porque estética –, ela oferece igualmente o segundo pilar do seu pensamento político: uma preferência pelas dimensões pragmáticas da vida – e não pelo rigor utópico, abstracto, tantas vezes irrealizável de grandes sistemas filosóficos. Quando, anos mais tarde, na reclusão dos primeiros anos da recem‑instaurada República (1889), Nabuco escreve a biografia do pai, o senador Nabuco de Araújo, as palavras que dedica ao progenitor são na verdade um auto‑retrato do próprio Joaquim: “era uma natureza liberal, com um impulso imaginativo muito pronunciado, vendo distintamente o ideal político, mas querendo realidades e não fantasmas (pp. 209‑210).”

Joaquim Nabuco descreveu o seu pai, Nabuco de Araújo, como alguém que queria “realidades e não fantasmas”
Uma vez mais, e em plena consonância com a sua formação britânica, o que existe em Nabuco é a recusa da “reclusão mental”, ou seja, a tentação do espírito de se encerrar “em algum sistema filosófico ou fanatismo religioso, em uma doutrina ou em uma previsão social” (p. 74). E, para que não restem dúvidas, o autor especifica ainda mais a sua recusa da “perfeição”, da “uniformidade”, da “simetria” ao defender que a “realidade” e o “espírito prático” são os verdadeiros instrumentos da acção política consequente (p. 149). Sobre estas pedras, Joaquim Nabuco edificará a sua obra.
II
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu no Recife, a 19 de Agosto de 1849. Faleceu nos Estados Unidos, onde foi o primeiro embaixador brasileiro em Washington, a 17 de Janeiro de 1910. Quarto filho de Ana Benigna de Sá Barreto e de José Thomaz Nabuco de Araújo (um “estadista do Império”, que cumpriu o cursus honorum do seu tempo – foi deputado, ministro da Justiça e finalmente senador), o pequeno Joaquim cresceu até aos oito anos em Pernambuco, com os padrinhos, no referido engenho de Massangana. Após a morte da madrinha Ana Rosa Falcão de Carvalho – acontecimento que, para Nabuco, marca o fim da sua meninice – passará a residir com os pais na capital do Império, no Rio de Janeiro, onde faz estudos no distinto colégio D. Pedro II. Acabaria por cursar Direito nas Faculdades de S. Paulo e do Recife, de onde saiu bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, corria 1870.
A juventude de Joaquim Nabuco, nas palavras do próprio, surge marcada por um espírito de “rebeldia e independência”(p. 30) que, ilusoriamente, talvez alimentasse a suspeita de que o filho do distinto senador acabaria por abraçar a causa republicana com vestes jacobinas. Mas o percurso de Nabuco, tal como as biografias dos poetas William Wordsworth (1770‑1850) ou Samuel Taylor Coleridge (1772‑1834) já tinham demonstrado, revela o movimento contrário: do radicalismo dos verdes anos para o conservadorismo da maturidade. Ou, pelo menos na fase intermédia, para um liberalismo whig que ganhou forma graças a experiências pessoais e influências literárias.
Durante a primeira viagem à Europa, em 1873 e 1874, Nabuco sentia já o enfraquecimento das “tendências republicanas que eu porventura tivesse”, ao mesmo tempo que via fortificarem‑se as monárquicas (p. 73). Leu com prazer George Eliot e Anthony Trollope mas seria sobretudo Walter Bagehot (1826‑1877), um publicista talentoso a quem Nabuco concedeu honras de tutor, a mais profunda influência política da sua vida.
Em Minha Formação, e reportando‑se ao conjunto de artigos que Bagehot publicara na Fortnightly Review entre Maio de 1865 e Janeiro de 1867 (e que seriam a base da obra The English Constitution, hoje uma curiosidade entre os especialistas), Nabuco dirá mesmo que “a Constituição inglesa é uma esfinge, da qual foi ele [Bagehot] quem decifrou o enigma” (p. 41). E esse “enigma” está, antes de mais, na forma como Bagehot explicou a importância do “governo de gabinete” na Grã‑Bretanha, ou seja, a existência de um poder executivo que emana do poder legislativo.
Nas suas palavras, “só há um poder, que é a Câmara dos Comuns, de que o gabinete é a principal comissão” (p. 42).
As considerações de Bagehot sobre a Constituição inglesa têm importância na mundividência política de Nabuco. Primeiro, ao derrotarem no jovem brasileiro “o preconceito democrático contra a hereditariedade” (p. 47). Bagehot convence o seu discípulo das vantagens – o sentido de continuidade; a fruição das liberdades; até a igualdade de direitos sob o “império da lei” – que a monarquia parlamentar inglesa teria sobre o instável sistema presidencial. “Eu via claramente nessa não eletividade”, escreve Nabuco, “o segredo da superioridade do mecanismo monárquico sobre o republicano, condenado a interrupções periódicas, que são para certos países revoluções certas” (p. 51).
Depois, porque o conquista – esteticamente, sempre esteticamente – para a solenidade das instituições seculares e para a “impressão aristocrática da vida” (p. 136) que delas emana, capaz de derrotar “radicalismos espontâneos” ou “igualitarismos inflexíveis”.
Uma passagem de Minha Formação, usualmente ignorada, oferece‑nos a apreciação sensorial, para não dizer sensual, que a cidade de Londres lhe inspira. A capital inglesa pode não ter a beleza arquitectónica de Paris, é certo; mas o que conquista Nabuco é o “tom de majestade e soberania”, alicerçado na “dignidade”, no “silêncio que a envolve”, na “confiança que ela respira” (p. 122).
Finalmente, porque é justo afirmar que a monarquia parlamentar inglesa seria o caminho mais desejável para o Brasil, que ao concentrar todo o poder na figura do Imperador estava ainda bem longe de tal modelo. A este respeito, as observações de Nabuco sobre a natureza, a dinâmica e a necessidade da acção reformista – em páginas de Minha Formação que parecem comungar do espírito de Edmund Burke nas suas Reflections on the Revolution in France (1790) – apontam, aliás, nesse mesmo sentido: a Inglaterra ensinara‑lhe a importância permanente da reforma como mecanismo de conservação. Se Burke defendera que não era possível conservar um Estado sem mudanças pontuais, as palavras de Nabuco parecem uma paráfrase do parlamentar whig ao defenderem a importância de “conservar do existente tudo o que não seja obstáculo invencível ao melhoramento indispensável” (p. 148).
E, numa posição que lembra o clássico discurso de Winston Churchill sobre a importância de reconstruir a Câmara dos Comuns de acordo com a sua velha forma depois das destrutivas investidas da aviação nazi em 1941, antecipa Nabuco: mudar politicamente significa “reformar no sentido originário da instituição”, “procurando o traçado primitivo” (p. 149).
Se Bagehot é a sua influência confessada, é a sombra de Burke que complementa a sua gramática política. Ainda sobre a reforma, duas poderosas ideias burkeanas perpassam por Minha Formação. Para começar, um apelo à prudência e aos efeitos imprevistos (e imprevisiveis) da contingência, visível no apelo ao “dever de demolir com o mesmo amor e cuidado”, porque “a ação não pode ser de antemão conhecida” (p. 149). Por fim, existe ainda uma apologia da mudança empreendida passo a passo e não de forma violenta ou arbitrária: “demolir a nível e compasso, retirando pedra por pedra, como foram colocadas” (p. 149), é a única forma de acompanhar os efeitos (e os defeitos) dessa mudança.
Com esta sensibilidade e formação, o jovem Nabuco estava pronto para a causa de uma vida: a libertação dos escravos. Eleito pela primeira vez deputado em 1878, após a morte do pai, o seu período de “lazzaronismo intelectual” (p. 217) fixa‑se agora na “política que é história” (p. 61). O artista das sensações preparava‑se para criar a sua mais nobre composição.
III
É importante regressar à criança de Massangana para explicar o Joaquim Nabuco abolicionista na sua totalidade. O encontro vivido na infância entre o menino de oito anos e o escravo fugitivo imprimiu em Nabuco um horror instintivo pela escravidão. A visita posterior ao cemitério dos escravos incitou‑o a agir para acabar de vez com esse “império no Império” (3), como o próprio designará a escravatura na Campanha Abolicionista no Recife, em 1884.
Agora, na idade adulta, Nabuco experimentava a viagem que T. S. Eliot relata nos versos da epígrafe, regressando ao local de partida para o conhecer verdadeiramente pela primeira vez: a escravatura não era apenas um problema moral; era um problema total, no sentido rigoroso da palavra: ele espalhava‑se por todo o país – pela economia, pela sociedade, pelas mentalidades – como metástases de uma doença funesta. A escravatura, para além do horror inumano, era o obstáculo maior para a emergência de um Brasil desenvolvido e moderno.
A abolição da prática não podia ser feita com os passos tímidos que tinham sido cumpridos anteriormente: em 1831, com a ilegalização do tráfico transatlântico, apenas concretizada de facto em 1850; em 1871, com a libertação dos filhos dos escravos que atingissem os oito anos de idade, mas apenas se essa fosse a vontade do senhor em troca de indemnização estatal (a alternativa seria a mesma condição servil dos descendentes até aos 21 anos); e, em 1884, com a libertação dos escravos acima dos 60 anos de idade.
Para Nabuco, a abolição teria que ser total e sem indemnização – uma posição que o autor foi gradualmente adoptando na sua “década áurea”, de 1878 a 1888. A 13 de Maio deste último ano, fechava‑se o capítulo infame da escravatura brasileira com a vitória da causa abolicionista. Como explicar o sucesso da empreitada?
Marco Aurélio Nogueira, em O encontro de Joaquim Nabuco com a Política (um estudo a todos os títulos incontornável), relembra a explicação simples e poderosa que o próprio Nabuco repetidamente invocava: “o abolicionismo pretendia‑se maior que os partidos, visava mesmo ser o desagregador deles, o articulador da ação partidária em nível mais elevado.” (4)
Por outras palavras: a liberdade dos escravos não era uma proeza deste ou daquele partido ou facção; sobretudo a partir de 1884, converteu‑se em causa nacional, convocando a sociedade e os seus múltiplos “corpos intermédios” para o mesmo fim.
Mas se a morte da escravatura era certa, não era menos certa a morte do regime monárquico que Nabuco repetidamente jurara (e jurará) defender. Perante essa dupla fatalidade, é justa a observação da sua biógrafa, Angela Alonso, de que Nabuco expressou existencialmente a era de mudança que então se vivia, “oscilando entre a devoção à sociedade aristocrática e o empenho em reformas modernizadoras que fatalmente a destruiriam.” (5) Nabuco entendeu esse dilema. Mas esperava ainda que a liberdade finalmente conquistada reforçasse um sistema parlamentar e monárquico capaz de conduzir o país para o século xx. Como ele via, aliás, na sua tão amada Inglaterra.
Não aconteceu – mas apenas no que à monarquia diz respeito. A queda da monarquia e a implantação da República golpearam fundo a sensibilidade de Nabuco, para quem os primeiros e violentos anos da República deviam ser combatidos, não pela força das armas (apesar de ter lido Joseph de Maistre, Nabuco não se confunde com o estridente restauracionismo daquele) mas pela persuação pública. Sem sucesso: entre 1889 e 1899, desiludido com os assuntos políticos, Nabuco procurará na literatura e na religião os seus portos de abrigo. Em boa hora o fez: a monumental biografia do pai Nabuco de Araújo, Um estadista do império (1898‑1899), e o presente Minha Formação afiguram‑se como as duas obras maiores da sua carreira. Ainda regressaria às lides políticas e, como esclarece Marco Aurélio Nogueira, “o trânsito da rejeição para a colaboração com a República se deu pela via do patriotismo” (6): se existiram republicanos sob um sistema monárquico, defendia Nabuco, o inverso seria igualmente legítimo, desde que os interesses do Brasil estivessem à frente de tudo.
Pois bem: em 1899, a convite do governo, defende os interesses do país na disputa territorial com Londres sobre as fronteiras da Guiana Inglesa. Entre 1900 e 1905, seria embaixador em Londres. Terminaria a carreira diplomática em Washington nos cinco anos seguintes.
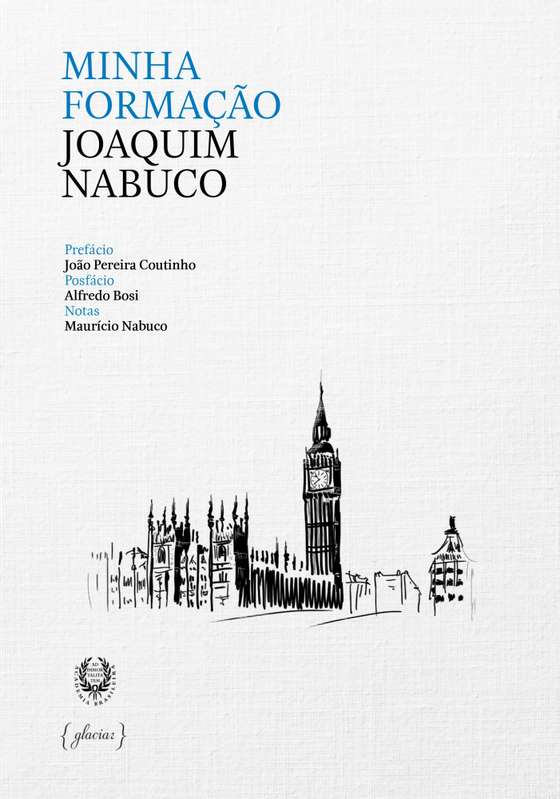
O livro é editado pela Glaciar e custa 29,68 euros. Os outros volumes lançados hoje são Antologia Poética, de Castro Alves, O Cortiço, de Aluísio Azevedo, e O Ateneu, de Raul Pompeia
IV
Ler Minha Formação, mais de cem anos depois da publicação, é uma experiência literária única: Nabuco é um dos maiores escritores da nossa língua e, diga‑se em abono da verdade, o “cânone” português não é pródigo neste tipo de documentos autobiográficos. Mas Minha Formação é mais do que isso: o relato de uma vida que, pelas palavras e pelos actos, permitiu que o Brasil enfrentasse de pé o novo século, sem a ignomínia da escravatura. Para uma alma sensível como Nabuco, é legítimo inverter a máxima de Talleyrand: a escravatura era pior do que um erro; era um crime.
Em 1880, no tricentenário de Camões, Joaquim Nabuco proclamou que o Brasil e Os Lusíadas tinham sido as duas maiores obras de Portugal. (7) Talvez tenham sido. Mas o Brasil moderno é a maior obra de Nabuco.
O autor escreve de acordo com a antiga grafia.
1 Viereck, Conservatism, Princeton: V.N. Company, pp. 45 e ss.
2 Smith, The Theory of Moral Sentiments, Nova Iorque: Prometheus, p. 99.
3 Nabuco, Essencial, São Paulo: Penguin, p. 119.
4 Nogueira, O encontro de Joaquim Nabuco com a Política, São Paulo: Paz e Terra, p. 159.
5 Alonso, Joaquim Nabuco, São Paulo: Companhia das Letras, p. 16.
6 Nogueira, O encontro de Joaquim Nabuco com a Política, São Paulo: Paz e Terra, p. 260.
7 Alonso, Joaquim Nabuco, São Paulo: Companhia das Letras, p. 120.