Índice
Índice
“E o que será da virtude quando for necessário enriquecer a qualquer preço? “. É com esta frase de Jean-Jacques Rousseau que André Canhoto Costa, autor de vários livros sobre História e um amante confesso de futebol, abre a sua nova obra. “Personagens Malditas da História” é uma viagem pela vida de nomes sonantes, reconhecidos, influentes e inesquecíveis… pelos piores motivos. Sem eles, o rumo da humanidade não seria o mesmo, mas apenas porque foram asssassinos sanguinários, filósofos excêntricos, líderes impiedosos ou fanáticos religiosos.
Nesta pré-publicação, André Canhoto Costa levanta-nos a ponta do véu e deixa-nos revisitar as vidas de D. Sebastião, Marquês de Pombal, Nero e Karl Marx. A obra, editada pela Saída de Emergência, está nas bancas por 14,94 euros no site da editora.
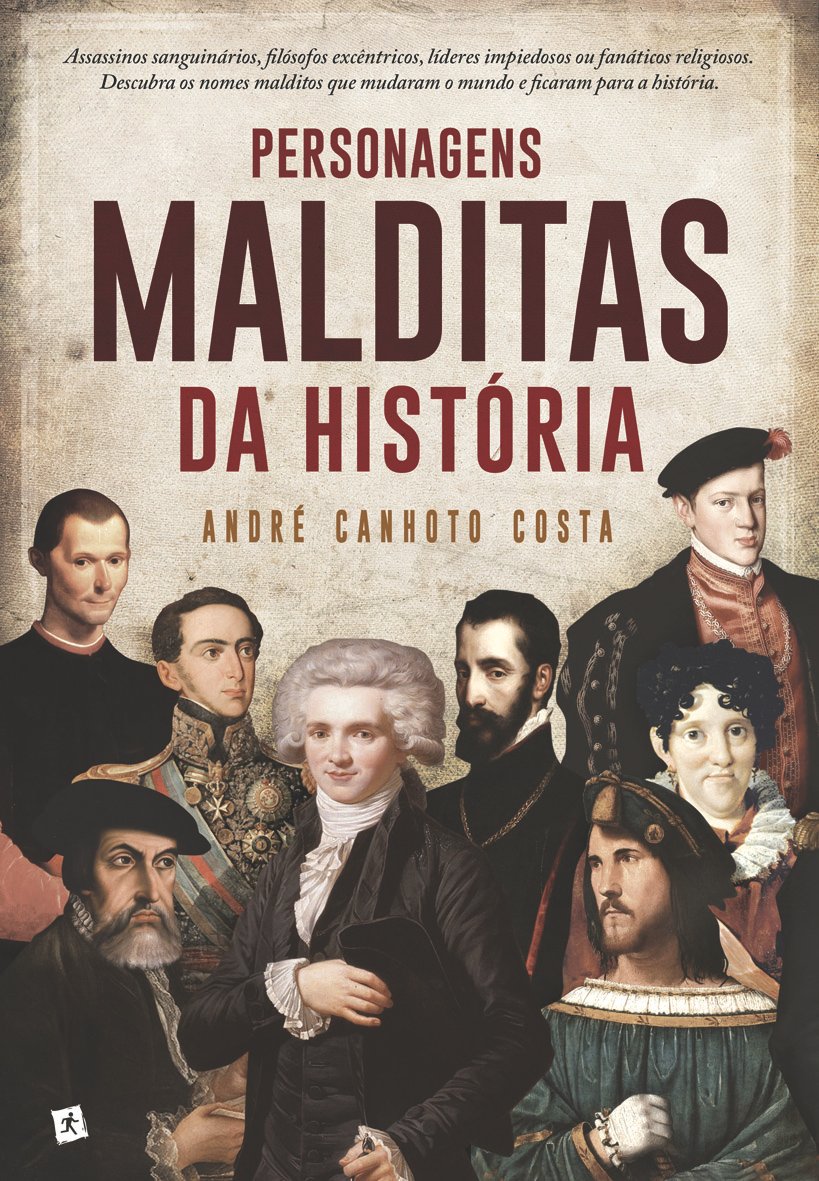
D. Sebastião, criança suicida
Ainda antes dos dez anos de idade tive conhecimento a existência de um rei, chamado D. Sebastião, não por meio de qualquer livro infanto-juvenil, mas pela voz de um cantor chamado José Cid , autor de um disco de rock experimental, qualificado por já não sei que revista americana, como um dos melhores cem álbuns de sempre.
Isto será suficiente para fazermos uma pausa e respirarmos fundo. Qualquer coisa se passa aqui. Depois de D. Afonso Henriques, o heroico mata-mouros e fundador de Portugal, e antes de D. João V, o histrião de Mafra e o gastador de ouro, nenhum outro rei beneficiou de tão longa fama, e atormentou durante tanto tempo as cabeças das crianças portuguesas, estando por todo o lado, nos ditos populares, nos currículos escolares, nos filmes de eruditos realizadores de cinema, nas canções dos festivais, nas canções revolucionárias. Só os computadores e a invasão da música anglo-americana terão definitivamente empurrado para fora da cultura popular portuguesa esse «cadáver adiado que procria». Cadáver adiado que procria?
Apesar de tudo, simpático, pois vários médicos publicaram ao longo do tempo, diversos estudos, onde o rei é apresentado como paranoico, neuropata, monomaníaco e débil275. Para se ver o que pode custar a uma pessoa não ter sucesso na vida.
Quando a história me começou a interessar, com o seu misto de fantasia e literatura, o desastre de Alcácer Quibir tomou lugar destacado. O famoso retrato de D. Sebastião era uma constante dos manuais escolares e, pelos quinze anos, a professora de história de arte levou os seus alunos (onde se encontrava o autor destas linhas) ao Museu de Arte Antiga de Lisboa. Estive diante da pintura de Cristóvão Morais, como se na sala de familiares afastados e muito ricos, impressionado pelo focinho do cão de caça afeito à cintura do monarca, a armadura fabulosamente trabalhada, com punhos e gorjeira de onde saem folhos, a mão esquerda na espada, e sobretudo a cara do rei, qual menino gordinho, louro, balofo e mimado. Aquela juvenil figura era intrigante e os filmes do realizador Manuel de Oliveira agravaram o problema, quando no fim da adolescência vi a invocação da batalha de Alcácer Quibir, com um cavaleiro vestido de lata, a bandeira à ilharga: imaginemos D. Quixote embriagado, a cambalear num cenário de fumo e corpos decepados. O facto de o ator ser também protagonista em novelas de qualidade duvidosa causou ruído suficiente para a cena ser mais inspiradora de riso do que da comoção trágica. Num outro momento do filme, mais perturbador, um jovem oficial do exército português em plena guerra de África, em abril de 1974, morre numa emboscada, delirando, e o espetador chega a sentir uma certa vergonha alheia quando D. Sebastião desce das nuvens, vindo molhar a espada no sangue derramado pelo jovem soldado.

Créditos: Wikimedia Commons.
Talvez os portugueses tenham especial talento para transformar as tragédias em comédias, o que é uma virtude. Conta-se que nos campos de Alcácer Quibir, depois da batalha, havia dez mil guitarras, um manifesto exagero, após uma noite de vinho e cantoria. Um bom morrer, a vida honra, diziam os manuais de cavalaria espiritual tão amados por D. Sebastião, e há diversos relatos sobre as palavras edificantes do rei, no derradeiro incitamento à batalha. Se é para morrer, morramos com estilo. A soldadesca parecia ter assumido o espírito com antecedência, passando a noite a beber e a cantar; por certo, tinham uma ideia bem diferente do que é morrer com estilo. Figura enigmática, Sebastião arranjou um sarilho em torno de si quase maior que Portugal. Ainda recentemente, em dezembro de 2011, um jornal de grande tiragem, afirmava triunfante a publicação de um livro, onde se apresentavam «provas» sobre o facto de D. Sebastião ter «sobrevivido à batalha de Alcácer Quibir, reaparecendo no ano de 1598 em Itália, onde foi mais tarde preso em Veneza, Florença e Nápoles, com a cumplicidade dos espanhóis».
Impressionante, é o mínimo que se pode dizer sobre esta tendência para ressuscitar o cadáver. Sem dúvida, o rei tinha uma natureza complicada. Ainda adolescente, saía altas horas de madrugada acompanhado do seu pajem, D. Álvaro de Meneses, caminhando por praias desertas, amando a solidão da noite. Qual Hamlet, príncipe de Portugal. Na verdade, D. Sebastião jogou tudo e tudo perdeu, atirou a sua juventude para a guerra, mas não se furtou ao combate, numa época onde se considerava já ridículo o rei acompanhar o exército em batalha. Resultado: ninguém acreditou que tal fosse possível. Quando se procura o sucesso com muita força, às vezes custa muito acreditar no desastre.
O jovem
O pai de D. Sebastião, João Manuel, e filho de D. João III, muito dificilmente seria rei de Portugal, mas tornou-se príncipe herdeiro depois da morte dos seus quatro irmãos mais velhos. Contudo, João Manuel morreu pouco antes do nascimento do seu filho Sebastião. A mãe de Sebastião, Joana de Áustria, usou luto severo depois da morte do esposo. Sempre de véu nas audiências públicas — recato de tendência muçulmana a que a corte portuguesa demorou séculos a desabituar-se — comia em mesa baixa, como os humildes secretários e escrivães do rei, deixou de tocar a viola (uma paixão da juventude) e passou a estar toda empenhada na fundação de conventos. Depois da morte de D. João III — o avô do príncipe Sebastião — a educação do herdeiro foi disputada pelo irmão do rei morto, o cardeal D. Henrique, promotor dos Jesuítas e defensor da integridade portuguesa. Com efeito, cinco dias depois da morte de D. João III, foi jurada herdeira a criança de três anos e meio, a 16 de junho de 1557, mas garantida a educação do pequeno Sebastião pela rainha viúva, D. Catarina de Áustria.
O ambiente não devia ser o mais animado, apesar dos espelhos de Veneza, das almofadas da Holanda e dos esmaltes de França. Mortos todos os nove filhos de D. Catarina, e a maioria ainda antes dos catorze anos, e encarregue, já velha mulher, sobretudo para os padrões da época, do governo de um reino com numerosos territórios além-mar, em claro crescimento da burocracia imperial e dos problemas comerciais. Francisco de Borja, antigo duque de Gandía, jesuíta e depois santo, embora apreciasse ser tratado por «o pecador», representava em Lisboa os interesses espanhóis, na confusão familiar que unia as duas famílias reinantes, querendo Carlos V jurar como herdeiro, em caso de morte de D. Sebastião, um seu filho, o príncipe Carlos. Pela corte andava a filha de D. Manuel, a infanta Maria, lenda de beleza, a pele clara e os olhos azuis, e musa inacessível desse fidalgo rafeiro, obscuro e duvidoso, duas vezes condenado por pequenos delitos, Luís de Camões.

Créditos: Wikimedia Commons.
Sebastião lá ia crescendo, a saltitar pelos aposentos da rainha, cuidado pelos seus criados. De Roma, chegou o jesuíta Luís Gonçalves da Câmara para educar o herdeiro. Para missões mais comezinhas como aprender a ler e escrever, foi encarregue o padre Amador Rebelo. A criança, pelos vistos, era viva, gostava de jogos. Mas Sebastião era colérico, o que não espanta, rodeado de tantos homens santos. Não terá sido fácil crescer num ambiente político de aberta crispação. D. Henrique procurou minar a influência castelhana e criticava as decisões da regente, D. Catarina. Mas o êxito da rainha a coordenar a defesa de Mazagão contra os ataques mouros agradou aos meios populares, e D. Catarina, apoiada por um inteligente e experiente secretário, Pedro Alcáçova Carneiro, demonstrava inteligência. O tom de adulação presente nas cartas do embaixador em Roma, Lourenço Pires de Távora, a Pedro de Alcáçova Carneiro, traduzia a sua posição privilegiada na Corte, o que nas palavras do professor Romero Magalhães «só se entende com os muito poderosos». Não admira esta deferência perante o secretário, pois D. Catarina conferia às cartas redigidas pelo punho de Pedro de Alcáçova Carneiro o mesmo signidicado das cartas escritas pela própria mão da rainha.
Esta proximidade entre D. Catarina e Alcáçova Carneiro decorria de uma combinação de interesses. Sendo a rainha mulher e sem experiência da decisão, fundava as suas decisões no secretário, ajudando-o, pois nunca um homem da escrita teria, por si só, estatuto para atingir as altitudes do poder. Contudo, farta das tentativas para subtraírem à sua influência o futuro rei de Portugal — lembremos que D. Catarina era espanhola, irmã de Carlos V — a rainha convocou as cortes para 11 de julho de 1562, numa sala do paço da Ribeira, D. Sebastião tinha oito anos. D. Catarina renunciou ao cargo e impôs dez dias para nomeação do cardeal D. Henrique como regente. No dia 23 de dezembro aceitou o cardeal a regência, desde que D. Sebastião fosse aclamado rei aos catorze anos e não aos vinte, que era a idade recomendada pela prudente vontade de D. João III. A ameaça pendente sobre a escassez de herdeiros reais ditava recomendações claras: que o rei mal fizesse nove anos fosse afastado das mulheres e entregue à companhia dos homens, vestindo, falando e cavalgando à portuguesa, e mal tendo idade, devia ser casado com uma princesa vinda de França, ainda criança, e criada em Portugal, não se dando ofícios da casa do príncipe a estrangeiros. Prova de que D. Sebastião tem as costas largas em relação ao delírio bélico é que nesta altura se desfizeram os Estudos de Coimbra e se mandou que o dinheiro dos estudos fosse aplicado na guerra de África, e quem quisesse estudar fosse a Salamanca ou a Paris.
Bem, os estudos de Coimbra custaram, entre 1522 e 1543, 30 000 cruzados, enquanto os casamentos da família real e presentes principescos custaram 1 550 000 cruzados. Não é fácil medir o valor em moedas antigas e, por vezes, em moedas contemporâneas, diga-se em abono da justiça. Mas para se ter uma ideia das prioridades, note-se que as esquadras de proteção do Brasil e da costa da Malagueta custaram, no mesmo período, 160 000 cruzados. Embora o rigor contabilístico não fosse um atributo do reino de Portugal, os números indicam pelo menos, com alguma segurança, uma hierarquia de importância. Os festejos da reprodução da monarquia custavam quase metade de um dos mais importantes aspetos da administração do império. Mas decidir o que era o império, e qual a razão para o manter, não era fácil. D. João III quis mesmo abandonar Safim, Azamor, Arzila, Alcácer Ceguer. Na Corte, ninguém se entendia sobre a estratégia. O duque de Aveiro chefiava um grupo, o duque de Bragança, outro. Só duas coisas eram seguras: um forte ambiente de ódio ao espanhol e uma religiosidade arcaica.
D. Sebastião, rei de Portugal
Com o crescimento de D. Sebastião e a aproximação da sua aclamação como rei, Alcáçova Carneiro, responsável por grande parte da estratégia de D. Catarina, falhou a nomeação para conselheiro do novo rei, perdendo a carruagem do poder. Nesta época, em meados de 1568, já D. Sebastião fazia «coisas estranhas» e o seu confessor, Luís Gonçalves da Câmara, era quem governava. O crescente poderio da família Câmara irritava grande parte da Corte. Em 1569, no primeiro ano do governo de D. Sebastião (tendo o rei quinze anos) reuniu em Almeirim, o Conselho de Estado, tribunais e oficiais da Chancelaria régia. O rei foi incentivado a fazer escolhas e restabeleceu o cargo de escrivão da puridade — uma espécie de primeiro-ministro — nomeando o irmão do seu confessor, ou seja, o antigo reitor da Universidade de Coimbra, Martim Gonçalves da Câmara. Este Martim Gonçalves da Câmara era um homem já muito influente, com administração de uma grande parte dos assuntos de justiça, que na época implicava também controlar a nomeação de muitos dos servidores do rei, além de fazer parte do grupo restrito dos membros do Conselho Geral do Santo Ofício, a Inquisição.

Primeiro mapa de Portugal, desenhado durante o reinado de D. Sebastião. Créditos: Wikimedia Commons
Martim Gonçalves da Câmara e o seu irmão, o confessor do rei, Luís Gonçalves da Câmara, construíram uma poderosa aliança. Foram os Câmaras a afastar do rei D. Sebastião o cosmógrafo-mor e matemático, Pedro Nunes, e parecem ter instilado no rei a aversão ao casamento. Talvez tenham também soprado ao ouvido do jovem monarca a necessidade de D. Sebastião se encontrar livre para a preparação da Jornada em África. Segundo um famoso documento da época, o Memorial de Pero Roíz Soares, o escrivão da puridade, Martim Gonçalves da Câmara, rapidamente se tornou uma sombra de D. Sebastião, chegando a rasgar documentos assinados pelo rei. Certo escrivão, ao apresentar uns papéis para D. Sebastião assinar, quando o rei seguia em viagem atravessando a fronteira do Algarve com o Alentejo, confidenciou que «dali por diante olhasse sua Alteza como punha os pés, pois entrava no Reino de Martim Gonçalves». Farto da omnipotência do ministro, D. Sebastião acabou por discutir com Martim Gonçalves da Câmara, que terá saído do Paço, batendo portas com estrondo e abandonando a corte, mas as coisas ficaram de tal forma que só a menção do nome de Martim Gonçalves da Câmara enfurecia o rei.
Um rei como os outros
Em 1570, D. Sebastião transmitira ao Conselho de Estado a preocupação com a defesa do litoral. Era comum nessa época, a ocorrência de ataques mouros às costas do Algarve. O rei estava preocupado com a fortificação das praças e assuntos militares, querendo formar um exército mais organizado e dependente do rei291. Tanto no reino como no império. Mas não só: peocupou-se com a Casa dos Vinte e Quatro, que regulava o trabalho dos artesãos de Lisboa, combatendo reeleições dos mesmos indivíduos e eleições de parentes de parentes, para evitar a corrupção. Em 1573, incentivou o fabrico de lã em Portugal. Em 1574, preocupou-se com a administração de S. Jorge da Mina, de onde chegara muito ouro, embora já custasse mais do que rendia. Embora não existisse contabilidade tal como a entendemos hoje, pairava nos corredores do paço a ideia do endividamento galopante, «de se gastar mais do que se havia». O excelente historiador Queirós Veloso refere a existência de um défice considerável em 1563. Se os historiadores falam da duplicação dos salários (artesãos, pedreiros ou carpinteiros) o custo de vida também subia, e muito mais. O preço do trigo terá crescido seis a oito vezes.
A crise do império ameaçava o reino. Entre 20 e 30% da população portuguesa no século XVI seriam viúvas, o que era uma situação insólita, com um impacto profundo na economia, pois muitas das profissões dificilmente podiam ser desempenhadas por mulheres. Começava a duvidar-se da honestidade dos governadores de Goa e do negócio das nomeações, pois era comum a falsificação de listas de pagamento com marinheiros e soldados já mortos. Como se vê, nada se inventa na literatura, e a ideia do escritor russo do século XVIII, Pushkin, a partir da qual o famoso Nikolai Gógol construiria o enredo do seu livro Almas Mortas — um impostor viaja pela Rússia profunda comprando listas de servos já falecidos a m de obter benefícios económicos — pelos vistos, já tinha sido inventada pela aristocracia portuguesa. Talvez Pushkin tenha lido sobre o tema, por algum livro francês sobre a decadência do império da Índia portuguesa.
A razão da guerra
D. Sebastião vai ao convento de Xabregas e, na madrugada de 12 de fevereiro, D. Catarina balbucia diante do rei, preces para evitar a ida do neto a África. Tudo indica que também Filipe II tentou demover também D. Sebastião, mas este tão desajeitado quanto poderoso monarca, escolheu o relatório técnico para falar aos ouvidos de um jovem rei. Contudo, a D. Sebastião não interessava o palavreado militar dos capitães, com análise dos pontos de fogo e das condições geográficas das fortificações. Como escrevia o embaixador de Filipe II, D. João da Silva, aquele «moço ferve».
O moço Sebastião fervia, portanto, no lume das convicções religiosas, num século onde apesar de tudo, já se ia recorrendo aqui e ali aos esforços da razão lógica. Já o papa, Gregório XIII, considerava o empreendimento «próprio da grandeza e do prestígio passado e presente do reino português». Apesar da campanha de Alcácer Quibir ter entrado no imaginário popular como um rotundo fracasso, fruto da inexperiência do rei, o ataque tinha a sua racionalidade. Só não ajudou muito o facto de D. Sebastião ter perdido a batalha. Quando os ingleses decidiram bombardear as mais variadas possessões coloniais em pleno século XVIII, ninguém se lembrou de os considerar dementes por uma única razão: tiveram sucesso. No fundo, quanto mais mergulhamos nos pareceres e memoriais, escritos naqueles anos de 1577 e 1580, mais se nos afigura difícil ter uma ideia clara sobre o alcance da empresa fatídica. O rei pretendia estrangular a rota do Levante (a passagem de mercadorias da Índia pelo Egito, até ao mediterrâneo), o que era essencial para fazer frutificar a rota marítima do Cabo, nas mãos dos pilotos e capitães portugueses, e impedir a reorganização dos Venezianos e com isso, travar a queda do comércio de especiarias em Lisboa. Todavia, ganhar guerras em África não seria propriamente como caçar veados nas orestas do Alentejo.
A campanha
O exército, contratado em larga medida no estrangeiro — como era comum na época — começou a chegar a Portugal em maio. Alemães, holandeses, valões (todos trazendo consigo mulheres e filhos) num total de dois mil e oitocentos soldados, chegaram a Belém e caminharam depois até Cascais. O facto de serem maioritariamente hereges (protestantes) em vias de terçar armas contra exércitos espanhóis, em nada diminuía o ardor contra o inimigo comum, o mouro. Iriam juntar-se uns milhares de italianos, cerca de três mil, empenhando para isso, D. Sebastião, joias da sua casa. Os castelhanos, sobretudo andaluzes, eram para cima de mil e seiscentos, e vieram pela fronteira alentejana. Os portugueses eram mil e quatrocentos, entre numerosos dalgos pobres e quatro terços de três mil soldados vindos de todo o reino. O recrutamento, como era muitas vezes hábito, era um negócio, e as famílias com dinheiro livraram os seus lhos da guerra, pagando aos capitães. Juntavam-se ainda as tropas de um rei mouro, cerca de mil soldados, e os mil e quinhentos cavaleiros portugueses de Tânger e Arzila. O exército atingiria os vinte e quatro mil homens. Quando o exército confluiu para Lisboa, numa invasão de soldados estrangeiros, a prostituição atingiu picos seculares, o que não ajudava à concentração. Mal se dispuseram os homens em treino, os exercícios foram considerados ridículos, desordenados. O exército era indisciplinado, apesar dos esforços do rei, entrando D. Sebastião nos exercícios como simples soldado, para dar o exemplo. Muitos dos homens andavam em rixas, os portugueses matavam soldados castelhanos, e foram mesmo presos vários capitães italianos, por distúrbios.

Batalha de Alcácer Quibir. Créditos: Wikimedia Commons
Em todo o caso, isto não nos deve impressionar, era a norma dos exércitos da época, um bando mais ou menos descontrolado que os experientes generais manobravam à distância, como uma força da natureza, que pode atirar-se contra o inimigo, mas nunca se deixar inteiramente controlar. Apesar dos treinos, digamos, pouco entusiasmantes, Sebastião deixou um conjunto de aristocratas e secretários como governadores do reino e partiu. No dia 14 de junho, vestido com as cores do galo (veludo carmesim e chapéus de plumas brancas) em corcel ajaezado, D. Sebastião foi em direção ao navio almirante e chamaram a toque de trompa os soldados ao embarque. Estavam ancorados no rio Tejo, galeões, naus, caravelas e urcas, toda a espécie de barcos, por onde subia o material de guerra, tendas e provisões. Aqui começa o desfile das coisas desnecessárias: doces, baixelas de prata, vinhos generosos, para não falar dos séquitos (por vezes chegando até cinquenta criados) de alguns dos aristocratas. Algumas fontes falam em sessenta mil homens, três vezes o número de soldados, e mais de seiscentas velas, mas isto era uma expedição onde cabia meio mundo, incluindo o poeta Diogo Bernardes para cantar a épica vitória. Largou expedição a 25 de junho de 1578, parou em Cádis até 7 de julho e partiu depois para Tânger. O rei pernoitou ali na casa do governador e no dia 11 estavam de partida para Arzila. Discutiu-se o ataque a Larache por mar, ou a entrada por terra, em direção a Alcácer Quibir, encontrando o exército de Abd al-Mâlik, ou seja, o exército a derrotar. Alguns dos aristocratas portugueses opuseram-se, devido ao poderio terrestre dos dez mil cavaleiros de Abd al-Mâlik. O problema da entrada por terra era a facilidade de emboscada e o terrível desgaste da marcha sob o calor do verão, a falta de mantimentos, e naturalmente a dificuldade de fuga do rei, em caso de derrota.
Pelos vistos, havia gente avisada. Corriam os boatos dos gigantescos exércitos de al-Mâlik e das propostas de trégua, estando al-Mâlik disposto a entregar Larache aos portugueses. Perto do dia 22 de julho, o sultão muçulmano ainda escreveu a D. Sebastião propondo trégua com avisadas palavras: «se atribuíres (este pedido de trégua) ao medo ou à cobardia, isso será o princípio e o meio da tua perdição». E acrescentou: «isto há de custar mais vidas do que podem caber grãos de mostarda num grande saco. És moço e experimentado; tens cavaleiros com quem te aconselhas, já que não queres o meu conselho». Talvez não tivesse. A guerra de informação não é uma inovação da modernidade. Um francês, talvez pago por al-Mâlik, espalhou entre as tropas portuguesas ter estado no campo inimigo, onde se contavam trinta e quatro peças de artilharia, dezassete mil cavaleiros e dez mil atiradores, isto é, um poderio enorme. O barão do Alvito ainda terá proposto abortar a missão, travando o rei pela força, se necessário, mas era tarde.
Descrição de uma batalha
Os relatos da batalha são um daqueles casos onde a profusão de crónicas e textos de sentido diverso são tantos e tão contraditórios, que se torna impossível saber com detalhe como tudo se passou. As tropas tinham diante um rio, e D. Sebastião mandou observar se era possível passar a vau — conforme a memória da passagem de um antigo Capitão de Arzila — e os especialistas voltaram com informações cautelosas. Os veteranos de África, como D. Duarte de Meneses, aconselharam a evitar a passagem — devido aos problemas de não acertar com a maré vazante e apanhar a reponta da maré, transformando o leito num imenso lodaçal — mas D. Sebastião não quis recuar, decretando a passagem do rio.
A batalha foi de tal ordem que até a imagem da Rainha Santa Isabel em Coimbra terá suado, e por diversas vezes. Uma série de bispos e cardeais e mulheres santas avistaram esquadrões, cenas da batalha, combates, espadas de fogo, mas este dotes de visão seriam inegavelmente de maior utilidade se aplicados à estratégia militar, no campo de batalha. Mas ao que parece, também D. Sebastião foi rezar momentos antes do confronto. Segundo se sabe, os mouros iniciaram as hostilidades, cerca das dez horas da manhã, com tiros de artilharia.
É então que o leitor destes relatos antigos não pode deixar de comover-se quando lê a facilidade com que foram destroçados os soldados no centro do exército português, pastores, cabreiros, gente do campo, aterrados e mal preparados, mal se opuseram ao ataque. Segundo alguns relatos árabes, o rei mouro aliado dos portugueses atrapalhou-se com o cavalo, em fuga através do rio, e morreu afogado. Abd al-Mâlik, muito doente, morreu na sua liteira, durante a batalha. Quanto a D. Sebastião, terá levado um tiro. Mas o mesmo autor fala num filho de D. Sebastião, o que prova não terem sido apenas os soldados portugueses a beber vinho durante a batalha. Na verdade, D. Sebastião foi avistado, já ferido, a lutar, quando já a retaguarda do exército português tinha sido destruída e era varrida a tiro de arcabuz. Foram vários os que do pequeno grupo de fidalgos, acompanhando o rei, terão pedido para recuar, salvando-se o monarca. Talvez se tenha dado então o diálogo tornado famoso. D. João de Portugal terá perguntando a D. Sebastião: «que pode haver aqui que fazer, senão morrermos todos?» E o rei respondeu: «morrer sim, mas devagar».
Caminhando através do nevoeiro

Reconhecimento do corpo de D. Sebastião. Créditos: Wikimedia Commons.
Apesar das lendas e da obsessiva renovação do mito, nos meses e anos logo a seguir à batalha circularam muitas descrições, dos autores mais diversos, com testemunhos da morte do rei e mesmo de quem tinha visto o corpo do jovem Sebastião. Estava completamente nu, desfigurado e inchado devido ao calor, mas não restando qualquer dúvida sobre a sua identidade, o que motivou lágrimas nos fidalgos expostos ao horror. O corpo tinha diversas feridas na cabeça, uma muita profunda, vários vestígios dos tiros no torso, e muitas feridas nas mãos. Quando se invoca uma suposta manipulação política espanhola, para justificar as notícias falsas sobre a morte do rei, julgo que o inverso é mais provável. Foi sobretudo em Portugal que se deu o silenciamento da morte do rei, por motivos óbvios: vergonha, antes de mais. Depois, para criar um mito de resistência contra o domínio espanhol. Na verdade, o corpo de D. Sebastião foi enterrado em Alcácer-Quibir em final de agosto, depois desenterrado em dezembro de 1578 e transportado para Ceuta, escoltado por nobres portugueses resgatados.
Corria o mês de novembro de 1582, quando Felipe II faz repatriar o corpo de Ceuta para o Algarve. O corpo de D. Sebastião foi então conduzido com grande pompa, por terra, e sepultado no mosteiro dos Jerónimos303. Terá sido remetida ao Cardeal D. Henrique uma prova documental sobre a morte do rei, com testemunhos dos vários fidalgos, entre os quais o duque de Barcelos e o conde de Sabugal, confirmando a morte em batalha. O escritor do século XVIII, Duarte Barbosa de Machado, escreveu com invejável lucidez, sobre os delírios sebastianistas: «preocupados com futuras felicidades, suspiram que chegue aquele tempo, em que se verá restituída a Portugal a idade de ouro; não reparando que todas as suas esperanças se desvanecem no ar, e se resolvem em fumo». E acrescentou sobre D. Sebastião: «mais ambicioso da própria morte, que da alheia, rompendo arrebatadamente pelo centro da bárbara multidão que o cercava, se fez invisível aos olhos de todos, por cuja causa será sempre o suspirado assunto, e eterno argumento das saudades portuguesas». Não nos resta muito mais do que reconhecer uma certa grandeza nisto. Ou uma infinita estupidez.
Marquês de Pombal, salvador da monarquia
Para os historiadores, o Marquês de Pombal é um daqueles personagens a que é difícil ficar indiferente. Quanto à maioria da população, o caso será diferente. Todavia, lá está o Marquês de Pombal «com farta cabeleira de canudos e soberbo leão à ilharga» no monumento de Lisboa. A expressão é do mais elegante escritor, entre os historiadores portugueses: o velho professor republicano de Coimbra, Joaquim Romero Magalhães. Contudo, quando foi construído o monumento a coroar a Avenida da Liberdade, o monumento foi apelidado por alguns eruditos como uma «apoteose de mau gosto e estátua monstruosa». Aos milhares de peões e condutores de carros, motas e autocarros, todos os dias circulando em volta da estátua, não preocupam estes dilemas. O Marquês de Pombal, tão alto foi colocado pela fúria comemorativa, que acabou fora do campo de visão dos lisboetas. Quando se marcam encontros para o Marquês (a comemorar títulos desportivos ou para frequentar feiras do livro) o nome talvez já não invoque, na imaginação da maioria, mais do que uma pintura antiga, um terrível terramoto e algumas ideias vagas sobre a reconstrução de Lisboa.
A primeira vez que falhei uma viagem para o Brasil também eu pouco mais sabia sobre o Marquês de Pombal: era o homem de Viena e Londres, o herói do Terramoto, o perseguidor dos jesuítas, o organizador dos estudos e promotor das fábricas e do comércio, o homem da repressão da nobreza e da centralização da contabilidade, o homem da modernização do Estado. Era ainda o homem para quem o Brasil — joia da Coroa — devia ser protegido dos ingleses. Nesse ano de 2007, já sabia alguma coisa sobre a importância do Marquês de Pombal no controlo do comércio do açúcar e dos comissários que no Brasil controlavam aquilo que hoje chamaríamos a distribuição e retalho. Durante meses trabalhei num arquivo, copiando minuciosamente todas as referências sobre oficiais (hoje diríamos funcionários) nomeados pela Coroa de Portugal para representar e fazer cumprir os interesses do rei (guerra, justiça e fazenda) na região sul do Brasil, desde o século XVI até ao fim do século XVIII. Comecei a perceber nessa altura como o Marquês de Pombal era o homem da guerra aos jesuítas no Sul, arrasando aldeias indígenas — tal como retratado num famoso filme com Robert De Niro e Jeremy Irons.

Créditos: Wikimedia Commons
Em todo o caso, nas minhas listas de oficiais, a criação de um governo autónomo em S. Paulo era difícil de explicar com uma visão racional e sistemática. A 6 de janeiro de 1765, D. José restaurou a Capitania de São Paulo, nomeando governador o Morgado de Mateus, cuja fortuna era das maiores de Portugal e dono do imponente palácio nos arredores de Vila Real, chegando o poderoso fidalgo (e tenente-coronel do Regimento de Chaves) a S. Paulo em 1766. As instruções dadas ao Morgado de Mateus falam na necessidade de «consolidar o domínio das capitanias do Brasil pelos meios próprios e e cazes», retorquindo contra «os inimigos os mesmos ardilosos artifícios» com que usurpavam o reino e o Brasil, sem acharem ninguém que lhes fizesse frente. Só podia ser o paranoico Marquês de Pombal a falar, com a sua retórica de conflito e constante autoelogio. Pombal era claramente um homem de alguma inteligência, mas apreciava os bajuladores, o que é péssimo sinal. Mas ao atentar nessa figura que agora aparecia também diante dos meus olhos, Inácio José de Alvarenga Peixoto, nascido no Rio de Janeiro em 1744 e diplomado pela Universidade de Coimbra, autor de insuportáveis poemas de homenagem ao Marquês de Pombal e família, nomeado um dos mais importantes magistrados em Minas Gerais, o abismo da História abria-se debaixo dos meus pés. Este Peixoto (poderoso magistrado) envolveu-se em negócios de mineração do ouro e agricultura e acabou endividado. Depois participou numa revolta contra a Coroa Portuguesa em Minas Gerais — única salvação — perdeu a causa, foi preso na fortaleza da ilha das Cobras do Rio de Janeiro e morreu desterrado em Angola. O homem com estudos, posição e ligações, caiu com estrondo. Como aliás o próprio Pombal, mas também o hoje obscuro inimigo de Pombal, Alexandre Gusmão.
Não é fácil encontrar um sentido causal na política e muito menos na História; isso era para mim cada vez mais evidente. No início do verão, devia ir falar sobre o tema da administração do Brasil, no Rio de Janeiro, cumprindo as minhas funções como bolseiro do projeto. Nas semanas antecedentes, tentei chegar a uma visão sistemática sobre a administração da Coroa e esgotei todas as energias. Nem história política, nem estruturalismo. Na noite anterior à viagem, completei o Power Point, arrumei as coisas, coloquei a mala ao pé da cama e depois, a arder em febre, passei a noite num estado delirante, a imaginar-me perdido nas favelas, o Cristo Redentor de costas, as íngremes escadarias, chapas de zinco, as crianças pobres; ao longe, os morros luxuriantes, a miséria a dançar de pandeiro na mão e eu metralhado em todos os locais que a belíssima, inóspita, paradisíaca e bizarra geogra a do Rio de Janeiro proporciona. De manhã, aterrorizado, avisei o meu simpático contacto, encarregue de ir buscar-me de automóvel ao aeroporto — uma rapariga que nunca cheguei a conhecer e que imaginei sonolenta, atendendo o telefone em algum andar da periférica selva urbana carioca — e dei conta do meu triste destino: estava esgotado, mal conseguia estar de pé, sofria tonturas fortes, não conseguiria estar presente. Não sei se o Marquês de Pombal tinha conhecimento das orelhas ou cabeças de escravos fugidos, cortadas em nome da Coroa de Portugal, como recompensa (cerca de 71 gramas de ouro por escravo morto e 21 gramas por cabeça ou par de orelhas) fixada na lei régia. Mas nesses dias, a pergunta veio muitas vezes à minha imaginação.
Vivendo no conselho cujo mais famoso conde foi o Marquês de Pombal, não havia como fugir: todos os dias tinha de passar diante do seu imponente palácio, com jardins barrocos, e o arco de pedra sobre a ribeira, a caminho do mar, tudo construído com o dinheiro ganho à custa do Estado. À medida que o cansaço foi sendo vencido pelo repouso, pensei muitas vezes no Marquês de Pombal como símbolo da tragédia política portuguesa. Último esforço de grandeza ou derradeiro prego no caixão? Nunca saberemos dizer. E por isso, o Marquês de Pombal foi transformado em arma de arremesso.
Ao Marquês de Pombal foram imputadas culpas do que não fez, desculpadas atrocidades e roubos, e reconhecidos ganhos políticos imerecidos, até se ter transformado numa figura de cera, desconhecida e intocável, ao dispor dos usos comemorativos e da retórica revisionista pró-jesuítica. Sobre o iluminismo e ideias progressivas do marquês de Pombal, até custa a considerar como o assunto ainda merece o castigo da ignorância. Camilo Castelo Branco bem se esforçou, ao escrever uma obra erudita e perspicaz, onde o Marquês aparece como alguém caracterizado pelo «estrabismo político, processos comezinhos e uma velha e estreita arte de governar». Mas Camilo Castelo Branco chegou ao fim da vida e deu um tiro na cabeça.
Origens obscuras
O Marquês, como é óbvio, não nasceu marquês e apenas obteve o título em 1769 (com 71 anos de idade). Tinha passado a conde de Oeiras em 1759. Mas nasceu Sebastião José de Carvalho e Melo, em Lisboa, numa família da pequena nobreza. O pai chegou a comandante de cavalaria da Corte. O tio, mais influente, foi professor na Universidade de Coimbra e arcipreste (uma distinção religiosa) do Patriarcado de Lisboa. Carvalho e Melo era o mais velho dos doze irmãos. Após a morte do pai, e perante as dificuldades financeiras, administrou a propriedade da família, perto de Pombal. Frequentou o serviço militar, mas não conseguiu promoção, onde até criados dos fidalgos eram promovidos.
Andou então, como era hábito em fidalgos de mediana riqueza (lembremos Camões) metido em cenas de pancadaria, pelas ruas de Lisboa. Cortejou por essa altura uma viúva, mulher madura e apetecível, D. Teresa de Noronha e Almada. Fugiu com ela para Soure, com reprovação do seu tio, até então seu protetor, o prestigiado arcipreste, Paulo de Carvalho. Ameaçado pela família Noronha, ferida na sua honra, Carvalho e Melo ficou pela província, odiado e obscurecido, «comendo a broa de Soure», como o próprio haveria de dizer mais tarde. Corria o período dourado do reinado joanino. Camilo Castelo Branco é quem melhor nos serve, se hoje quisermos imaginar a Corte e as suas relações pessoais, onde a política não era definida ainda por partidos ou constituição. No centro do poder, estava o rei, e as suas relações pessoais eram o esteio do governo público do reino. Naturalmente, isto era um barril de pólvora. Em 1738, vamos surpreender a Corte em plena tourada real e, no varandim, as damas convivem com os ministros e o rei. No colo da princesa do Brasil e futura rainha, D. Maria Ana Vitória, sentava-se o filho mais novo da marquesa de Távora, José Maria. A sua irmã, Leonor, futura marquesa de Alorna, tinha dez anos. D. Teresa de Távora tinha quinze anos e estava prometida em casamento ao seu sobrinho, Luís Bernardo de Távora. O príncipe José aí estava, olhando, ciumento e lascivo, para a adolescente Teresa. Contaram-se 3728 carruagens, ou seja, «pelo menos 7456 cavalgaduras; isto, num dado momento, à volta de uma praça de toiros, poderá significar a dissolvência de um país, demonstrando-se que uma autonomia pode ser dissolvida a coices». Enquanto a tropa portuguesa mendigava, o rei pagou a um cantor uma fortuna!

Créditos: Wikimedia Commons
Com este estado de coisas, o mérito dependia do salão, e Carvalho, curiosamente, não era dos piores, fosse na dança ou na conversa. Lá conseguiu um lugar na Academia Real da História (para a qual, obviamente, não produziu nenhum estudo digno de registo). Neste momento, em 1738, ocorre a nomeação para a carreira diplomática em Londres. E gerou polémica. Não tinha licenciatura universitária, escrevia mal. Ouçamos Camilo: «Sebastião era bastante bronco: sejamos justos.» Talvez seja exagerado, mas Sebastião José era mal visto, por baixo nascimento e pelo casamento polémico com uma sobrinha do conde de Arcos. Além disso, o pai de Carvalho e Melo tinha falsificado assinaturas para forjar documentos sobre as origens. A mulher de Carvalho e Melo morreu um ano depois, em 1739.
Um homem português em Londres e Viena
Em Londres, se não aprendeu inglês, aprendeu a dominar os instintos e aguardou por um casamento à altura das suas ambições. Que tipo de conhecimentos tinha? A lista de livros não se pode confundir com a leitura. Se é verdade que existia grande diversidade de conhecimentos práticos na sua biblioteca (sobre capacidade de transporte dos navios, pesos, leis comerciais, navegação, preços), os seus raciocínios eram pomposos, rebuscados e pouco originais. A sua obsessão com a defesa militar dos territórios portugueses seria um sinal da sua complexa modernidade: à falta de melhor expressão, cunhou-se o déspota iluminado. Defendendo a expulsão dos ingleses das possessões da Coroa de Portugal na Índia (Salsete e região de Bombaim), Carvalho e Melo ajudou a convencer D. João V a enviar a marinha de guerra portuguesa para a Índia. O irmão de Carvalho e Melo (por ele criado «e a quem amava como um filho») foi morto na defesa de Goa, em 1740.
Apresentou com um romancista inglês, John Cleland, um projeto para a criação de uma Companhia das Índias Portuguesa. Cleland tinha vivido em Bombaim entre 1728 e 1740 como soldado e funcionário da Companhia de Comércio Inglesa. Foi depois preso por dívidas e escreveu um magnífico livro, polémico e escabroso à época, Memórias de uma mulher de prazer, o que o levou novamente à prisão. Obviamente, a ideia foi rejeitada em Lisboa. Carvalho e Melo justificou o fracasso com os seus inimigos políticos. Pouco depois, foi transferido para a Áustria; apesar de tudo, um cargo menos influente. A ida para Viena foi explicada como uma ação para o afastar dos projetos comerciais, pondo nos braços de Carvalho e Melo as difíceis negociações. Mas foi ajudado pelo conde de Tarouca, um aristocrata português, fugido em aventura com o irmão de D. João V, quando era ainda rapaz, e a residir em Viena desde então, muito próximo da imperatriz e com cargos prestigiados. Provavelmente, por influência do conde de Tarouca, viria a casar muito alto, em Viena, em 1746, com Maria Leonor Ernestina Daun, descendente de uma prestigiada família de aristocratas com honrado passado militar. A imperatriz da Áustria, Maria Teresa, agraciou pessoalmente o casamento. Não se pode saber como conseguiu Carvalho e Melo a nomeação como Secretário de Estado, mas o facto de ter sido a regente Maria Ana de Áustria a assinar a carta de chamada do ministro a Portugal, para servir como secretário de Estado, levou os historiadores a falarem na ligação da sua mulher com a mulher de D. João V.
Ouro e decadência
A situação em Portugal não era famosa. A corte era dominada por um partido onde pontificavam dois homens brilhantes, de baixa extração: Alexandre de Gusmão (um aventureiro com estudos e experiência diplomática como secretário das embaixadas) e Martinho de Mendonça de Pina e de Proença (um intelectual e bibliotecário com pouco sentido político). D. João V adorava estes dois homens, mas cada vez mais doente, já não os podia proteger. O poder estava por isso em disputa e tudo valia. A questão central daqueles anos de 1748 e 1750 era a cobrança dos direitos reais sobre o ouro em Minas Gerais. Alexandre de Gusmão inventara um método moderno, com administração dependente de Intendências e nomeada em Lisboa. Gusmão queria regular o negócio das Minas, afastar os mineiros sem grande capacidade para investir em minas de perfuração e levar a mão-de-obra escrava para outros locais do Brasil, pois as minas de ouro atraíam todo o tipo de gente apostada em enriquecer rapidamente, tornando os preços das coisas muito altos e causando um problema social grave.

Créditos: Wikimedia Commons
Mas os valores cobrados por cabeça de escravo, artesão ou dono de loja eram considerados muito elevados. Como os mineiros estavam habituados a ter muitos escravos a crédito para alavancar os seus negócios e utilizaram esta mão de obra barata numa mineração de ribeiro, somente com uma pequena bacia, a Capitação tornou-se num sarilho. Entre os escravos que eram dispensados pelos senhores e os lojistas e artesãos de origem escrava pouco interessados em pagar o tributo, encheram-se as aldeias clandestinas, os chamados «quilombos». Em 1746, o governador de Minas Gerais tinha organizado uma expedição punitiva, paga pelas câmaras municipais com um exército, armado com pólvora, canhões e granadas para arrasar os quilombos, oferecendo o governador mais 42 gramas de ouro por cada escravo morto. Carvalho e Melo conseguiu a abolição deste método fiscal. Convenceu os membros do conselho, onde se decidiam os assuntos ultramarinos, escrevendo pareceres entre 1749 e 1750.
Quando D. João V morreu no último dia de julho, Carvalho e Melo espreitou o seu momento. Já tinha manobrado a sua influência junto do príncipe D. José e conseguiu ser nomeado secretário de estado numa das três Secretarias do reino. A razão óbvia de que a mulher do rei prestes a ser aclamado também era austríaca não parece suficiente. Certo é que Carvalho e Melo fez passar uma nova lei dos direitos do ouro — que era uma parte muito importante dos rendimentos do Estado — e afastou Gusmão, passando este a ser mal recebido na Corte. A todos os que tentavam falar com o rei, D. José mandava para o Secretário de Estado, Carvalho e Melo. Alexandre de Gusmão morreu a 31 de dezembro de 1753 e, com a sua morte, desaparecia o único ministro com dimensão intelectual e coragem política para enfrentar Carvalho e Melo.
O terramoto político
O historiador José Subtil defendeu a interessante tese de que a supremacia de Carvalho e Melo se deu por acidente. Quando em 1755 o violento terramoto, seguido do maremoto e de um violento incêndio destruiu o centro da cidade — devorando os edifícios e grande parte dos arquivos e da memória política do reino — o pânico instalou-se.
Era um exercício de poder na planificação das obras, na escolha dos arquitetos, no redesenhar das ruas e das propriedades — e Carvalho e Melo aproveitou até onde conseguiu. Se por um lado, modernizou o desenho das ruas e incentivou estruturas mais fortes contra futuros terramotos, por outro lado, favoreceu nos negócios uma série de amigos.
A influência de Carvalho e Melo também dependeu muito da sua capacidade de trabalho, que muitos diziam monstruosa, uma característica típica dos obcecados com o poder. Embora por vezes se force a imagem de Sebastião José de Carvalho e Melo como um reformador e inimigo da nobreza, a sua fúria não era particularmente seletiva. Quando favoreceu a criação da Companhia das Vinhas do Alto Douro, em 1757, com o pretexto de melhorar a qualidade do vinho do Porto, lesou um grande número de pequenos comerciantes. A 23 de fevereiro, alguns taberneiros, prostitutas, escravos e garotos de rua dirigiram-se a casa do representante da justiça do rei, no Porto, pedindo o fim da Companhia. Treparam às torres da Igreja da Misericórdia, tocando os sinos a rebate, e o regedor, obrigado pela multidão, expediu ordem para que toda a gente comprasse e vendesse vinho como quisesse. Dirigiram-se a casa do Provedor da Companhia e, em frente à sua porta, gritaram com alegria o fim da Companhia. Mas alguém não apreciou o tumulto e disparou de um dos andares superiores dois tiros de bacamarte, ferindo alguns dos que estavam na rua. A alegria transformou-se em fúria, e a multidão subiu à casa, partiu os móveis e destruiu os papéis da companhia. Pombal mandou magistrados ao Porto para castigar a multidão, pondo à disposição da justiça mil e duzentos soldados da guarnição do Porto, mais quatro regimentos de infantaria e um batalhão de cavalaria, chamados de outras terras. A cidade foi cercada pelas tropas e começaram os interrogatórios e as prisões, torturas. A sentença condenava 407 homens, 54 mulheres e 17 menores. Com confiscação de bens, açoites, degredo, galés. Foi aplicada a pena de morte a 21 homens e 5 mulheres, sendo as 17 crianças condenadas a assistir às execuções. É este o homem que temos colocado no cimo de uma avenida em Lisboa. A historiografia regista outros eventos menos estudados: os incêndios de Monte Gordo e da Trafaria, devido à revolta dos pescadores, o envenenamento do jovem cardeal Saldanha, e o esquartejamento bárbaro de um genovês acusado de atentar contra a vida de Carvalho e Melo.
O atentado e a repressão
A noite de 3 de setembro de 1758 foi a seguir à lua nova. A escuridão das ruas obrigava a usar a luz dos archotes. D. José I seguia numa carruagem, com uma amante, regressando às barracas da Ajuda, pois ainda não se construíra o palácio real. Três homens terão disparado contra o rei, provocando-lhe ferimentos no braço. Carvalho e Melo foi implacável. Controlou de perto o processo de julgamento, aditando notas pela sua mão, sobre denunciantes ouvidos na sua casa. Torturou testemunhas e obteve a confissão da família Távora e do duque de Aveiro, um fidalgo com hipóteses de subir ao trono. A marquesa Leonor de Távora, o seu marido, o conde de Alvor, todos os seus filhos, filhas e netos foram presos. O duque de Aveiro e os genros dos Távoras, o marquês de Alorna e o conde de Atouguia foram também presos com as suas famílias. A filha da marquesa, Teresa de Távora, seria amante do rei, o que tornava o assunto ainda mais delicado.
A sentença foi lida a 9 de janeiro de 1759. Os Távoras foram condenados à morte, incluindo mulheres e crianças, mas a intervenção das mulheres da família real poupou as crianças. A 13 de janeiro de 1759, num descampado próximo de Lisboa, em Belém, subiram ao cadafalso os condenados. À velha marquesa D. Leonor foram mostrados os instrumentos do suplício e descrita a execução do marido, filhos e genro. No fim desta sessão explicativa, a marquesa foi decapitada. Subiram depois ao cadafalso José Maria, Luís Bernardo, Jerónimo de Ataíde, Manuel Álvares, João Miguel e Brás Romeiro. Ficaram com os braços e as pernas partidos, esmagados com rodas e foram depois decapitados. Sofreu depois o mesmo tratamento o marquês velho e o duque de Aveiro. António Álvares Ferreira, autor do disparo, foi queimado vivo. Os corpos foram queimados e lançados ao Tejo. As mulheres foram encerradas em conventos. O marquesito de Gouveia, filho do duque de Aveiro, foi preso, embora tivesse apenas dezassete anos.
Um homem chamado José Policarpo, que tinha ligações ao duque de Aveiro, não foi apanhado. Ainda se perdoava menos, um tal facínora de baixa extração, ter ousado, ao que tudo indica, por dinheiro, atentar contra a vida do rei, conseguindo fugir. Não existia maior pecado: pobre, assalariado e regicida. Sebastião José nunca deixou de procurar este tal Policarpo. Escreveu cartas para França e Espanha em busca do regicida Policarpo. Quanto aos presos não sentenciados com a morte, o marquês de Alorna escreveu a sua experiência no interior do cárcere, apesar da proibição de material de escrita. Lavava com o vinagre dado ao jantar os pés das cadeiras vermelhas, e foi com esta tinta que produziu este valioso documento, relatando celas escuras, com cano de esgoto muito perto, cheiro nauseabundo, mesmo para a época, embora as condições não fossem diferentes dos presos de delito comum. Os fidalgos construíram camas a partir de portas velhas, pedindo autorização para comprar os barrotes. O desembargador responsável pela prisão, escolhido por Carvalho e Melo, ali estava para atormentar e matar ocultamente os presos, segundo a acusação do marquês de Alorna. A um guarda que ameaçou «coser a facadas os presos», o desembargador disse: «facadas não, bastará a murros». O escrivão não aparecia durante anos nas celas dos presos. «As duas mulheres ajudantes da cozinha eram dois monstros».

Das mulheres pretas «talvez pela semelhança do seu estado de escravidão» vinha a única piedade e compreensão. Não tinham roupa os presos, por se ter deixado romper a que traziam. A comida era má. Compravam à segunda-feira a carne em Oeiras (se calhar ao próprio Marquês de Pombal) e salgavam-na para o resto da semana. O marquês de Alorna confessa haver cães mais bem tratados, pois não lavavam as panelas, nem os pratos, e a comida tinha um cheiro fedorento. Não se permitia muitas vezes o tratamento médico e muito menos comprar medicamentos. Às prisões da Junqueira também foram parar homens como António Freire de Andrade, com 80 anos, pelo delito de ter «falado e escrito livremente contra o Marquês de Pombal». Ou o procurador-geral do jesuíta, José Perdigão, o confessor da rainha, ou Timóteo de Oliveira, e o cronista Francisco Duarte, que no forte da Junqueira, compunha poesia «com tinta feita de borra de azeite, usando uma pena, um pau de alecrim, porque ter tinteiro era crime de Lesa Magestade». O Visconde de Vila nova de Cerveira morreu no castelo de S. João da Foz e, quanto ao conde da Ribeira, a família só teve conhecimento da morte quando o procurava na prisão. O conde de Óbidos foi encarcerado na Junqueira, de forma dura e, segundo se diz, por ter proferido um dito contra o Marquês de Pombal; o Procurador da Fazenda, António da Costa Freire, por se ter oposto a uma negociata de pólvora, lesando o tesouro régio. Ao comerciante Martinho Velho, a fortuna foi confiscada. D. Manuel de Sousa Calhariz, preso com os filhos, por envolvimento na conspiração de 1758, acabou morto na torre de S. Julião da Barra.
Quando se deu a extinção da Companhia de Jesus, a situação agravou-se. Sebastião José tinha dois objetivos: controlar o Brasil, onde os jesuítas tinham uma influência territorial enorme, e a educação no reino, onde os jesuítas controlavam as principais instituições de ensino. As fontes são contraditórias, mas falam em 120 jesuítas presos em 1756, dos quais, 80 mortos no cárcere. Alguns historiadores falam em 2400 mortos na prisão. Um livro italiano fala em 9640 presos mortos nas prisões. Destes, 3970 não teriam qualquer processo em curso ou culpa formada. Carvalho e Melo chegou a colocar um dos filhos como Presidente da Câmara de Lisboa. Aliás, a prática de ocupar todos os cargos do reino com pessoas escolhidas por si, segundo o critério da obediência, é talvez o que mais distingue o Marquês como estratega. Sebastião José forçou uma rapariga de quinze anos, o que apesar de tudo não era raro na época, a casar com o filho José Francisco. A rapariga recusou-se a deixar consumar o casamento, ameaçando resistir até à morte. Sebastião fechou-a no convento do Calvário em Évora, mas a rapariga manteve-se inflexível, durante nove anos, até sair, quando o ministro foi afastado. A pedido do filho, Carvalho e Melo conseguiu anular o casamento, por intermédio do núncio e do cardial patriarca. Forçaram a filha de Nuno Távora, preso na Junqueira, e sobrinha do marquês estrangulado, D. Francisca de Lorena, a casar.
O político
Carvalho e Melo aprendeu em Inglaterra a eficácia das Companhias de Comércio, mas não lhe passou pela cabeça reproduzir o gosto pelo risco e pelo crédito, a democracia económica e uma marinha de guerra poderosa e letal. Deste modo, a Companhia para a Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ou mais tarde (1773) a Companhia Geral das Reais Pescarias do Reino do Algarve, para explorar a pesca, seriam sempre controladas por interesses internacionais. O estímulo às fábricas foi mais bem-sucedido, mas implicava medidas fiscais cada vez mais duras. Travou a Inquisição e acabou com as distinções entre cristãos-velhos (com ascendentes judeus) e cristãos-novos. Em termos económicos, foi mediano. Organizou a contabilidade com a criação do famoso Erário Régio e fundou uma Aula de Comércio em Lisboa. Esforçou-se por criar um grupo de negociantes ricos ao serviço de Portugal, mas não compreendeu que isso era uma estratégia arcaica. Na educação, apesar da lenda, Carvalho e Melo foi um desastre. Apesar das reformas na Universidade de Coimbra, a redução de alunos foi brutal. O erro de Carvalho e Melo não foi a expulsão dos jesuítas — cujo monopólio da educação era um sinal de atraso — mas não ter promovido alternativas e abrir realmente as universidades a um maior número de alunos. Confirmou ainda a proibição de livros com a criação desse organismo ridículo, a Real Mesa Censória (1768).
A queda
A morte de D. José não deixou qualquer espaço de manobra a Carvalho e Melo. Quando o secretário de Estado foi demitido do governo, a rapaziada de Lisboa recolhia panos velhos e fazia bonecos, imitando a figura do marquês de Pombal. Enforcavam e queimavam o boneco, em julgamentos sumários. Quando Pombal recolhia a Oeiras, foi necessário tomar providências: as carruagens seguiam à frente e o ministro, caído em desgraça, seguia atrás numa sege alugada.
A rainha D. Maria demitiu Carvalho e Melo e permitiu a abertura de um processo.
Entre os principais conselheiros da rainha havia conhecidos inimigos de Pombal: o marquês de Marialva, o Marquês de Angeja e o visconde de Vila Nova de Cerveira.
Perante as acusações, o marquês de Pombal fez uma apologia do seu ministério, o que valeu um decreto da Rainha a 3 de setembro de 1779, a desaprovar «a afetada e frívola» apologia. Em 1781, a rainha declarou que as respostas do Marquês de Pombal agravavam ainda mais as culpas, mas pelo avançado da idade, foram perdoadas as penas corporais, sendo apenas banido, mantendo-se à distância da Corte e permitindo que todos os prejudicados pelas decisões do Marquês pudessem proceder na justiça, contra a sua Casa, tanto durante a sua vida como depois da sua morte, indemnizados das perdas, danos e interesses. Perdoava-se a satisfação da justiça mas não o que respeitasse a particulares e danos do Património Real, o que indiciava não só uma péssima gestão das Finanças Públicas, contrariamente à lenda, como talvez o saber-se que Pombal teria enriquecido mais do que a conta.
Logicamente, um homem habituado ao poder, quando é desterrado, adoece. Durante esse ano, sofreu contínuas hemorragias, por via intestinal. Os seus inimigos atribuíam o caso à lepra, considerada doença hedionda e repugnante. O Marquês confessava-se vencido pelas «descargas» e pelos cinquenta e tantos dias de perguntas, em sessões de quatro a oito horas e meia, sendo muitas das vezes levado em braços para a cama, por dois criados. Num sábado de dezembro, saiu da presença do juiz, depois da meia-noite e quarenta. Já muito debilitado, escreveu ao Dr. António José Pereira, professor na Universidade de Coimbra e famoso médico. O Dr. Pereira fez a viagem e considerou as hemorragias fruto de tumores, concentrados no lado esquerdo, mas ficou preocupado com as pústulas, espalhadas pelo corpo. Sebastião José pediu ao médico que «como filósofo cristão o desenganasse, pois não temia a morte, mas a conta dela perante deus». O médico não o enganou. A carta ao filho a 8 de dezembro de 1781 reflete coragem e estoicismo: suplica ao filho que permaneça junto da Corte para cumprir «as honrosas obrigações no serviço de nossos augustíssimos amos e clementíssimos senhores, porque não deves abandonar e deixar ao desamparo essa atormentada e perseguida casa (a família Pombal) em uma ocasião tão crítica, como a presente; e porque, pelo que pertence ao cuidado da minha doença tenho dois médicos (…) e tenho por desveladas enfermeiras a tua mãe e duas filhas, que são inseparáveis do meu leito. Somente será preciso que as venhas buscar, quando eu chegue a falecer.».

Estátua do Marquês de Pombal em 1933. Créditos: Wikimedia Commons
Morreu no mês de maio de 1782, e em junho já o visconde Vila Nova de Cerveira pedia informações secretas sobre o conteúdo da oração fúnebre e epitáfio das cerimónias de enterramento do Marquês, onde esteve presente o Bispo de Coimbra, prevendo algum tumulto. Os dois filhos continuaram a servir na corte, reconhecidos como descendentes da Casa Pombal, sendo nomeado o mais velho para o Conselho de Estado. De acordo com a autópsia, o coração era enorme, hipertrofiado. «O cérebro, onde nasceram as ambições, também volumoso», escreve Lúcio de Azevedo. Quando as tropas de Massena entraram em Portugal, como era hábito, rebuscaram os túmulos mais importantes, para roubar o fato, esporas e espada.
Foi o que ocorreu com Pombal, mas os ossos ficaram pelo chão. Em 1832, um jesuíta francês, chamado a Portugal por D. Miguel, quis celebrar missa na presença do intrépido inimigo da Companhia. Não existia túmulo, os ossos repousavam a um canto, num esquife coberto por um pano mortuário. Em 1856 foram os ossos trasladados para Lisboa para a Capela das Mercês, e celebrada missa, por ordem da Câmara Municipal de Lisboa, em reconhecimento dos serviços prestados pelo Marquês no terramoto de 1755. Na revolta republicana de 5 de outubro de 1910, alguém terá entrado na Capela das Mercês, arrombando o túmulo. Ainda em 1923, circulava um panfleto contando a história dos ossos do Marquês: O que se tem passado com os ossos do Grande marquez de Pombal desde 8 de Maio de 1782 até hoje, distribuído à porta das escolas de ensino secundário e liceus. Para evitar a perturbação da tranquilidade pública e evitar fantasmas políticos, os ossos foram transportados numa manhã de maio para o átrio da Câmara Municipal de Lisboa, até serem levados para a Capela da Memória, na Ajuda. Mas era um fantasma difícil de enterrar. Enquanto os restos mortais estiveram na Câmara, escreve o marquês de Rio Maior e descendente do velho marquês, não se permitiu a colocação de um crucifixo junto da urna, por expressa proibição do presidente, dado o receio dos inevitáveis desacatos.
Nero, artista de si mesmo
Nenhum vestígio da antiguidade é tão fácil de entender como o delírio no estádio. Mas nada está tão longe de nós como o sentido de honra e coragem moral dos romanos. Talvez tenhamos aproveitado a pior parte. Expurgámos os jogos da sua violência, mas mantivemos todo o aparato ridículo em torno das guras públicas. Da força da ilusão, e da indiferença do público às erudições dos historiadores, dá testemunho a continuada lenda sobre o massacre de cristãos por Nero no Coliseu — mundializado por Hollywood — apesar de Voltaire o ter desmentido, com inigualável rigor e eloquência, há mais de duzentos anos. No tempo de Nero, o Coliseu não fora ainda construído, e apesar de ser plausível o massacre de cristãos (entre outras seitas e grupos) naquela arena, não se encontraram registos desse facto. Mas antes de inventarem o conceito de televisão em movimento, já a Igreja manejava, há séculos e com invejável perícia, o conceito de espetáculo, ou seja, aprendeu muito rapidamente a sua lição romana.
Na noite de sexta-feira santa de mil novecentos e oitenta e sete, saí com os meus pais e irmãos, descemos a ladeira alcatroada, subimos o morro, contornámos o campo de futebol, por uma estrada de terra, até ao pátio do convento. Diante da multidão, um grupo de soldados romanos, com lanças e capacetes, vigiava o preso à luz dos archotes. O preso era Jesus Cristo, identificado pelo cabelo comprido e a barba por aparar, encontrando-se manietado — para utilizar a expressão evangélica — e ferido. Jesus seguiu depois até ao salão da coletividade da vila, escoltado e insultado pelos soldados. Dessas primeiras impressões negativas da civilização romana, felizmente, já nada resta. Os romanos não inventaram a violência, antes pelo contrário, mas talvez tenham inventado o espectador dos atos violentos: sem a atração do gladiador, talvez essa performance suprema da resistência física, a paixão de Cristo, não tivesse o menor sentido. Curiosamente, Nero foi o primeiro imperador romano a suicidar-se, obedecendo aos ensinamentos do seu mestre: não te demores demasiado numa vida indigna. Não nos admiremos com esta obsessão pelo controlo da vida; no fim de contas, as nossas prateleiras estão cheias de livros de autoajuda.

Crédito: Wikimedia Commons
Os antigos acreditavam na qualidade do sangue e por isso, tentaram criar imperadores como se criam animais de raça; perseguidos pela loucura, abraçavam os exercícios da mente. Os imperadores tinham os mesmos problemas ou piores: eram candidatos ao governo, mas eram também fruto da consanguinidade. Bem tentaram misturar-se com os deuses, mas havia demasiados juristas em Roma, sempre atentos às ilegalidades. Transmitir o poder em Roma era um sarilho, daí ser necessário investir muito em propaganda, e Nero não se fez rogado, foi o verdadeiro fundador do comício político, com mesa farta e divertimento musical. Juvenal, o poeta satírico, haveria de estranhar: não admira que o nobre participe numa farsa, quando o imperador toca lira.
Reunindo em si todos os pecados, ao menos, partilhou com o povo de Roma a sua devassidão.
O nascimento sombrio
Do casamento de Agripina, irmã de Calígula, e de um pretor de reputação duvidsa, Cneu Domiciano, nasceu o pequeno Lúcio Domiciano. O parto ocorreu durante a alvorada, quando o sol se erguia no horizonte.
Corria o ano 37, depois do nascimento de Cristo, embora esta referência em nada contribua para esclarecer a vida de um imperador romano. O pequeno Lúcio ficou órfão do pai, aos três anos de idade. Quando Agripina foi afastada de Roma por Calígula, Lúcio acompanhou a mãe no exílio. Na selva política de Roma, nada estava garantido e Calígula, a mulher e a filha, foram assassinados em 41. Cláudio, o tio do imperador — apesar de cobarde e velho — ascendeu ao poder. Foi então permitido a Agripina regressar a Roma com o seu filho. O agora imperador Cláudio e a sua mulher, Valéria Messalina, tinham dois filhos, Cláudia Otávia e Britânico. Como Calígula morrera sem herdeiros e Messalina queria proteger o seu filho, Britânico, como candidato ao poder, terá mandado estrangular durante o sono o filho de Agripina e sobrinho do imperador, Lúcio, como seu principal concorrente, em caso de morte de Cláudio.
Se o leitor se perdeu nesta oresta de nomes e intrigas políticas, já tem uma ideia do problema em que viviam os romanos. O talento político de Agripina e a sua arte na sedução deviam ser admiráveis, pois o seu filho Lúcio não foi estrangulado, e quem acabou executada foi Messalina, a mando do seu marido e imperador, Cláudio. Estranha decisão. Mas segundo a famosa descrição de Juvenal, Messalina saía todas as noites, com uma peruca loura, mostrando os mamilos dourados, servindo todos, e regressando à casa imperial, com o cheiro do prostíbulo, exausta, numa busca incansável por satisfação sexual. Um ano depois, com quem terá casado o imperador Cláudio? Com Agripina, claro; mais uma escolha, no mínimo, duvidosa. Pouco depois, o imperador adotou o pequeno Lúcio, agora apresentado publicamente como Nero. Reconhecido como adulto em 51, com apenas catorze anos, Nero foi educado, a pedido de Cláudio, por um dos mais brilhantes senadores, Séneca, um andaluz profundamente culto, muito sábio, e não menos profundamente hipócrita.

Representação de Nero por Abraham Janssens. Créditos: Wikimedia Commons
Suetónio descreve sombriamente a primeira aparição de Nero no Forum: um demagogo, prometendo presentes ao povo e dinheiro aos soldados. Em 53, Nero casou com a filha do imperador, Cláudia Otávia, embora não a amasse. A união foi contratada aos onze anos e o casamento celebrado aos quinze; no fundo, um ato político, como todos os casamentos das famílias distintas nas sociedades antigas. Nesse ano de 54, Nero ofereceu jogos e festivais, como se a par do seu casamento estivesse em preparação a morte de Cláudio. E estava, pois Cláudio morreu. Não existem provas do assassínio de Cláudio, nem sabemos se ocorreu mesmo por envenenamento (ordens de Agripina) como referem os historiadores antigos. Sendo Cláudio um alcoólico viciado em banquetes, a morte pode ter sido natural ou até devido a cogumelos venenosos. Também a bisavó de Agripina, Lívia, foi acusada de envenenar Augusto, abrindo o caminho do poder ao seu filho, Tibério. Mas Lívia passou à história como inocente, enquanto Agripina foi considerada culpada: é a chamada roleta da História.
Nero tornou-se imperador, ainda antes de fazer os dezassete anos. Na verdade, não existia um mecanismo de sucessão, consensual, no império. Como se o combate pelo poder fosse a garantia da qualidade e robustez dos vencedores. Triunfaria quem fosse capaz de sobreviver numa selva de golpes e conspirações. E assim, a luta pelo poder multiplicava os mortos, nos degraus de mármore na cidade imperial. Agora, imaginemos Nero aos dezassete anos, a caminho da glória. Para o imperador com ambições de ter uma vida longa, a adolescência oferecia a arena ideal para treinar a agressividade e a perversão.
Um adolescente problemático
No mês de Dezembro de 54, durante a Saturnalia — celebração do solstício de Inverno, com a renovação da terra e a esperança nas colheitas — Nero liderou os festejos dos jovens aristocratas romanos. Com efeito, para a posteridade, Nero seria lembrado como o Rei Saturnino. O espírito desta festa convidava à inversão do mundo, na época mais escura do ano, com desvarios sensuais, música e manifestacões ruidosas. Corria o vinho, na celebração do governo de Saturno (lembrando o tempo em que não existia propriedade privada, nem distinções sociais).
Pouco depois, talvez acusado de gastador, ou num acesso de irreverência juvenil, Nero quis marcar a sua posição e removeu do governo o escravo liberto Pallas, amante da mãe e secretário encarregue da contabilidade imperial. Com isto, Agripina tornou-se agressiva. Defendeu abertamente Britânico, como candidato a imperador, acusando Nero de ser um tirano. Mas a 12 de fevereiro de 55, o dia anterior à sua proclamação como adulto, Britânico foi encontrado morto. Segundo Nero, vítima de um ataque epilético, mas todos os historiadores antigos acusam o imperador de ter assassinado o seu principal rival.
Após a morte de Britânico, Octávia e Nero expulsaram Agripina da residência imperial. Liquidada a maior ameaça, Nero apaixonou-se por uma escrava liberta, Acte. Todos se opunham à relação e Nero tentou subornar alguns prestigiados romanos para reconhecerem Acte como descendente da nobreza. Agripina ficou furiosa, o que veio acicatar ainda mais a luta silenciosa com Séneca, pela educação de Nero. A relação com Acte era apoiada por Séneca, pois impedia Nero de se envolver com as mulheres romanas mais distintas, poupando o imperador — e o seu mestre — a uma enorme quantidade de sarilhos. Em todo o caso, um imperador envolvido com uma antiga escrava era um facto escandaloso. É provável que as acusações de incesto entre Nero e a sua mãe tenham nascido neste clima conturbado. Tentando reconquistar a confiança do filho, Tácito conta como Agripina se preparava, pintando o rosto e luxuosamente vestida. No meio dos banquetes, quando o imperador, amolecido pelo vinho, se entregava aos beijos com a mãe, não seria difícil espalhar uma acusação desse género. Terá Agripina, como afirma Tácito, oferecido a própria cama para os vícios do filho? Seria apenas um plano para assassinar Nero? Uma tentativa desesperada para afastar o lho da paixão por uma escrava?
Na verdade, entre os 18 e os 21 anos, Nero experimentou todos os limites da moral romana. Ao anoitecer, vestia as roupas de escravo. Vagueava pelas ruas de Roma, para os lados da Ponte Mílvia, a mais sombria e viciosa zona da cidade.
Certa ocasião, após ter molestado a mulher de um senador, Nero foi violentamente agredido. Para evitar o escândalo, o senador foi obrigado a cometer suicídio e desde então, Nero passou a estar acompanhado por soldados ou grupos de gladiadores. Durante o dia, encorajava a violência nos espetáculos, nos jogos e nos teatros, proibindo os soldados de interferirem e envolvendo-se em batalhas de pedras e paus com a multidão delirante. Nero encorajava os prazeres do povo e tornava-se popular, copiando do povo as ações viciosas e violentas. Mas roubava aos ricos e atacava senadores.
A arte de amar
Apesar das ameaças e conspirações, Nero afastou por um momento os planos para assassinar a mãe e parece ter tentado a moderação. A influência do seu tutor Séneca e do comandante da guarda pretoriana, Sexto Afrânio Burro, contribuíram para a aclamação junto dos soldados. Foi o tempo da boa administração de Nero e do respeito pelo Senado, segundo a lição de Tácito. Mas em 58 Nero apaixonou-se por uma mulher, Poppaea Sabina, e sugeriu o casamento entre Sabina e Otão, seu amigo. Mas o triângulo amoroso tornou-se bicudo e Otão acabou enviado para governador da Lusitânia. Segundo Tácito, Sabina tinha todas as qualidades: beleza, dinheiro, nobreza, inteligência e ironia. Sabina raramente se mostrava em público ou então apresentava-se com um véu sobre a face, criando à sua volta uma aura de mistério. Não se permitia qualquer descontrolo emocional e o seu desejo sexual era colocado ao serviço dos seus objetivos políticos. Por sua vez, os historiadores antigos apresentam Cláudia Otávia na inversa proporção: seria uma esposa virtuosa e dedicada, a imperatriz ideal. Suetónio acusou Nero de tentar estrangular Cláudia Otávia. Por sua vez, Sabina terá acusado a mulher de Nero de ter relações sexuais com um escravo. Mas a chave do enredo residia num outro lugar. Sabina terá soprado ao ouvido de Nero a necessidade de assassinar Agripina, pois só nesse caso poderiam afastar Cláudia Otávia.

Créditos: Wikimedia Commons
Optima mater
Certo dia, Nero ofereceu um banquete em honra de Agripina, perto de Nápoles . Após a refeição, o imperador despediu-se da mãe. Era uma noite estrelada, sem vento. O mar estava calmo. O navio previamente sabotado, onde seguia Agripina, afundou-se ao largo, mas um dos veleiros, ali perto, socorreu os náufragos e chegou à costa.
Mal chegou a notícia da sobrevivência de Agripina, e temendo retaliações, Nero procurou o conselho de Séneca. O filósofo deve ter colocado as mãos na cabeça, mas arranjou uma solução. Um dos tutores de Nero, escravo liberto e comandante da frota naval de Roma, Aniceto, foi encarregue de matar Agripina. Séneca terá forjado a versão o cial: Agripina teria tentado matar Nero, suicidando-se em seguida. Séneca imputou antigas acusações a Agripina como usurpação do poder, ataques ao Senado e ao povo, além de vários crimes durante o reinado de Cláudio. Aniceto e um conjunto de marinheiros de guerra cercaram a vila de Agripina, invadindo os seus aposentos. Um dos capitães de trirreme atingiu Agripina na cabeça, e um centurião comandante de navio desferiu o golpe de espada no estômago da mãe de Nero. Com cerca de 43 anos, Agripina foi brutalmente assassinada e cremada nessa mesma noite. O seu filho Nero tinha 21 anos.
Segundo a tradição, terá ido ver o corpo nu da sua mãe e, examinando as feridas com cuidado, exclamou: «não sabia que tinha uma mãe tão bonita».
As críticas públicas ao assassínio de Agripina não se fizeram esperar. Acusações nas estátuas, versos satíricos, denúncias cantadas, e alguns romanos chegaram mesmo a verbalizar, diante do imperador, a sua culpa. Imperturbável, Nero não perdeu a calma. O imperador foi visitar a sua tia Domícia, acamada.
A tia era, aliás, depositária de uma parte da sua fortuna e dona de uma propriedade junto ao mar, muito apreciada pelo imperador. Afastada Agripina, Nero esperou algum tempo, mas em 62 mandou executar a sua mulher Cláudia Otávia, casando com Sabina Poppaea. A 21 de janeiro de 63 nasceu a primeira filha de Nero, Cláudia. A bebé morreu com quatro meses, e a dor de Nero parece ter sido sincera. Por caminhos ínvios, Nero tornara-se finalmente um adulto.
Spectacula: os jogos
Segundo a famosa definição de Juvenal: Roma chegou a ser apenas pão e circo. Mas não apenas. Segundos os historiadores antigos, todos os dias Nero oferecida pão, pássaros raros, joias, roupa, ouro, prata, escravos, barcos e até quintas e propriedades, o que nos parece um exagero. Tácito condenou a paixão dos romanos pelos atores, gladiadores e cavalos, e Séneca estabeleceu os jogos como a origem da corrupção e perda da virtude. O sexo real era comum. A violência, essencial. Mas longe de ser um vício imperial, os aristocratas e senadores e até algumas mulheres distintas viviam atormentados pelo desejo de participar na luta, nas corridas, na representação. O Circus Maximus, no vale entre o Palatino e os montes Aventinos, tinha capacidade para 150 000 pessoas, onde se faziam corridas com pequenas carruagens puxadas por cavalos, as quadrigas. E o anfiteatro Statilius Taurus, situado no Campo de Marte e destruído pelo incêndio de 64, recebia a luta de gladiadores, leões e elefantes, execuções e até batalhas navais com gigantescas produções, transformando a arena num enorme lago. Dos espetáculos também faziam parte os dramas e concertos musicais.

Créditos: Wikimedia Commons
Nero era um apreciador da lira e, com admirável disciplina, tornou-se num tocador exímio, cantando em grego e dançando com elogiada arte. O seu talento natural foi adornado pela prática, e a sua voz ganhou beleza. A proficiência da sua arte não impediu Nero de contratar milhares de jovens plebeus, para aplaudir a música do imperador. Mas o gosto pela luta levou Nero a patrocinar um grupo de gladiadores, os neroniani, em Roma e Pompeia e noutras cidades. Spiculus era seu gladiador e amante e, mais tarde, comandante da sua guarda imperial. Como prova do seu entusiasmo, Nero apresentou em 55 a perseguição de touros a cavalo, depois foram massacrados 400 ursos e 300 leões, enquanto 30 cavaleiros lutaram como gladiadores. Em 57 lutaram como gladiadores, de forma voluntária, 400 cavaleiros e 600 senadores, num anfiteatro de madeira. Ocorreu uma batalha naval com água do mar e com animais marinhos, entre «Persas» e «Atenienses». Lutas onde, talvez pela influência de Séneca, ninguém foi morto.
Em 59, Nero organizou os Ludi Maximi, pela eternidade do império e para celebrar a sua salvação das intrigas da mãe. Homens e mulheres da classe equestre e senatorial lutaram, pagando muito bem aos aristocratas pobres. Foi representada uma comédia, O incêndio de Afranius. Também se realizaram os Ludi Iuvenalium para assinalar a primeira rapagem da barba nos 21 anos de Nero. Num ambiente restrito, participaram pessoas de todas as idades, cantando e dançando. Nero apareceu no palco tocando a lira e cantando. Em 59 convidou o povo de Roma para assistir à sua condução de quadriga nos seus jardins, herdados da sua mãe, na margem direita do Tibre. Em 60, Nero fundou os Neronia, jogos à maneira grega, musicais, equestres e com ginástica, decalcados das Olimpíadas. Os banhos e o ginásio grego foram inaugurados, foi distribuído óleo para o corpo e os participantes vestiram-se à maneira grega. As virgens vestais foram convidadas a assistir à ginástica. Em 63, vários senadores apareceram como gladiadores e em 64, Nero conduziu pela primeira vez nas corridas. Talvez por ter esgotado o seu programa de festividades, os historiadores antigos imputaram a Nero a organização de um outro espetáculo — muito apreciado pelas nossas televisões, diga-se — o incêndio de proporções incontroláveis.
Roma consumida pelo fogo
Os relatos populares, do cinema ao romance histórico, apresentam muitas vezes Nero a observar do seu telhado as vorazes labaredas, enquanto dedilha a sua lira. Mas quando o fogo começou, no Circus Maximus, Nero agiu rapidamente, indo para Roma para dirigir os esforços de combate às chamas.
O facto de ter dado ordens imediatas para a reconstrução alimentou ainda mais o mito da autoria criminosa do fogo, mas as obras tiveram em conta a prevenção de futuros fogos. Os cristãos foram publicamente apresentados como responsáveis, e não há razões para culpar mais rapidamente Nero do que uma seita onde o ódio pela aristocracia e povo romanos e a violenta crítica aos excessos e prazeres pagãos conviviam lado a lado com a piedade e o desejo de martírio. Em todo o caso, em Roma, a pena para o crime de atear fogo era ser queimado vivo, e vários cristãos foram transformados em tochas vivas nos jardins do palácio e atacados por cães de caça. Nero aproveitou a reconstrução do centro de Roma, e o imperador moldou a paisagem da cidade à medida da sua ambição. Para além de uma estátua colossal, talvez do próprio Nero ou de Apolo, o deus do Sol, cujos vestígios são controversos, foram construídos magníficos jardins com vinhas e pomares e extensos arvoredos. As paredes forradas a ouro, marfim e joias. Havia câmaras com paredes automáticas, e tubos por onde era aspergido perfume. Nero podia dizer: vivo finalmente como um ser humano.
Durante a Saturnalia, ofereceu um banquete flutuante, no lago artificial, cujas margens eram agora habitadas por aves exóticas e animais desconhecidos. Eram inúmeros os bordéis e tabernas onde a multidão observava a esplendorosa passagem do imperador. Nero ordenou a construção de uma jangada, forrada de carpetes púrpura, onde os remadores eram prostitutos escolhidos pela sua proficiência sexual. Era, aliás, uma importação para Roma da sua rica e sensual vida balnear fina sofisticada baía de Nápoles.
A inversão era de tal ordem que pela noite soavam a música, os gritos e os gemidos. Mas não raramente, no meio dos arvoredos amanheciam os corpos de homens e mulheres assassinados.
O gosto de Nero pela subversão social atingiu nova fronteira, depois do seu casamento com Pitágoras, um escravo liberto e membro do seu bando de pervertidos. O nome era uma chacota ao antigo sábio grego, famoso pela sua vida de abstinência sexual. Como nova criação festiva, Nero inventou uma espécie de jogo, em que saindo de uma caverna, disfarçado de animal, atacava os genitais de homens ou mulheres nus, atados a postes. Não é certo nos autores antigos, se isto implicava violência física, ou se a expressão «ataque» esconde o sexo oral, oferecido pelo imperador às suas vítimas. Depois, o próprio Nero era penetrado pelo seu escravo liberto e marido, Pitágoras. Curiosamente, não existem a propósito de Nero os vestígios de adultério e perseguição de mulheres casadas de outros imperadores. Em suma, os outros imperadores não seriam muito diferentes, seriam mais discretos e menos dispostos a partilhar com o povo os seus excessos. A mulher de Augusto, por exemplo, escolhia virgens para deleite do seu marido, e o imperador apreciava depilar as pernas das suas amantes e banhar-se nas águas com prostitutas.
Grécia: o berço da tragédia
No início do verão de 65, Sabina Poppaea, grávida e doente, censurou Nero por regressar a casa muito tarde, depois de uma corrida de quadrigas. O imperador pontapeou-a e Sabina morreu na sequência da agressão.
Devastado, Nero concedeu todas as honras à vítima do seu descontrolo. O corpo de Sabina foi embalsamado de acordo com o modo egípcio, e o imperador mandou consumir, em libações, uma fortuna em perfumes. Foi dedicado um templo a Sabina Venus pelas mulheres de Roma e Nero entregou-se à busca de mulheres fisicamente semelhantes à sua defunta esposa. Acabou por descobrir um rapaz, antigo escravo, muito parecido com Sabina. Depois de ordenar a remoção dos testículos do pobre rapaz, Nero designou-o por Sporus — esperma (em grego) — mais uma das espiritualidades do imperador. Voltou a tocar cítara e no final do verão, partiu para a Grécia. Casou com Sporus numa cerimónia pública, tratando o rapaz como imperatriz.

Créditos: Wikimedia Commons
Nero pretendia transformar Sporus numa reencarnação da sua antiga mulher. Levou Sporus a passear pelos mercados da Grécia e beijava-o em público. Nero deslocara-se à Grécia para participar nas Olimpíadas. Pela primeira vez, a competição incluiu música e drama. A ninguém foi permitido abandonar o teatro enquanto Nero cantava. Alegadamente, alguns bebés nasceram ao som da doce música. Para fugir às longas sessões, alguns fingiram-se de mortos e os soldados batiam em quem não aplaudisse com entusiasmo. Mas Nero temia os juízes dos concursos musicais como se julgassem sobre a sua vida. Representou como ator as suas tragédias preferidas: Orestes o matricida, ou o cego e incestuoso Édipo. O seu amor pela arte era profundo, e Nero não visitou Atenas ou Esparta, não frequentou os discursos e as escolas, nem os santuários religiosos: percorreu o circuito dos grandes festivais e jogos. No palco, entregou-se a todas as regras e sofreu todas as ansiedades dos humildes participantes. Isto apesar de circularem versões de que Nero mandou arrastar para as latrinas as estátuas de vencedores antigos. Ou do assassínio de rivais na competição. Contudo, Nero não se sentava quando estava cansado, não cuspia ou limpava o suor com lenço, segundo a famosa proibição dos músicos em palco. Suetónio duvidou desta sinceridade, tratando-se de homem capaz de mandar incinerar todos os juízes e a própria assistência. Mas nada podia ofender mais Nero do que a acusação de ser um mau artista.
No anfiteatro deserto
Corre o ano de 67. Nero avalia o significado da sua vida. Em 60, o jovem poeta Lucano, sobrinho e protegido de Séneca, tinha honrado Nero como o novo Febo, o condutor do carro solar, o deus das canções, adorado pelo maior dos poetas, o imortal Ovídio. Nero aparecera coroado por raios solares nas moedas de ouro cunhadas em 64–65. A sua atenção não era dirigida ao triunfo militar, mas à celebração da beleza, através do canto, e as suas maiores honras não se dirigiam ao templo de Júpiter mas a Palatino Apolo, onde Augusto mandara gravar um memorial em honra da sujeição do Egito ao poder do povo romano, como dádiva ao deus Sol.
Música, beleza e velocidade — eis o resumo do seu governo, ou não fosse público o amor de Nero pelos cavalos e a paixão pelas corridas. A perversidade e o vício pelo circo e o teatro, prostitutas, dançarinas, podem ser vistos como uma forma de troça perante a mortalidade e uma crítica à reverência dos estoicos pela saúde do corpo. Logicamente, Nero odiava a contabilidade. No fundo, a contenção. O desperdício era a suprema virtude. Apreciou Calígula por ter desbaratado, em pouco tempo, a fortuna deixada por Tibério. Não usava a mesma roupa duas vezes. Os próprios criados andavam vestidos luxuosamente e até as redes usadas para pescar seriam de ouro e pedras preciosas.
Quando se acabou o ouro (e a esperança de encontrar tesouros em África), Nero resolveu expropriar os romanos e derreter as estátuas de ouro dos templos. Baixou impostos e continuou a oferecer dinheiro, retribuindo os senadores empobrecidos. Libertou uma parte da Grécia dos impostos e quis escavar um canal no Istmo de Corinto e um sistema de canais da Baía de Nápoles até Roma. Casara com Statilia Messalina em 66, uma mulher admirável, rica, bela e dotada de uma personalidade distinta e educada. A escolha das suas mulheres contraria a lenda do homem aberrante e tresloucado. Por forçados que fossem os casamentos, as mulheres de Nero revelam critério e sabedoria. A sua poesia foi apreciada muito tempo — alguns séculos, pelo menos — depois da sua morte, o que é mais do que a maior parte dos laureados com o nobel da literatura, alguma vez, poderão disfrutar. Nero estava numa espiral de disciplina artística e a partir de 67, entregou-se ao treino da pantomina — dança solitária e silenciosa, guiada por um som orquestral, onde os gestos sugerem o enredo.

Créditos: Wikimedia Commons
Após regressar da Grécia, não voltou a dirigir-se aos seus soldados de viva voz, para não a estragar. Nem uma perigosa rebelião o levou a abandonar o lenço com que protegia a garganta e a voz. Quando o poder imperial, ameaçado por todos os lados, parecia prestes a sucumbir, alimentou a fantasia de fugir para Alexandria, tornar-se músico profissional. Totalmente indiferente do ponto de vista militar — pensou até em retirar da Britânia — chegou a considerar partir em campanha ao comando de um exército de concubinas e prostitutas, ornadas com escudos e armadas com machados, cavalgando como amazonas, uma visão difícil de bater em delírio estético.
Na derrocada final, com as derrotas militares e a conspiração política, com o general Galba às portas de Roma, pronto para prender o imperador, Nero decidiu colocar termo à vida e mandou chamar o seu gladiador predileto, Spiculus, ou outro qualquer assassino profissional. Mas ninguém apareceu. Nem amigos, nem inimigos. Em fuga pela cidade, ouviu os gritos dos soldados a prever o sucesso para Galba e a sua derrota. Nos arredores de Roma, na madrugada do dia 11 de junho de 68, Nero pediu para cavarem uma sepultura do seu tamanho. Trouxeram fragmentos de mármore para um monumento, água para lavarem o seu corpo e madeira para ser queimado. Nero chorou então, lamentando o artista prestes a morrer em si: Qualis artifex pereo. Os eruditos discutem se a frase representa a habitual ironia de Nero, qualificando, sem sinal de modéstia, o artista perdido e ignorado, ou se dizia precisamente o contrário. Sendo antes um artista, tão baixo chegara a sua queda, pela falta de arte com que agora morria.
Segundo Suetónio, morreu a declamar versos da Ilíada, o que parece difícil, dada a violência do seu fim. O escravo Epafrodito tomou as dores de executar Nero. Mas a mão leve do escravo obrigou um centurião a mergulhar o punhal na garganta de Nero. Membros da casa, incluindo Sporus, as amas Egloge e Alexandria, assistiram à cremação. Quanto a Acte, pagou e organizou o funeral de Nero, tendo sido uma das poucas pessoas que lhe permaneceu fiel. Enquanto o corpo de Nero ardia na pira funerária, Sporus prosseguiu a sua decadente carreira, provando como o vício e a monstruosidade não eram obra de Nero e não acabariam com a morte daquele imperador. Protegido por um filho bastardo de Calígula, Sporus continuou a ser tratado como mulher. Quando o seu protetor foi morto numa tentativa de golpe contra Galba, Sporus acabou amante do antigo marido de Sabina, Otão. No outono de 69, num concurso de gladiadores quiseram obrigar Sporus a representar o papel na violação de Persófone e o rapaz, vencido pela vergonha e cansado da sua vida humilhante, matou-se. Nãotinha ainda vinte e quatro anos.
Epílogo
Aos 30 anos, Nero estava morto e enterrado. As classes mais distintas de Roma celebraram a sua morte. O povo apareceu mais circunspecto e sobretudo a plebs sórdida, viciada no espetáculo e participante nas depravações públicas do imperador, deve ter saído para a rua com uma cara de fim de festa. Era, contudo, um final anunciado. Como notou o professor Edward Champlin no seu deslumbrante livro sobre a vida de Nero, um homem no comando de 28 legiões não podia submeter-se a concurso. O impacto da morte de Nero no povo de Roma foi bem resumido pelo poeta Marcial: «o que há pior do que Nero? O que há melhor do que os Banhos de Nero?» As citações de poetas, atribuídas a Nero, nos momentos de maior dramatismo, revelam o cuidado com que forjou a sua personagem histórica. Ao centurião, esforçando-se por estancar o sangue na garganta degolada do imperador, Nero exclamou: «tarde demais». Alguém acredita nisto? Toda a vida de Nero é um esforço para fugir à verdade histórica e seguramente, a sua espetacular, perversa e trágica persona, é a sua maior criação e a sua única vitória.
Karl Marx, jornalista inquebrável
Nada irrita mais o estudante de humanidades do que o triunfo da economia como explicação do mundo. Não é o meu caso. Irritam-me de igual modo a economia e as humanidades, quando pretendem explicar a «natureza humana». Se o autor chegar a dizer alguma coisa sobre a sua natureza, já será motivo para festejar com foguetes, cerveja e grelhados. Certa manhã, saí de casa com um livro de um conhecido lósofo, chamado Giorgio Agamben. O leitor não deve sentir-se mal por não conhecer este autor, pois Agamben, provavelmente, também não conhecerá o leitor. Eu andava nessa altura interessado em compreender o triunfo do mercado, e o livrinho de Agamben era um comentário a um famoso conto de Melville, Bartleby — a história de um escrivão, contratado por um advogado de Wall Street, especializado em direito comercial. Na verdade, a primeira vez que julgo ter compreendido Marx foi precisamente pela boca de Melville.
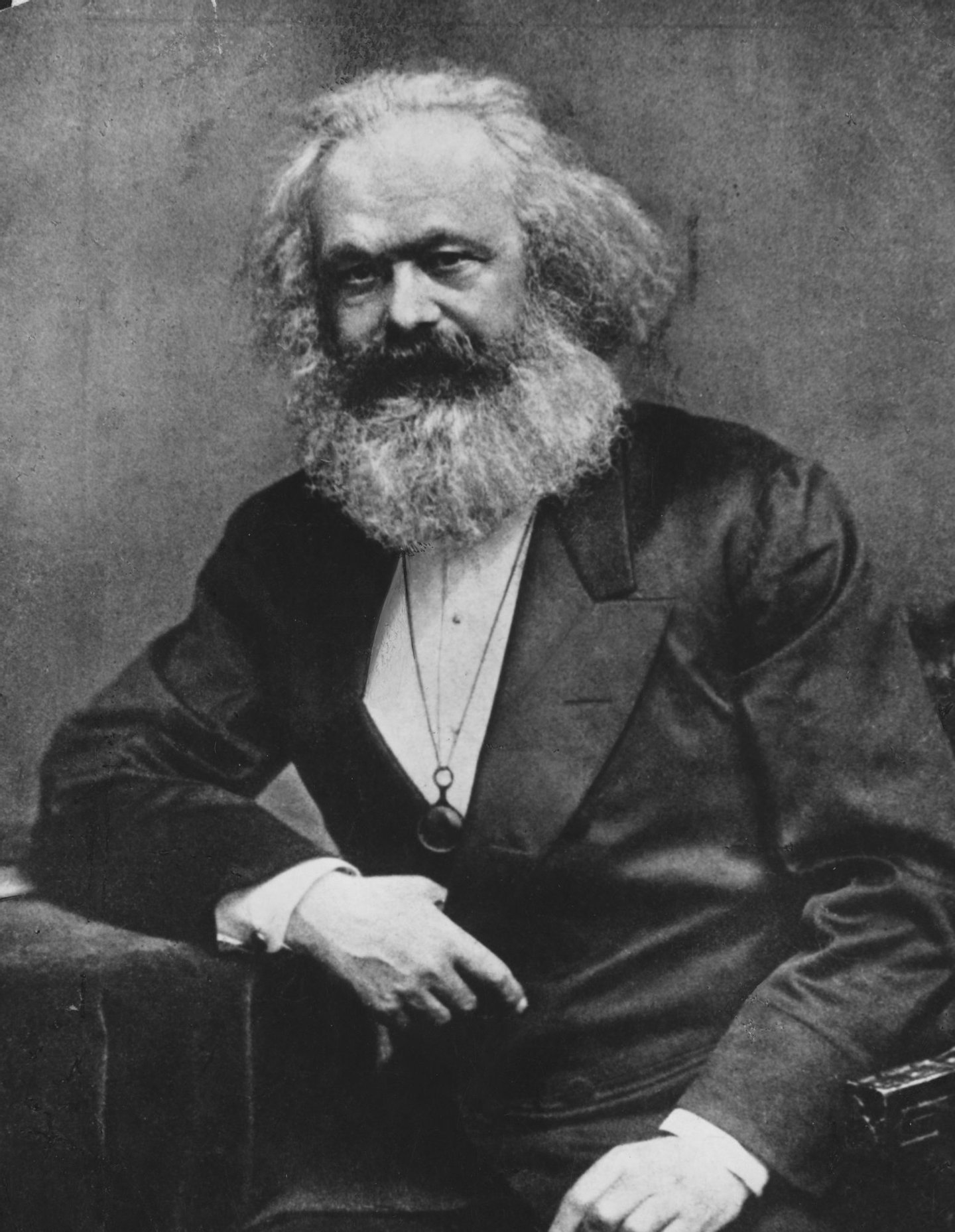
Créditos: Henry Guttmann/Getty Images
Mas comecei a sentir-me ligeiramente enganado a meio do livro. Estava perdido num oceano de referências a árabes do século IX, africanos latinizados, o problema da escrita no mundo antigo, metáforas da tábua rasa, da folha em branco, das tabuinhas de cera, a definição de pensamento em potência, o pensar e o não pensar, construir ou não construir. Pensei para mim: um tolo pode continuar a ler o livro ou não continuar. Depois ocorreu-me escrever a Agamben uma cartinha a recomendar o princípio de Occam: se queremos ser filósofos, devemos utilizar só os elementos necessários para explicar o problema. Tenho todo o respeito por sufis andaluzes e autores cabalistas da Messina do século XIII, professores da madrassa de Bagdade, cúpulas de Jerusalém, minaretes de Damasco, Deus, a folha branca, a tinta negra, a mão que se move (um tópico muito em voga), os impenetráveis véus da potência divina, o fatalismo islâmico, mas estava interessado em compreender Melville e dei por mim a olhar para todos os lados, no comboio, e a suspirar de alívio por não surgir um terrorista aos gritos, carregado de explosivos até aos dentes, pronto para acabar com o racionalismo perverso dos ocidentais.
Após várias páginas de deambulações místicas, em torno da hierarquia das vogais e consoantes, a receção marroquina de Aristóteles e uns esquemas onde se expõem os significados ocultos da grafia árabe, diz o lósofo Agamben: «o escriba (do qual Bartleby é a última extremada figura) é a potência perfeita, que só um nada separa agora do ato da criação». Que quer isto dizer? Não sei, é um mistério. Na verdade, tudo isto seria muito bonito, se estivéssemos diante de uma bonita italiana esotérica, numa ilha mediterrânica (pode ser qualquer uma, com sicómoros e falésias vermelhas) deitados numa esteira de palha, a ouvir o incessante embate das ondas e o rumorejar do vento nas falésias, e se o nosso problema fosse apenas aceder aos mistérios triangulares do amor e cobrir de beijos a energia espiritual da nossa interlocutora. Mas não: estamos sentados desconfortavelmente numa cadeira de um café da Amadora, diante de pessoas que ao domingo pelas dez da manhã já estão plenamente embriagadas, e precisamos de encontrar uma forma de remunerar os nossos conhecimentos em humanidades.
Percebi que o texto era sem remédio e arrastei-me até ao final, dolorosamente, de lágrimas nos olhos, indefeso perante a potência do disparate. Pedia-se muito a Agamben? Não, não pedia. Não queremos sair do seu livro com a compreensão do zodíaco, de forma a poder enganar todas as esteticistas e cabeleireiras do planeta, não queremos levitar até ao sétimo céu (ou talvez queiramos, mas já sabemos que é difícil com livros), não queremos compreender a literatura árabe, nem a filosofia cabalista, não queremos interpretar Jesus Cristo e os profetas, a patrística, a grafia árabe, os animais e o reino mineral, Aristóteles e o Direito Natural de Leibniz, a filosofia da linguagem de Port-Royal e os exercícios do ioga. Não queremos sentir o mesmo que o camponês esfomeado nos aposentos de Maria Antonieta (até por que isso não costuma resultar em coisas bonitas de serem mostradas às crianças). Queremos apenas saber alguma coisa sobre Bartleby e a injustiça a que foi submetido. Será possível? Acho que sim.
Melville abre o seu pequeno conto clarificando posições: o escritor podia contar várias histórias sobre escrivães «acerca das quais os cavalheiros de boa índole ririam, ao passo que almas sensíveis verteriam lágrimas». Isto significa que a história não autoriza generalizações sobre escrivães ou sobre o que quer que seja; é um caso particular, é apenas o relato da vida de um desgraçado, sobre o qual podemos chorar se tivermos lágrimas e coração para tal, é apenas a manifestação gloriosa e digna de um tipo que se afundou na incompreensão, comovido perante as dificuldades e a dor de possuir uma cabeça, onde se passam coisas misteriosas — que convém não ter a arrogância de saber explicar — e que é incapaz de controlar as variáveis da sua vida. Ao contrário de Agamben, que deve ganhar bom dinheiro e tem imenso sucesso. Com efeito, quase 80% da ação de Bartleby decorre num escritório jurídico de Wall Street, algures entre 1842 (referência implícita no texto) e 1853 (data da edição), onde a circulação do capital — potenciada pelo caminho-de-ferro, a modernização dos portos, a monetarização das relações prfissionais, a repetição de documentos associada à multiplicidade de tempos comerciais, o caótico multiplicar dos ciclos de negócios, os horários cada vez mais inflexíveis e rigorosos — é o pano de fundo de uma narrativa sobre a dissolução do mundo antigo. Todo o conto gira em volta dos problemas do trabalho, sejam os salários, os horários ou a hierarquia. E fala-se da dependência do álcool dos escrivães (obrigados a trabalhar, repito, a trabalhar, em condições adversas e por pouco dinheiro), o que constitui um aviso.
Melville fala a dado momento de um rapaz, muito vivo e inteligente, de onze anos, colocado no escritório pelo pai — um carroceiro — com o intuito de o afastar do banco da carroça e lhe oferecer uma vida melhor, como moço de recados num escritório de Wall Street. Compreendemos que os professores universitários prefiram elaborar sobre a potência e o grafismo da escrita árabe, pois este problema talvez seja demasiado familiar a alguns dos alunos sentados na sala de aula. Os acontecimentos sugerem a desagregação de um mundo injusto e a formação de outro, desconhecido, onde o escrivão Bartleby recusa progressivamente a integração. Bartleby é contratado a 4 cêntimos por página (100 palavras, segundo nos diz Melville) e recebe no fim do seu trabalho 12 dólares de salário mais 20 dólares por caridade do nobre advogado que o contratou. Melville não moraliza em excesso, pois o advogado — e patrão — é o único a vislumbrar qualquer coisa de nobre nas resoluções incompreensíveis do seu escrivão.
Bartleby, enquanto trabalhou no escritório, escreveu 300 páginas e cerca de 30 000 palavras, o que se calcula ter sido apenas pouco mais que uma ou duas semanas, no máximo. Apesar de tudo, um calvário de monotonia, nas mais difíceis condições. Poderia Bartebly aspirar a mais do que uma progressiva recusa em viver?
Não espanta por isso que Bartleby se tenha habituado a comer bolinhos de gengibre. Para receber aquela miséria, mais valia não trabalhar; é o corolário lógico do raciocínio. Em suma, as despesas totais médias de consumo da família norte-americana em meados do século XIX atingiam os 747 dólares, o que empurrava Bartleby para a miséria. Isto dá nota dos miseráveis salários, num tempo em que a importância intelectual do trabalho era apenas uma miragem (bem, é melhor não ir por aqui), o que Melville sugere várias vezes, descrevendo a alienação dos outros dois empregados do escritório, que se embebedam ao almoço, um com aquela espécie de tinta vermelha (vinho) e o outro com cerveja, apresentando reações diametralmente opostas (um zangado, o outro será fico). Estes pobres rapazes trabalhadores suscitavam a pena dos cavalheiros. Até o pobre escritor e alcoólico famoso, Edgar Alan Poe, se curvou certo dia, para auxiliar o rapaz de recados do Broadway Journal, estendido no chão, quando o próprio Poe mal tinha dinheiro para comer. Mas isso não o impedia de ser gentil e até atencioso com um simples moço de recados, desmaiado por causa do excesso de trabalho e do elevado calor.
Na verdade, estou cansado de escrever, e a noite começa a pesar-me nos olhos; a luz do candeeiro adquiriu as propriedades das borboletas moribundas, e o rumor regular e frio das máquinas domésticas começa a assemelhar-se a um exército, aproximando-se de longe, noturno e ameaçador, mas quero ainda partilhar com o leitor o destino de Bartleby, escrivão que lembra o perfil estoico de Cícero, cujo busto ornamenta a secretária de trabalho do velho e respeitável advogado.
Bartleby é um trabalhador explorado. Melville vê em Bartleby o antigo funcionário dos Correios de Washington (a terra constitucional do sonho republicano) anteriormente responsável pelo departamento de cartas perdidas, transviadas, entretanto despedido por mais uma irrevogável racionalização administrativa. Foi por isso que Bartleby apareceu a pedir emprego ao advogado. Conta Melville, no final, como Bartleby, antes de mergulhar no mundo do trabalho a prazo, era «um indivíduo por natureza e infortúnio, propenso ao desalento e as cartas perdidas, pelo funcionário manuseadas, constituíram a tarefa profissional que lhe aumentou ainda mais o desalento». Ou seja, o trabalho envelheceu Bartleby. É portanto um homem já derrotado quando chega a Wall Street e nenhum mistério envolve o reconhecimento natural da sua desistência. Quando em Washington, por vezes, de entre as folhas dobradas, o pálido funcionário (Bartleby) retirava uma nota de banco, enviada rapidamente, por caridade, aquele a quem ela iria socorrer talvez já não comesse nem tivesse fome, pois estava morto. E Melville explode finalmente numa comoção, quando finaliza o conto, refletindo sobre as cartas transviadas dos desesperados, no caótico serviço de correios, e obrigando este vosso amigo e autor, que por aqui se vai arrastando, a comover-se em público: «perdão para os que morreram desesperados, esperança para os que morreram sem a ter, a boa-nova para quantos morreram opressos por tais calamidades. Recados de vida, estas cartas correm para a morte».
O judeu burguês
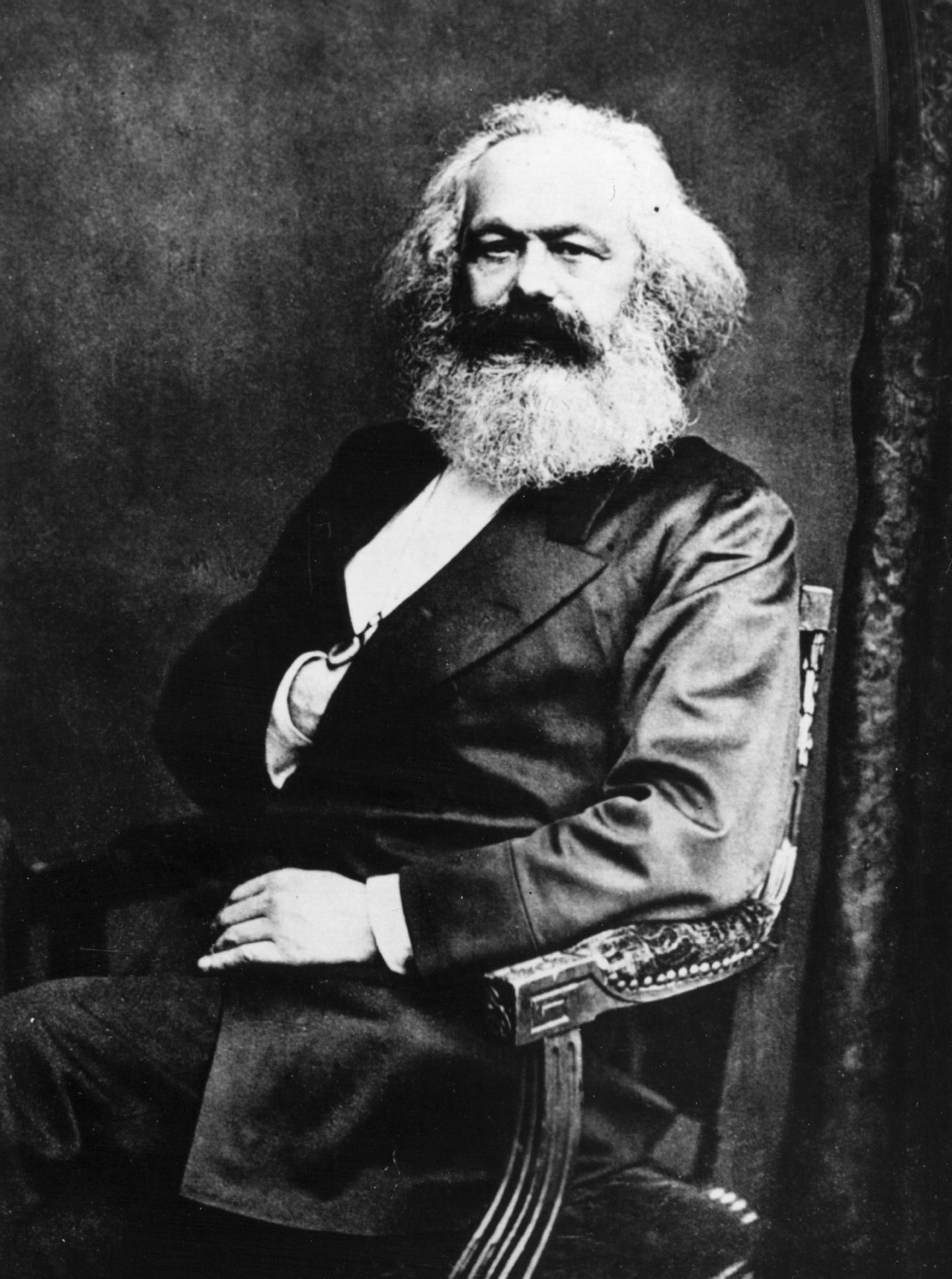
Créditos: Henry Guttmann/Getty Images
Karl Marx nasceu a 5 de maio de 1818 em Trier (na fronteira entre a Alemanha e o Luxemburgo) na época, na Prússia, um território com um sistema político conservador. Karl tinha antepassados judeus, muitos deles rabis, e o pai, Heinrich Marx, foi um advogado com algum sucesso nos negócios, homem de sentido pragmático, com interesse pelos livros filosóficos, a quem ocorreu apagar as raízes judaicas da família. A mãe, Henrietta Pressburg, judia holandesa, tia-avó dos fundadores da multinacional Philips (são assim, segundo a Wikipédia, as ironias deste mundo) pertencia a uma família de negociantes e empresários bastante ricos. Criado na igreja luterana, com os seus seis irmãos, Karl foi educado em casa e só com 12 anos passou a frequentar a escola da cidade, de tendência liberal e democrática. É importante dizer que a experiência escolar de Karl atravessou a repressão do governo da cidade sobre os professores mais ativos politicamente. No final de 1835, Karl ingressou na Universidade de Bona, interessado nos estudos literários e nas ideias filosóficas.
O agitador
Entretanto, Karl conquistou o coração de uma baronesa, Jenny von Westphalen. Karl e Jenny conheciam-se desde a infância, e o casamento era a consequência natural de uma grande paixão, o que não era comum na época e muito menos nas classes sociais mais distintas. O gosto pela polémica nasceu com as bizantinas querelas com os autores conhecidos na época. Mas Karl estava cada vez mais empenhado numa crítica radical da política conservadora e quando em 1838, o pai morreu — o homem que fora a influência libertária mais presente — deve ter sido um golpe profundo.
Mas Karl não se abateu. Como todos os jovens literatos, Karl escrevia poesia e obras de ficção, com as quais sonhava tornar-se conhecido. A redação da tese de doutoramento — sobre a filosofia antiga de Epicuro e Demócrito — arrastou-o definitivamente para a filosofia. Terminada a tese, Karl sabia ter poucas hipóteses de ser aprovado em Berlim e submeteu a tese à Universidade de Jena em 1841. Devido às suas ideias políticas, a carreira como professor seria sempre dificultada e, por isso, a consequência natural foi envolver-se no jornalismo político, escrevendo para jornais de inclinação socialista.
Com um regime de publicação fortemente censurado, Karl começou a enfrentar problemas, criticando políticos à esquerda — pela ineficácia — e à direita — pela estupidez.
Karl esticou as suas posições até onde lhe permitiram, mas quando tocou nos fundamentos do regime monárquico, atingido o czar da Rússia, em 1843, as autoridades da Prússia compreenderam finalmente o problema, e Karl acabou expatriado. Já casado com Jenny — e depois de sete anos de namoro — viajou para Paris ainda nesse ano, onde era ainda mais fácil encontrar jornais de esquerda, prontos a imprimir os artigos mais radicais. A primeira filha nasceu em 1844, o que veio piorar as já de si péssimas condições financeiras. Marx continuou a publicar artigos filosóficos densos e a polemizar, difundindo uma ideia — num misto de evolucionismo e Hegel — sobre o destino dos operários. Ou seja, os trabalhadores braçais eram uma força imparável e, como consequência do desenvolvimento industrial, iriam tomar conta do poder político e fundar outro tipo de sistema económico. Com este tipo de artigos, naturalmente, o jornal onde Marx escrevia, faliu. Rapidamente, Marx passou a escrever para outro jornal de esquerda radical, criticando de forma cada vez mais violenta e sistematizada o idealismo dos socialistas e a indiferença dos conservadores.

Marx com Tussy, a filha. Créditos: Hulton Archive/Getty Images
O duo dinâmico
Friedrich Engels era filho de riquíssimos industriais com negócios em Inglaterra e autor de um estudo inovador e, muito documentado, sobre a miséria dos bairros operários ingleses. Karl conheceu Friedrich em 1844, partilhando ambos o gosto pela polémica, a bebida e as longas saídas noturnas. Publicaram um livro em conjunto, embora 90% do livro fosse obra de Karl, que sendo mais caótico nos temas e menos disciplinado no ritmo de escrita, produzia, contudo, quantidades bíblicas de páginas, às vezes ilegíveis.
Karl começava a ter um certo nome como autor, passou a ser Karl Marx. Teve a intuição — corretíssima — de que o poder intelectual da economia britânica (sobretudo David Ricardo, que Marx admirava, e Adam Smith, que admirava ainda mais) iria transformar-se no bastião do sistema político capitalista.
Enquanto os editores solicitavam os seus escritos polémicos, Marx estava cada vez mais interessado em publicar uma grande obra filosófica com uma crítica da economia política britânica. Desta altura (1844) datam os seus Manuscritos Económicos e Filosóficos, que muitos qualificam como a sua obra mais interessante, pois contém as primeiras intuições. Sem necessidade ou ambição de ser sistemático, o raciocínio de Marx é tenso e perspicaz, levantando o principal problema da economia baseada no Capital (a medição do valor em termos de trocas). A descoberta destes problemas levou-o a querer aprofundar os interesses comerciais dos humanos. Daqui, Marx chegou rapidamente a uma certa teoria biológica da cultura (sob a influência da história natural e das teorias sobre a evolução).
Nesta fase começaram os problemas teóricos a que Marx se dedicaria toda a vida. A compreensão dos sistemas de trocas passava pela compreensão da produção material. Marx teve a intuição de que a produção dependia das necessidades dos grupos humanos, tendo essas necessidades origem tanto nos instintos como na cultura. Mas se a produção explicava a cultura e a política, era preciso encontrar uma explicação para a produção, e aqui Marx começou a desenvolver ideias sobre esferas diferenciadas. A metáfora arquitetónica que encontrou (superestrutura) para definir o mundo da consciência e das (falsas) necessidades culturais (a ideologia) nunca vingou inteiramente. Porém, o problema era nessa época mais prosaico. Quando Marx escreveu um artigo polémico sobre o rei da Prússia, este solicitou às autoridades francesas a expulsão do jovem Karl, e assim aconteceu. No início de 1845, Marx e a família viajavam a caminho de Bruxelas, em busca de um refúgio.
Teoria ou revolução
Durante todo o ano de 1845, Marx dedicou-se a desenvolver a sua teoria de que a consciência — o mundo das ideias — tinha uma determinação material. As pessoas pensavam de acordo com as suas profissões e estatuto social, e não o contrário. Isto era verdadeiramente chocante, pois negava o estatuto grandiloquente das ideias — um escândalo iniciado por Rousseau — e denunciava o mundo da política como mera caixa-de-ressonância de grandes transformações tecnológicas, o que em certo sentido é bastante moderno. Lavre-se desde já a nota: muitos dos liberais económicos do século XXI são profundamente marxistas em termos macroeconómicos, ainda que não o saibam, nem subscrevam medidas socialistas quanto à legislação laboral ou quanto ao nanciamento do Estado.
Com efeito, nessa época, Engels veio para Bruxelas organizar o movimento socialista, enquanto Marx continuava a sua atividade jornalística. Os dois amigos viajaram para Londres, com o intuito de fazer contactos políticos e consulta as riquíssimas bibliotecas. Aprofundaram a sua teoria da evolução material da História, publicando-a com o irónico título: A Ideologia Alemã, troçando do idealismo filosófico que caraterizava a história do pensamento na Alemanha. Em 1847, Marx escreveu uma síntese de todas estas ideias, A Miséria da Filosofia, no fundo, para levantar a sua bandeira: os filósofos teriam até então tentando compreender o mundo, mas sem o conseguir transformar. Geralmente, este inspirado aforismo é lido como uma declaração panfletária, mas a frase encerra uma intuição muito profunda. O que Marx afirmava com estrondo é que — seguindo uma prática científica — o filósofo só mostraria ter compreendido o mundo, se o conseguisse transformar, tal como o engenheiro só prova ter compreendido verdadeiramente as leis da física, se conseguir construir uma ponte.
Era, claro, uma visão restrita da ciência, muito ao gosto da época. Neste sentido, Marx e Engels aspiravam agora a produzir uma obra que provasse ter compreendido o mundo, interferindo no seu funcionamento. Entre dezembro de 1847 e Janeiro de 1848, escrevera o Manifesto do Partido Comunista, publicado a 21 de fevereiro de 1848. O Manifesto é uma poderosa obra de filosofia e uma ainda mais poderosa e brilhante peça de retórica. Estabelece um cenário: a Europa a revolver-se em transformação, num fundo negro. Depois, sobem ao palco os heróis (os trabalhadores) e os vilões (os burgueses capitalistas), envolvidos numa batalha, a luta de classes. No final, suspendem a atenção do leitor, deixando em aberto o anúncio de uma triunfante promessa — a vitória dos oprimidos. Embora por vezes se queira ver na hipnose coletiva a explicação do sucesso deste Manifesto, é evidente que a sua maior força — para lá da sua imensa qualidade retórica — era ser um retrato, apesar de tudo, bastante fiel da realidade, com exceção da vitória nal dos oprimidos.
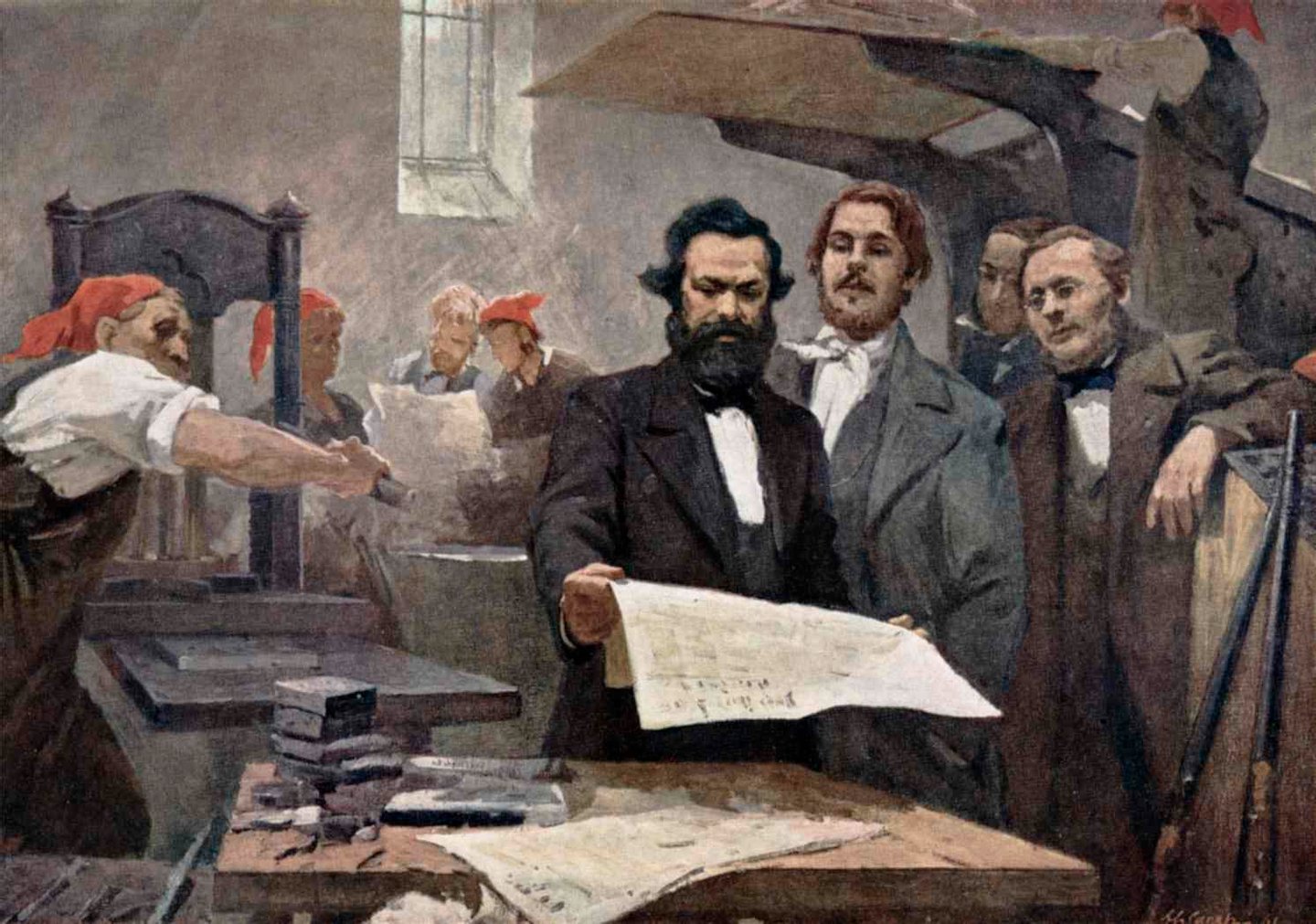
Créditos: Wikimedia Commons
Quando a revolução violenta rebentou nas ruas de Paris, as coisas tornaram-se mais sérias. Como o Manifesto fora baseado, sobretudo, na experiência dos operários ingleses, foi difícil a Marx e Engels perceberem como existiam aspirações muito diferentes, nas imensas revoltas a assombrar a Europa. Contudo, os tumultos estavam em marcha e os governos reagiram. Em breve, Marx foi acusado de atividade subversiva e expulso de Bruxelas.
O intelectual gastador tem fome
Marx fundou um jornal, com uma herança do pai, e passou a ser visitado pela polícia e a visitar dos tribunais. Mas em breve seria novamente expulso, regressando a Paris, mas desta vez a cidade era fustigada por uma revolta conservadora.
No verão de 1849, partiu para Londres. Apesar do seu esforço de demolição da economia política e mesmo admirando o poder explicativo dos economistas ingleses, a verdade é que Londres, apesar das precárias condições económicas, permitiu a Marx viver com alguma tranquilidade política até ao fim dos seus dias. Também começavam os problemas de atuação da classe trabalhadora, entre os que tinham uma visão mais determinista (a revolução era imparável) e os que defendiam a ação enérgica; entre os que defendiam a liderança do proletariado e os que consideravam ser necessário procurar alianças burgueses de esquerda e até mesmo com aristocratas liberais. Curiosamente, no momento em que a ação comunista e a consciência dos operários atingia o seu ponto mais alto, a família de Marx mergulhava numa extrema pobreza. A excelente biografia de Francis Wheen reúne uma extensa lista das queixas de Marx e cartas a amigos, pedindo dinheiro. Em fevereiro de 1852, a mulher e a filha pequena estavam doentes, mas Marx não podia chamar o médico, por não ter dinheiro para o remédio. Em setembro de 1852, a família só comia batatas e pão, preparava-se para nem isso comer. Em outubro de 1853, Marx dizia não ter em casa um tostão há mais de uma semana. Em setembro de 1854, sofria a angústia das epidemias de cólera sem alimentação apropriada, o que aumentava o risco de contrair a doença. Em dezembro de 1857, os credores e a polícia não largavam a sua porta5.
A interligação do comércio levaria o capitalismo ao seu estado máximo de abstração de forças contraditórias. A associação entre os excluídos de todo o mundo ajudaria a ultrapassar o clássico problemas das guerras, pois as nações eram comunidades artificiais construídas pelos políticos conservadores e os grandes burgueses. A desigualdade empurraria milhões para o desespero, e a revolução alastraria, se não como um espectro, ao menos como uma feia mancha de óleo numa rica toalha de seda.
O capital
A mulher de Marx, Jenny, fazia todos os esforços para aumentar o rendimento da família, escrevendo críticas para os jornais. Os três filhos mortos ainda na infância devem ter tido influência no cansaço de Marx e de Jenny. Aliás, dos sete filhos do casal — devido às péssimas condições em que viviam — apenas três chegaram à idade adulta, o que devia motivar algum respeito aos severos críticos de Marx, quando se referem a conhecimentos da «realidade da vida». Quando Marx — apesar de presente e afetuoso — alegadamente se envolveu com a criada, produzindo uma criança, a situação deve ter atingido um grau bastante deprimente.
Apostado em fazer triunfar a revolução, a partir de 1864, Marx liderou a primeira reunião internacional de trabalhadores. Mas após várias frustrações e falsas crises mundiais, Marx dedicou-se cada vez mais à leitura, investigação e escrita da sua obra. Tinha publicado em 1859 Contribuição para a Crítica da Economia Política. As tentativas de construir uma teoria do valor e uma teoria monetária são arrojadas, mas muito limitadas. Diga-se que os economistas ainda não conseguiram resolver nenhum desses dois problemas, pois ambos estão ligados à natureza das distinções sociais e das identidades dos grupos — que são variáveis ao longo do tempo. Por isso, é impossível construir uma teoria do valor como é impossível construir uma teoria do amor.
Curiosamente, o livro, altamente técnico e difícil de ler, embora com passagens magníficas de ironia, é um sucesso comercial. A empresa é de tal forma ambiciosa que Marx não chega a publicar os volumes II e III, sendo publicados depois da morte (1893 e 1894). A mulher de Marx morreu em 1881, o que foi um duro golpe. Doente, Marx não voltou a ter saúde, e morreu quase miserável, a 14 de março de 1883. Segundo os relatos, estavam menos de onze pessoas no seu funeral.

















