Índice
Índice
O medo do fim do mundo é tão antigo quanto a espécie humana. Desde que o mundo é mundo, que os humanos temem o dia em que tudo acabe, que o Sol pare de brilhar e a vida se extinga. Esse medo, associado ao desconhecimento que existia de certos fenómenos naturais, levou a que, ao longo dos séculos, surgissem sucessivos anúncios de que o Apocalipse estava próximo, uma vez por parte de especialistas, outras pela voz de grupos menos especializados. Tremores de terra, eclipses solares, cometas, epidemias e outros fenómenos mais difíceis de explicar, como as chamadas “chuvas de sangue”, ou mesmo inventados, como as invasões marcianas de meados do século XX, criaram o pânico entre as populações, cuja crendice e desconhecimento levou a que associassem estes acontecimentos e calamidades ao Apocalipse há muito anunciado.
Portugal não foi, naturalmente, alheio às “angústias dos ‘fins do mundo’”. Desde o início da história portuguesa, e até mesmo antes disso (o registo mais antigo data de antes da fundação da nação), que existem relatos catastróficos de que o mundo estava para acabar. Joaquim Fernandes, historiador, professor universitário e especialista em fenómenos sobrenaturais em Portugal, revisitou alguns deles no seu mais recente livro, Apocalipses — Os Vários Fins do Mundo da História de Portugal. Fruto de uma pesquisa exaustiva em fontes das épocas abrangidas, iniciada muito antes da pandemia de Covid-19, Apocalipses não foi pensado nos tempos que vivemos, mas pode servir para ajudar a compreender “um bocadinho melhor as reações emocionais e racionais da população e também da comunidade científica”, como considerou o autor durante uma entrevista por telefone com o Observador.
Estas têm por base o “medo do desconhecido”, “que gera estas reações em massa que hoje estamos a reobservar em muitas instâncias desta crise” e que não são muito diferentes das vividas quando a peste varreu o país durante a época medieval, quando o cometa Halley atravessou os céus portugueses em 1910 ou quando Matos Maia anunciou uma invasão extraterrestre em direto na rádio, em 1958. As reações dos portugueses a estes fenómenos assemelham-se às dos cidadãos de outros países, mas Joaquim Fernandes acredita que haja talvez um aspeto que as distinga: “Obviamente que há uma religiosidade popular, que vive muito da superstição”, disse durante a entrevista. “Diria que, talvez, essa insegurança, essa intranquilidade, essa base supersticiosa das populações, sobretudo do interior do Portugal rural, do Portugal profundo, seja a marca de maior constância que encontro neste tipo de comportamentos em relação às crises ocorridas em Portugal.”
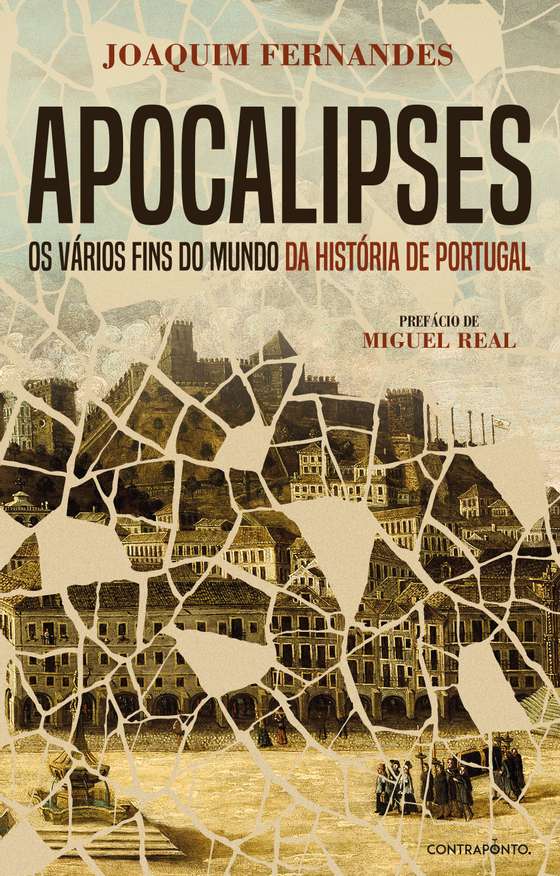
Apocalipses – Os Vários Fins do Mundo da História de Portugal, do historiador e professor universitário Joaquim Fernandes, foi publicado no início deste mês de abril pela Contraponto
O seu novo livro fala sobre “apocalipses”.
Estamos quase no meio de um. Não é verdadeiramente um apocalipse, mas tem alguns sintomas similares a estas crises que descrevo. Este livro surge de uma feliz coincidência.
Não foi pensado para esta altura.
Obviamente que quando comecei a escrevê-lo [não havia Covid-19]. Isto não é uma coisa que se faça de um ano para o outro, implica uma investigação histórica bastante exaustiva e, de facto, foi uma coincidência. Era para ter saído no início de 2020, mas com a crise pandémica, acabou por ser adiado.
Não foi pensado em resposta a esta crise, mas pode ajudar-nos a refletir sobre o que se passa?
Talvez pela leitura do livro percebamos um bocadinho melhor as reações emocionais e racionais da população e também da comunidade científica. Estamos muito longe dos níveis que a ciência, sobretudo a ciência médica, tinha noutras fases da nossa história. Em cada fase, foi-se gerindo estes acontecimentos de acordo com os saberes da época e muito com a participação das leituras religiosas. Havia uma ligação muito íntima entre a síndrome profética e todas aquelas previsões proféticas que vinham do Apocalipse de São João e de escritos que eram produzidos por pseudo-profetas, aquilo a que hoje chamamos as fake news. Naquela altura já havia fake news [risos]. Sobretudo a partir do século XIX, quando houve a expansão da imprensa diária e era possível levar estes avisos proféticos às grandes massas leitoras. As fake news não são de hoje. Portanto, esta sintomatologia social que hoje detetamos e pressentimos — os medos, as angústias –, está plasmado nesta série de acontecimentos, sejam eles produzidos no céu, como as auroras boreais, os terríveis cometas, etc., ou eventos ao nível da terra, [como] as crises pandémicas, as epidemias, as secas, as fomes, etc., que relatei no meu livro. É uma ramificação dos sentimentos e amarguras que os nossos concidadãos viveram de há dois mil anos a esta parte.
O primeiro evento que refere é anterior à fundação de Portugal: as convulsões sísmicas de 309 d.C., que foram sentidas um pouco por toda a Europa.
[São] mais de dois mil anos de crises apocalípticas [risos]. Umas foram mais dramáticas do que outras, outras tiveram grande impacto. O caso do cometa Halley, em 1910, que pré-anunciou a República, é um dos casos mais flagrantes de como os nossos medos são acionados pelo desconhecido. No fundo, é o que diz aquela citação que tenho logo na entrada do livro do grande escritor, grande mestre do terror norte-americano, Lovecraft: o principal dos nossos medos é o medo do desconhecido. Estamos ainda muito assentes em reações instintivas que têm a ver ainda com a presença do nosso primeiro cérebro, que reage precisamente às emoções geradas pelo desconhecido. O tal medo que gera estas reações em massa que hoje estamos a reobservar em muitas instâncias desta crise.
É então o medo do desconhecido que explica a forma tão catastrófica como a humanidade sempre olhou para estes eventos?
Claramente. É um sentimento ainda muito ligado a uma formatação religiosa, da iminência dos fins dos tempos, que sucessivamente tem sido anunciada por profetas, pseudo-profetas, pelos textos bíblicos. [É] esta formatação cultural que nos acompanha ao longo das diferentes civilizações e culturas, mesmo com uma supremacia cada vez mais crescente do laicismo em função do religioso. Interiorizámos na nossa cultura, na nossa educação, que os pais, as escolas e a socialização nos dão, um certo temor por aquilo que não conhecemos. E se não conhecemos, não controlamos. Daí essas reações a que assistimos, aqui e acolá, nesta crise pandémica. A leitura deste livro talvez nos ajude a perceber melhor porque é que as pessoas reagem em função deste desconhecido, que é algo que quando nos aparece à porta pela primeira vez, pode gerar situações de pânico e reações descontroladas.
Esse discurso pro e anti que é hoje gerado sobretudo nas redes sociais, não é mais do que aquilo que já assistimos noutras situações anteriores. Revisito o caso da aurora boreal de 1938. Na maior parte das populações, sobretudo das populações rurais, as mulheres refugiaram-se nas igrejas durante aquele espetáculo, que parecia o céu a arder. [O seu comportamento] contrastou com o comportamento dos homens que, em vez de irem para as igrejas, foram para outro templo, o templo de Baco [risos], ou seja, para as tabernas para gozarem os últimos dias. É o carpe diem, o famoso aforismo latino, que diz “goza o teu último dia”. É, em traços sintomáticos, aquilo que também se dá em muitas das situações que vivemos com o confinamento, o desconfinamento, esta dialética de grupos que contestam e que [dizem] “não vamos, para a frente”. Isto é o carpe diem também. Como vê, nada de novo sob o Sol, como dizia o outro.

▲ Joaquim Fernandes não escreveu "Apocalipses" a pensar na pandemia de Covid-19, mas acredita que a "coincidência" pode ajudar os leitores a compreenderem melhor os tempos atuais
Pedro Granadeiro / Global Imagens
A “febre” do fim do milénio e a “peste-castigo” do cerco de Lisboa
Falou na vontade de gozar o último dia. Foi isso que muitos procuraram fazer, por exemplo, na passagem para o ano 2000, que refere, aliás, no seu livro. Houve notícias de pessoas que venderam tudo o que tinham porque achavam que o mundo ia acabar, de outras que cometeram suicídio…
Exatamente. Foi uma crise enorme, ainda por cima exacerbada pelo anúncio da crise informática, da crise dos computadores, que ia desorganizar todo o planeta e toda a civilização e colocar isto num pandemónio. Foi uma réplica muito natural do que foi a crise do ano 1000, do milénio anterior. Foi exatamente a mesma coisa. Com outras tonalidades, com outros cenários mas, no fundo, era [igual] — as pessoas preparadas para morrer, refugiadas nas igrejas, a entregarem a alma ao criador. Esta dominante bíblica, profética e escatológica, que tem a ver com o fim dos tempos, é marcante e é a nota dominante de todas estas grandes crises. Por isso é que enuncio: os cometas, auroras boreais, eclipses, terramotos, dilúvios, epidemias e invasões extraterrestres, os famosos marcianos de 1958, corporizam aquilo a que chamo os sete cavaleiros dos apocalipses que, no fundo, são estes grupos de fenómenos externos que corporizam, transportam e reutilizam a ideia dos cavaleiros do Apocalipse. Todos estes episódios do Juízo Final têm a mesma marca, que é a marca do medo perante o desconhecido.
Há sempre novas facetas do desconhecido, por mais avanços que haja sobre a natureza e os seus fenómenos, seja na exploração do espaço ou a nível da exploração da Terra, embora muito mal cuidada, como sabemos, e também geradora de mais uma força com fator apocalíptico, a questão das alterações climáticas, que também estão aqui [no livro] representas pelas fomes, secas, ondas de calor. Tudo isso concorre para que esta crise possa ser revisitada em função desse background histórico. Ainda bem que houve fontes documentais que registaram esses acontecimentos históricos, com diferentes conclusões, com diferentes atores, mas também marcados, como sabemos, por oportunismos e inclusivamente auto-publicidade. [Por exemplo], o caso dos gases emitidos pelo cometa Halley, em 1910. Havia farmácias que vendiam mezinhas milagrosas para resolver esses envenenamentos putativos.
Refere várias epidemias, nomeadamente a Peste Negra de 1348 e também outras que se seguiram. No caso da peste, uma ideia que está sempre presente é a ideia de castigo divino.
No cerco de Lisboa [de 1384], [imposto pelas] tropas de D. João I de Castela na altura de D. João I e D. Nuno Álvares Pereira, o conceito que ficou [associado à epidemia de peste que assolou as tropas castelhanas] foi precisamente a de “peste-castigo”, associado à punição. O Deus punidor, que castigava os nossos erros, os nossos pecados, aproveitando os confrontos entre os seres humanos, neste caso entre países. É essa noção que depois se vai repetir já na idade moderna nesse episódio muito interessante do dilúvio de areia previsto para 1759, [relacionado] com uma seita apocalíptica aqui na região de Mondim de Bastos, no Monte Farinha. Essa questão de castigo divino é transportada ao longo das épocas sem grandes alterações, porque este fundamento bíblico do Apocalipse de São João é permanente e é reciclável, reutilizável, seja qual for o motivo da crise.
Durante a gripe espanhola de 1918, que causou dezenas de milhares de mortes em Portugal, teve um papel maioritário e de grande importante o hoje famoso Dr. Ricardo Jorge, que dá nome ao instituto. Já tinha sido uma figura importante na crise da peste bubónica aqui no Porto, em 1899, durante o qual o Porto sofreu o seu segundo cerco, dessa vez um cerco sanitário. Foi Ricardo Jorge que decifrou a origem da doença, o tipo de doença e, em colaboração com o Instituto Pasteur, em Paris, [desenvolveu] possíveis soros curativos. Caiu na desgraça em função da força dos comerciantes da cidade, que a queriam aberta. Cá está mais um fator em paralelo com os nossos dias, economia versus saúde. Os grandes comerciantes do Porto, através de um jornal da época, O Comércio do Porto, um dos grandes diários aqui da cidade, que era um porta-voz dos interesses dos comerciantes, [mostraram-se contra o cerco]. Fechar a cidade era matar a cidade. No fundo, é aquilo que hoje as pessoas da restauração e de todos os negócios se queixam, que não se pode fechar a economia, porque é a sobrevivência das pessoas está em causa. Uma das pessoas que defendeu essa perspetiva foi um dos nossos grandes filósofos, Sampaio Bruno, enquanto diretor da Voz Pública, que era um jornal republicano. Ele disse: “Isolar o Porto, dadas as relações que o prendem particularmente às províncias do norte, implica decretar a miséria”. Ele era contra o isolamento da cidade. Dizia que a calamidade mais espantosa era fechar a cidade. Cá está a dialética que hoje reconhecemos do confinamento/desconfinamento. Há aqui montanhas de situações paralelas e de ilações que qualquer leitor pode retirar.
E concluir que apesar dos vários anúncios do fim do mundo, tudo se supera.
Enfim, há sempre mártires, há sempre vilões, mas vai havendo soluções também. Hoje muito mais ágeis, muito mais aceleradas. Veja-se como foi [com] as vacinas, que já estão em circulação. Isso era absolutamente impensável há 20 ou 30 anos. Há o sofrimento para muita gente, mas superação para muitos também. Quem ficar por cá será para registar na memória e depois confrontar com outras situações de crise futura, que vão acontecer. De certeza absoluta que as pandemias não acabaram. Esta será a primeira de outras na sequência de outras passadas. As gerações futuras terão que ter sempre isso em conta.
O culto apocalíptico de João Pinto e Maria José e os “partos místicos” das madres portuguesas
Falou de eclipses, cometas, epidemias, que são a face mais visível destas histórias do fim do mundo. Mas há outras menos conhecidas e igualmente curiosas que conta no seu livro. É o caso do episódio do dilúvio de areia, que referiu há pouco, protagonizado pelo agricultor João Pinto.
É verdade, o grupo de João Pinto. É uma expressão muito particular do meio rural português, que era capaz de gerar esse tipo de movimentos que não tinham nada a ver com os movimentos no interior dos conventos, das profecias místicas no sentido religioso, baseadas nos textos e no ambiente conventual. E são movimentos gerados no interior português, é curioso, embora naturalmente apoiados pela dialética bíblica, que também estava associada a este fim do mundo, que neste caso seria pelo dilúvio de areia. Já tínhamos tido as ameaças do fim do mundo pela água, no caso do dilúvio bíblico, depois vários dilúvios pelo fogo. Esse da areia é muito interessante porque é muito sui generis.
Sobretudo porque se passou numa zona onde não há areia — no interior do país.
Claro, claro [risos]. É o elemento terra. No fundo, estamos sempre a girar à volta dos elementos — do ar, do fogo, da água. O elemento terra também teria de surgir. Seria estranho se não tivesse aparecido este elemento como um meio de expressão de um possível fim do mundo. Aliás, como digo na parte final [do livro em que falo sobre] o cenário apocalíptico que o nosso planeta provavelmente vai viver, é de facto pelo meio do fogo [que o mundo vai acabar], com a expansão do Sol [daqui a cinco mil milhões de anos]. O Sol vai crescer, aumentar na sua dimensão e abarcar os planetas inferiores, ou seja, Mercúrio, Vénus, Terra. É o elemento fogo, isto vai ficar abrasado. Vai ficar reduzido a uma rocha calcinada. De certeza que muito antes desses cinco mil milhões de anos já não haverá vida possível neste planeta. Muito antes disso, creio eu, já a humanidade estará noutros mundos. Espera-se. Pelo menos está-se a projetar isso. A ficção científica propôs isso há muito tempo.
João Pinto fazia-se acompanhar por uma senhora chamada Maria José.
Exatamente. Que acreditava que era a mãe do Criador que ia aparecer.
Isso remete para outros casos curiosos que relata no seu livro — os chamados “partos místicos”.
É a fação que há bocadinho citei, no âmbito eminentemente religioso e conventual. É uma espécie de epidemia que andava nos conventos [risos], de recriações de Jesus Redentor nos ventres dessas madres todas. Claro que a origem desses partos será muito mais mundana, muito mais terrena do que os que elas indicavam.
Estes partos aconteceram todos no mesmo período?
Sim, sim. É uma coincidência. Os “partos místicos” começaram no século XVII e continuaram até à transição do século XVII para o XVIII. É de facto uma componente muito vivida e muito permanente. São meia dúzia ainda! Pelo menos os que contabilizei no livro, que são conhecidos e que reclamavam e alegavam que transportavam dentro de si o Criador e o Redentor do mundo que vai voltar para nos redimir. É mais uma faceta realmente extraordinária dessa linha profética que entronca perfeitamente na linhagem da literatura apologética bíblica, são-joanina, neste caso.

▲ Joaquim Fernandes defende que as reações a certos acontecimentos considerados apocalípticos têm a ver com o medo inato do desconhecido e daquilo que não se consegue compreender
Pedro Granadeiro / Global Imagens
Os marcianos de Matos Maia e o medo do “outro-desconhecido”
Alguns dos episódios que conta, sendo portugueses, tiveram influência estrangeira.
Havia sempre uma réplica do que acontecia lá fora, especialmente quando já havia o fator imprensa, que amplificava aquilo que ia ocorrendo e quem dizia o quê lá fora. Um cientista, um astrónomo. “No ano tal vai acabar o mundo, no ano tal vai passar um cometa.” Tudo isso era percetível e absorvido por um espaço público de leitura que só se constrói a partir da evolução da imprensa no século XIX e, naturalmente, no século XX, nos episódios mais próximos, como o caso do Halley em 1910, da aurora boreal de 1938. Para não falar depois da amplificação das ameaças dos marcianos de 1958, com o Matos Maia [risos], que fez fugir muita gente das cidades! O presidente da Câmara de Braga fugiu aqui para o Porto porque estava convencidíssimo que a sua cidade ia ser assaltada pelos extraterrestres, neste caso, pelos marcianos. São reações epidérmicas, muito emocionais. Aqui não entra o racional. É muito difícil entrar o racional. Lá está, o desconhecido gera exatamente isso.
Esta ideia de que vamos ser invadidos por extraterrestres, marcianos ou de outros planetas, tem também persistido ao longo das décadas.
Isso nasceu com o grande clássico de H. G. Welles, A Guerra dos Mundos, que já teve vários remakes em termos cinematográficos e que foi replicada na grande encenação radiofónica de Orson Welles [em 1938] e chegou até nós pelas mãos e pela voz do Matos Maia da [Rádio] Renascença. É cíclico. É um dos clássicos que permanece e uma das nossas obsessões também. Um dos nossos medos também. É o confronto com o outro. O outro-desconhecido.
Parece nunca passar pela equação que vêm em paz. Porquê?
Aquele primeiro desenho da Guerra dos Mundos influenciou muitos autores de ficção científica. Sou um ávido leitor de ficção científica também. No geral, é o elemento agressivo, o hostil. Isso gera muito esse tipo de contraponto — medo, hostilidade, receio, como é que vamos enfrentar o outro, como é que será o outro, que motivações e objetivos terá o outro. Andamos sempre à volta disso. Claro que há outras leituras mais apaziguadoras, mais otimistas, mais luminosas — que nos vêm ajudar, se calhar já cá estiveram e deram-nos algumas ideias para o nosso desenvolvimento a partir das nossas bases. Há muitas hipóteses, como sabe, e hoje, com as redes sociais é facílimo despertar essas noções, algumas completamente descabeladas. O que é um facto é que esta relação com o outro que vem de fora é essa ideia também com que nos confrontamos enquanto europeus colonizadores de outras culturas. tentamos fazer o quê? Absorvê-las. Foi isso que fizemos. Acaba também por ser uma transposição óbvia do que nós fazemos aqui entre terrestres, entre culturas e tradições terrenas.
Ao olhar para todos estes casos, detetou alguma traço que seja específico dos relatos do fim do mundo portugueses?
Não vejo que haja um padrão eminentemente português. Obviamente que há uma religiosidade popular, que vive muito da superstição. O povo português é muito sensível a esse tipo de comoção e de informação que tem a ver com a sua religião e, sobretudo, com a religião popular, as crenças locais. Outro tema que tenho explorado muito é o tema mariano, da Virgem Maria, das aparições marianas, Fátima, por aí fora. Esse tema da religiosidade popular faz de nós um povo muito atreito e muito sensível a tudo o que venha de fora e que não seja controlável. E aí, qual é a autoridade que pode ajudar as populações menos informadas? É o padre, a Igreja, a religião, onde as pessoas se recolhem para sentir algum conforto e alguma segurança. Diria que, talvez, essa insegurança, essa intranquilidade, essa base supersticiosa das populações, sobretudo do interior do Portugal rural, do Portugal profundo, seja a marca de maior constância que encontro neste tipo de comportamentos em relação às crises ocorridas em Portugal.
Quando estava a ler o seu livro, lembrei-me do Crime de Soalhães, que ocorreu já em pleno século XX e que é um bom exemplo dessa superstição típica do Portugal rural.
Sim, exatamente. O Crime de Soalhães é mais do que evidente e mais do que eloquente deste tipo de comportamentos. Como é que é possível [aquilo acontecer] em pleno século XX? Como sabe, o caso deu origem a uma das famosas peças de [Bernardo] Santareno e também a um filme, e mostra como a ignorância e a superstição de muita gente pode fazer regredir comportamentos que são perfeitamente medievais. A manutenção, se quisermos, desse substrato mental que tem muito de medieval, muito de supersticioso, muito de base de crenças, que não tem nada de racional, é exatamente o desconhecido, que leva a que as pessoas se refugiem e recuem a esses pressupostos.
Comportamentos que ainda podemos encontrar hoje em dia?
Claro. Ainda não está completamente superado de certeza absoluta. Não é preciso ser adivinho. Se acontecer agora uma aproximação de um cometa espetacular, se tivermos ocasião de ver de novo uma aurora boreal, quase que aposto a minha honra em como vai acontecer quase tudo da mesma forma como aconteceu em 1938. E até em alguns excertos populacionais urbanos e mais informados. Esse tipo de reações será sempre uma constante. Não será de esperar outra coisa nas próximas décadas, nas próximas dezenas de anos. É algo que faz parte da nossa matriz. Não somos melhores nem piores do que os outros, mas somos isso. É, aliás, algo que o Fernando Pessoa caracterizava muito na maneira de ser português — a sua emotividade. Temos realmente pouco uso da razão em detrimento da emoção, do sensível e do imediato. Seria de esperar, ou será de esperar, esse tipo de reação de novo se ocorrer um fenómeno dessa natureza.
















