Índice
Índice
Antes de Dulce Maria Cardoso nascer, o pai, que não estava em Portugal, mandou à mãe da escritora uma lista de quatro nomes, dois de rapaz e dois de rapariga. Os de rapaz eram normais, mas os de rapariga eram estranhos, fora do comum. A mãe não gostou de nenhum, mas acabou por escolher Dulce, ao qual depois acrescentou Maria, em honra da mãe de Jesus.
Dulce Maria Cardoso cresceu com esta história, ao mesmo tempo que se ia interrogando como teria sido a sua vida se a mãe, em vez de escolher o nome que lhe foi dado à nascença, tivesse escolhido o outro que vinha na lista do pai: Eliete. Esta Eliete, que nunca saiu verdadeiramente da cabeça da escritora, voltou a aparecer com mais força nos últimos anos, enquanto preparava o novo romance, o aguardado sucessor desse “pequeno monstro” chamado O Retorno, que a afirmou enquanto autora em Portugal e também além fronteiras. Foi quando percebeu que o livro em que estava a trabalhar tinha como tema central a identidade, da personagem principal mas também do país, que Dulce Maria Cardoso entendeu que este não podia ter outro nome se não Eliete.
A Eliete do livro, tal como a Eliete que Dulce Maria Cardoso poderia ter sido, tem uma “vida normal” que, por circunstâncias várias, a autora nunca teve. Mas como é que teria sido se a tivesse tido? Talvez como a da Eliete do romance, cheia de todas as coisas normais que cabem num vida normal — um emprego estável, um bom marido, filhos e um álbum de fotografias das férias. Eliete — que chegou às livrarias nesta sexta-feira — é, assim, uma brincadeira da autora consigo mesma, mas também uma análise muito atenta da contemporaneidade, com todos os seus problemas e dilemas, e do próprio conceito de normalidade. Até porque “essa normalidade é o melhor reagente para perceber a mudança” que está a ocorrer no mundo. “A mudança é sempre menos dramática numa vida caótica do que numa vida normal”, disse a autora ao Observador, que admite, sem medo do “ridículo”, que deseja ser lida.
Apesar de no conceito de normalidade de Eliete caber o mundo todo, há ainda espaço para um pedaço grande do passado. Para a autora, a ideia de “vida normal” que Eliete faz tanta questão de cultivar apesar da infelicidade que sente, é uma herança do salazarismo. Os sonhos da personagem, tão pequeninos e comezinhos que há quem nem os considere sonhos, “são os sonhos que Salazar nos permitia”, explicou Dulce Maria Cardoso. Apesar de o 25 de Abril ter posto um fim a tudo o que mais de terrível havia na ditadura, houve uma coisa “mais determinante” que não desapareceu: “O modo de ser”. “Isso não acabou. Não acabando, foi passando”, afirmou em entrevista ao Observador, acrescentando: “Nesse sentido seremos sim, todos herdeiros do Salazar“.
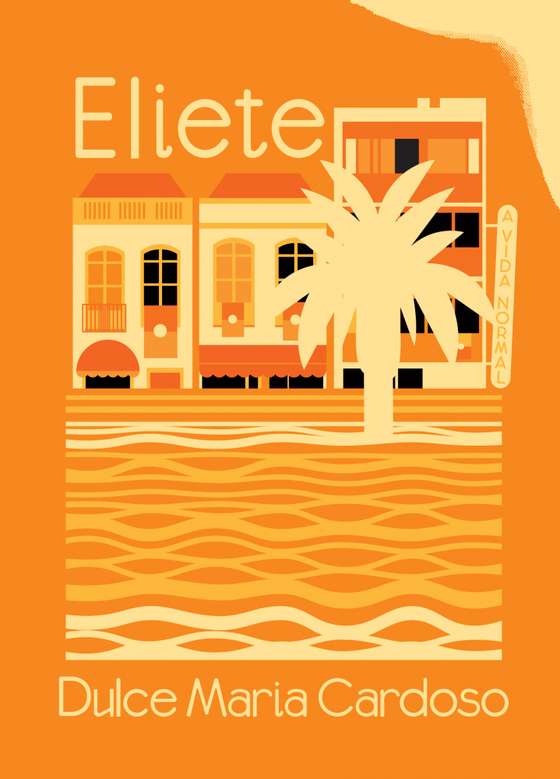
O novo romance de Dulce Maria Cardoso, Eliete, chegou à livrarias nesta sexta-feira, 30 de novembro. A edição é da Tinta-da-China
Não se importa que deixe o telemóvel ao pé de mim?
Ah, não, também tenho sempre aqui o meu.
Os telemóveis não nos largam. A Eliete também anda sempre com o dela na mão.
[Risos] Isto já é outro cérebro! É um cérebro externo.
É uma questão de tempo até entrar dentro de nós.
E vai entrar.
Esse futuro não é um bocadinho assustador?
Poderá ser, mas se não pensarmos sobre ele é que é de certeza.
Uma das questões que aborda no seu novo romance é precisamente as redes sociais e o facto de as pessoas viveram cada vez mais através de um ecrã, construindo uma vida fictícia.
Sim, mas não é a existência das redes sociais ou da Internet em geral, que possibilita tudo, que está errada. Por exemplo, se tivéssemos descoberto a eletricidade e em vez de a utilizarmos para produzir luz, a usássemos para estarmos sempre a apanhar choques, não íamos dizer que a eletricidade era má por causa disso — íamos dizer que estávamos a fazer um mau uso dela. O que se pode questionar nestes tempos é o uso que estamos a fazer de um instrumento — porque é um instrumento como qualquer outro — que nos possibilita pela primeira vez estarmos todos em contacto. [Há] este salto tecnológico e, por outro lado, [temos] os transportes mais baratos. Estas duas coisas fazem com que a humanidade, pela primeira vez na sua História, esteja muito próxima. Essa é a grande novidade destes tempos, essa tal possibilidade de estarmos todos em contacto. Isso pode ser uma coisa muito boa. Pode criar, por exemplo, um grande movimento empático com o outro porque o desconhecido é sempre assustado, e quando estávamos distantes do outro, podíamos ter medo. Agora, o problema é que, em vez de criarmos essa empatia, fizemos outra coisa que é talvez mais perversa: identificámos neles [nos outros] aqueles defeitozinhos que todos temos, nomeadamente o medo, e começámos a legitimar o nosso. Começámos a dizer: “Se eles têm, nós também podemos ter”. Isto levou à erupção dos movimentos mais ou menos fascistas que andam por aí. De alguma maneira, vamo-nos legitimando uns aos outros. E isto começa a ser normal, e quando uma coisa começa a ser normal, perdemos o olhar crítico sobre ela porque deixamos de a ver.
A empatia, de que falou, é cada vez menor.
Porque escolhemos assim. Por exemplo, é simples de perceber que terá sido um susto enorme um homem branco avistar um índio ou um índio avistar um homem branco. Infelizmente correu mal, muito mal, por causa da prepotência do poder dos europeus, de quem chegou, mas percebe-se o medo que o desconhecido provoca. Agora não temos essa desculpa porque, aparentemente, estamos todos em contacto. Aparentemente, todos nos conhecemos. Aparentemente, somos todos semelhantes. Porque é que continuamos a escolher ostracizar o outro? Isso já tem a ver com as nossas escolhas, não tem a ver com o não os conhecermos. Escolhemos foi tirar do outro aquilo que reforça a nossa posição.
Escolhemos não os conhecer.
Escolhemos não os conhecer e afastá-los. E escolhemos ostracizá-los, constituir-nos em grupo. Na verdade, escolhemos uma coisa mais tribal, de sobrevivência da nossa sobrevivência.

▲ Dulce Maria Cardoso publicou o último romance, "O Retorno", há sete anos, também pela editora Tinta-da-China
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Porque é uma escolha mais fácil?
Estamos de alguma forma armadilhados. É muito complicado ter o tal olhar crítico sobre aquilo que estamos a viver. Um corpo social, um movimento, é como o nosso corpo, no sentido em que não nos damos conta [do seu funcionamento]. O nosso corpo é muito complexo, tem mecanismos violentíssimos, e não damos conta disso porque funciona, porque é normal. Só o movimento constante da respiração é um cansaço enorme, mas como estamos sempre a respirar, a coisa vai avançado. Quando há um problema é que se percebe a complexidade disto tudo. Os corpos sociais são a mesma coisa — há uma ideia de normalidade, e a coisa vai indo, vai indo, vai indo… E, de repente, a normalidade é uma capa sobre a qual tudo se abriga, incluindo a coisa mais maligna, mais disparatada, mais inútil. Porque é que ninguém põe isso em causa? Porque, possivelmente, já ninguém repara nela. Se entendermos uma coisa como normal, ela é normal, e ser normal é continuar. O que determina a mudança é caótico, e isso provoca o tal medo. Mas pode ser um esforço positivo — não tem de ser uma coisa terrível, a mudança. Pode ser uma mudança para melhor. Nós é que assumimos que é sempre negativa.
Estes tempos agora são um bocadinho mais complicados. A pergunta já não é tanto “como é que eu posso mudar isto?”, como aconteceu nas lutas anteriores, mas “como é que eu posso não mudar isto?”. Ou seja: estamos a querer agarrar-nos a uma coisa que deixou de existir. Houve um tempo em que o coletivo era outra coisa, em que não havia a possibilidade de existir virtualmente. E isso nunca mais vai voltar.
Acha que andamos iludir-nos a nós próprios? Agarrados a uma coisa que já não existe?
Existe, mas de outra forma. O coletivo passou a ser outro, a experiência foi mudando ao longo dos anos. Antes, era muito a vida na aldeia, onde todos se conheciam e participavam nas cerimónias todas. Depois foi-se para a grande cidade, passou-se ao anonimato. E agora é outra coisa, que é existir sem existir — o existir sem corpo —, o que nos permite estar no mesmo ecrã com pessoas [de vários pontos do mundo], da Nova Zelândia, da África do Sul. Isso não é necessariamente mau, não tem de ser. O coletivo já não é a experiência de irmos todos à missa ao domingo, ao cinema — passou a ser conhecermo-nos de outra maneira.
E o coletivo já não tem de ser uma coisa física.
Não tem. Nem o sexo [tem de ser], como está no romance. O rapaz já não conhece a rapariga no café, ou onde for. É muitas vezes online, no Facebook. Tudo isto passou a ter uma importância extrema na nossa existência, na maneira como gastamos o tempo e como nos apresentamos ao outro. Portanto, mudámos. Não pensar sobre isto e deixar que as coisas andar é que é perigoso. Isto está a mudar, mas o que é que vai ser? Não se pode saber. Como é que vai ser? Também ninguém sabe. Esse vazio é perigosíssimo. Estes tempos são como aqueles antes de um temporal. A mudança já se sente mas ainda podemos chamá-los de normais. Mas já não têm nada de normais.
A vida normal de Eliete, a mulher sem sonhos
Isso está tudo na vida da Eliete.
Pois, a vida da Eliete condensa isso.
Ela vive sobre essa capa de normalidade de que falou, embora já sinta a tempestade a chegar. Tem aquela vida há muito tempo…
Está estagnada.
Infeliz.
Mas não está suficientemente infeliz para a mudar. Está suficientemente infeliz para procurar outra coisa.
Ela não quer largar aquilo que tem como garantido.
Nunca largamos aquilo que nos dá segurança, ainda que saibamos que isso nos pode prejudicar muito. Temos muita dificuldade em atirar-nos ao desconhecido.
Nesse sentido ela é um pouco diferente da melhor amiga, a Milena. A Milena não teve medo de arriscar — traçou um objetivo e alcançou-o. A Eliete nunca teve sonhos.
Pois não… Este romance é delimitado pelo Salazar, no início e no fim. E, na verdade, a vida normal está eivada de uma maneira de existir que ainda é muito do Estado Novo.
É por isso que Eliete não teve sonhos?
Ela tinha alguns, mas eram comezinhos. O namorado de então [o Marco, que sonhava em ser uma rock star] dizia que “isso não são sonhos”. Mas ela tinha-os, tinha a lista dela — deixar de usar óculos, tirar a carta, ter um marido, ir de férias para o Algarve. Isto, na verdade, são os sonhos que toda a gente mais ou menos tem. O namorado é que tinha a coisa de ser uma rock star, e assim [risos]. A Eliete tinha os sonhos da vida normal, que são os sonhos que o Salazar nos permitia. Aquela coisa da vida! Foi assim que ele convenceu os portugueses à ditadura: a ideia de uma vida normal. Uma vida sem excesso.
Centrada na casa, na família.
Exatamente. E a Eliete tinha isso, tinha esses [sonhos]. Não tinha a determinação da Milena nem era megalómana como o Marco. Mas tinha sonhos.
Disse que a Eliete não tinha a determinação da Milena, e ela própria fala numa vontade “lassa”. É isso que faz com que, após duas décadas de um casamento que já não a faz feliz, o máximo que consegue fazer é arranjar um amante? Ela parece ser incapaz de ir mais longe do que isso e cortar o mal pela raiz, como já falámos.
Foi uma coisa faseada. De alguma maneira, este romance contém também uma radiografia da traição. Acho que não há ninguém que pense: “Hoje decidi que vou ser adúltera” ou trair a confiança de alguém. Acho que é uma ideia que se vai instalando. Como ela diz, não é um trovão que anuncia a tempestade — é uma coisa que vai germinando. Ela começa logo no primeiro capítulo a fantasiar com o médico, mas isso ainda é aceitável, toda a gente fantasia; depois era um jogo — o marido andava a caçar pokémons, então ela podia andar no Tinder. Na verdade, e aqui também fazendo um paralelismo com o país e o mundo, não se pode desresponsabilizar a Eliete pelas suas ações, mas também não se pode desresponsabilizar quem não cuidou dela, quem a deixou naquele abandono. É como com os países: não se pode desresponsabilizar os eleitores que votaram no Bolsonaro, mas também não se pode desresponsabilizar quem criou essa massa e que levou a que votassem nele.
Ainda que tudo tenha acontecido de forma faseada, existe o momento da epifania, durante o qual Eliete se apercebe que não encaixa ali, que está sozinha. Isso acontece durante a final do campeonato europeu de futebol. Porque é que escolheu especificamente esse momento para a epifania de Eliete?
Porque é sempre mais complicada a nossa solidão, a nossa infelicidade, o nosso desassossego e a nossa tristeza quando sentimos os outros [felizes]. Somos animais de pertença, e sentimos tudo por comparação. Se acharmos que os outros estão tristes, a nossa tristeza dói menos. Mas se acharmos que somos a única pessoa triste, isso faz-nos agir, porque nos sentimos injustiçados. Ela estava meio com os copos e quando acordou estava inscrita [no Tinder]. Como se não se lembrasse. Depois é que legitimiza a continuação, que é sempre o problema. Mais uma vez, inscrever-se não tem mal nenhum, pode ter-se curiosidade. O problema é sempre a continuidade, quer para com a normalidade que nos vai anestesiando, quer para com um crime ou uma ação menos boa que se inicia.
Essa continuidade acontece porque ela se vai desculpando.
Como todos nós quando queremos fazer uma coisa que não achamos correta. Há sempre esta maneira de torcer a realidade até a realidade encaixar. Mas ela tem razões que a levam a fazer isso. Este romance é, também para mim, um romance sobre a identidade, não só daquela mulher e daquela família, mas também do país. Por isso é que o jogo [da final] do campeonato [europeu de futebol] tinha de lá estar, por causa daquele paralelo com o Salazar e os três efes — Fado, Fátima e Futebol — mas também por causa desta maneira mais ou menos esquizofrénica e imatura de existirmos enquanto povo — quando ganhamos somos os maiores e quando perdermos somos os piores do mundo.
As personagens mais importantes são todas mulheres. Temos a Eliete, as duas filhas, a mãe dela, a avó, a Milena… É um romance dominado por figuras femininas muito fortes.
Sim [risos], mas não foi de propósito.
Não? Não foi deliberado?
Não, sinceramente não foi. Agrada-me que seja, mas não foi.
Mas isso fez com que acabasse por abordar muitas questões e problemas que dizem apenas respeito às mulheres. Por exemplo, conta que, quando Eliete era mais nova, a mãe só lhe comparava pensos higiénicos quando era a mulher do dono do supermercado que estava na caixa. Se fosse ele que estivesse, não os levava.
Isso, infelizmente, ainda é deste tempo. Houve um inquérito no Reino Unido e creio que 65% das raparigas disseram ter desconforto a falar do período com homens. E estamos a falar deste lado do mundo. Fora dele ainda é pior. Infelizmente, não é deste período [Eliete cresceu nos anos 80] ou de determinadas famílias, ainda existe. E claro que isso tem a ver com uma maneira de encarar o corpo da mulher e como nós nos encaramos a nós próprias nesta atitude de subserviência de não incomodar com as nossas particulares.
Porque há coisas que os homens não podem ver, como escreveu.
É uma questão de não incomodarmos os outros. Isto é uma questão que diz respeito apenas às mulheres, portanto guarda-se entre mulheres. Também tem muito a ver com uma outra questão, com esta espécie de orgulho irmanado de que, assim, poderemos cumprir a nossa missão que, até há bem pouco tempo, era ser mãe. Éramos mais uma coisa utilitária, não existíamos em pleno direito. A Eliete diz muitas vezes aquela coisa do querer que lhe acontecesse tudo. Crescer mulher, ainda hoje, significa não ter isso. Ainda não pode haver isso porque não há igualdade de oportunidades. Só para dar um exemplo: a rua é um espaço público em que os homens caminham [livremente]. Uma mulher não, tem de ter atenção à roupa. É ver as últimas sentenças [do Tribunal] da Relação do Porto [que falou em “sedução mútua” no caso da violação de uma mulher em Vila Nova de Gaia]. Uma mulher não pode beber, não pode ter imensos comportamentos que os homens têm sem ser penalizados por eles. Mas não foi essa a minha intenção — sou mulher e evidentemente que estou atenta a isso, mas não decidi sentar-me e escrever escrever um romance sobre mulheres. Não, não foi de todo isso.
No meu trabalho as mulheres são sempre muito fortes mas, por exemplo, n’O Retorno [o protagonista] é um rapaz. Tento sempre afastar-me, mas neste dei conta que, de repente, estava ali com [várias] mulheres. Mas talvez [isso tenha acontecido] porque no espaço doméstico é assim. Talvez o espaço público pertença mais aos homens, e este é um romance intimista.

▲ A autora lançou o seu primeiro romance, "Campo de Sangue", em 2002. O livro foi recentemente editado pela Tinta-da-China
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
A maioria das cenas passam-se dentro de casa.
Exato. É mais o espaço das mulheres.
Mas mesmo que não tinha sido propositado, é o facto de as personagens principais serem mulheres que acaba por ditar em grande medida o rumo da história.
O que carregamos connosco determina-nos. Ser português é necessariamente diferente de ser alemão, como ser mulher é diferente de ser homem, como ser branco é diferente de ser negro… Essas diferenças não teriam mal nenhum — muito pelo contrário, seriam bem vindas — se houvesse igualdade de oportunidades. O problema é que essas diferenças serem usadas para descriminar.
A sombra de António de Oliveira Salazar
E quando é que surgiu a figura de Salazar?
Vem da questão da identidade. Ao pensar sobre a mudança, tive de questionar a identidade. Se não soubermos o que somos, não damos conta da mudança. Ao pensar sobre isso, percebi que tinha em mim grande parte de uma coisa que pouco vivi mas que me foi transmitida por quem a viveu. Nestes últimos anos tenho viajado muito, muito, muito. Estive em muitas universidades, e fiz muitas residências literárias e assim. Percebi que, no essencial, somos todos muito semelhantes — somos mais parecidos do que diferentes, mas temos especificidades. Cada povo. Os portugueses também, evidentemente. Percebi que as nossas particularidades tinham muito a ver com esse período [do Estado Novo], com essa maneira de ser. Dou dois exemplos. O respeito absurdo que ainda temos pelo senhor doutor, pelos títulos. Vamos ao médico numa situação de alta fragilidade e ainda fazemos a devida vénia ao falar com o médico. A primeira vez que tive de ir a um hospital nos Estados Unidos, [apercebi-me de] que os doentes tratam os médicos pelo nome. Achei isso estranhíssimo. Não consegui sequer explicar como é que nós ainda nos relacionávamos com essas profissões ditas de poder [desta forma]. A maneira como qualquer pessoa passa a ser doutor ou é tratada com a reverência de um doutor diz muito acerca da nossa ignorância e da nossa pouca instrução. E é normal, porque, muitas vezes, é-se a primeira pessoa licenciada na família em gerações. Evidentemente que isso tem uma importância, porque [antigamente] quase ninguém estudava. Agora já não é assim, mas ainda não se perdeu esse hábito.
Mas não é só com os médicos. Estou a dizer isto porque toda a gente tem de recorrer a médicos, não tenho nada contra a classe médica [risos]. Com os advogados é a mesma coisa. Temos uma coisa de extrema subserviência para com quem achamos que está acima de nós. Temos muita dificuldade em estabelecer relações de igualdade. É ainda um grande problema, temos uma estratificação social absurda. Tudo isto são, para mim, resquícios desse tempo em que era tudo muito estratificado e quase obscuro. Poderia ter sido assim mesmo que não houvesse Salazar, mas a verdade é que ele existiu durante esse tempo todo. Foi a ditadura mais longa, foi o homem que esteve mais tempo seguido no poder. Alguma consequência isso tem de ter em nós.
Prova de que ele não desapareceu é que, há uns anos, foi eleito o “maior português de sempre”.
Ele está muito presente, como está muito presente a ideia do homem que nos vai salvar. Ainda somos um povo relativamente órfão à espera de um pai. Ainda há muito disso em nós.
Acha que não há uma consciência dessa herança?
Acho que não, porque nem nos pomos a pensar sobre isso. A verdade é essa. Por razões diferentes: uns porque não estão interessados, outros porque, estando interessados, não têm tempo nem disponibilidade para o fazer, e outros porque não têm capacidade. Não há um pensamento associado a isso. Acho que andamos muito anestesiados.
Estamos à espera de uma grande tempestade?
Acho que sim. Acho que estes tempos já são de mudança. Aquilo que disse há bocado, sobre o facto de a tecnologia ter passado a ter uma importância enorme, de estarmos cada vez mais próximos. Isso dá-nos uma perspetiva diferente e outra maneira de olharmos para o conhecimento. Achamos que podemos saber tudo em segundos e não percebemos que, quanto mais informação [temos], mais dispersivo se tona tudo. [Tornamo-nos] incapazes de reter e ainda menos de processar aquilo que nos interessa e que precisamos. Isso está a tornar-nos outros, é evidente que sim.
Lembro-me de ver não sei quantos artigos de opinião, não sei quantas sondagens e ninguém acreditava que o Trump ia ganhar. E ele está lá! E escapou em grande parte por isto: os mecanismos habituais já não estão a funcionar. Não houve nenhum candidato que fosse tão ridicularizado. O que está a acontecer na Hungria, na Polónia e em não sei quantos sítios, está a escapar-nos porque é estranhíssimo. Desde a Segunda Guerra Mundial só passaram três quartos de século, que é mais ou menos a idade da avó [da Eliete]. É como se o tempo histórico sofresse da mesma demência. É como se nos tivéssemos esquecido do que foi, para agora estarmos outra vez alegremente no mesmo caminho.
Portanto, a Eliete não é só a Eliete — é o mundo inteiro.
[Risos] Não sei, para mim é só a Eliete. Mas demorou muito a pensar. A Eliete talvez tenha essa complexidade toda porque demorou muito tempo a pensar.
Uma personagem é como “um desconhecido” que se vai tornando um “amigo”
Disse numa entrevista que nunca consegue definir previamente o que vai escrever porque vai mantendo um diálogo com as personagens. Isso quer dizer que a Eliete nem sempre foi a Eliete?
Não. Acho que escrevo o romance em co-autoria com as personagens [risos]. Elas são determinantes, tudo começa com elas. Elas aparecem, mas eu não as construo. Não tenho aquela coisa do “agora vou escrever sobre uma mulher, que tem esta idade”… É como uma pessoa, um desconhecido que me aparece e que se vai tornando meu amigo. É exatamente a mesma relação. Ao primeiro contacto, sabemos muito pouco — sabemos qual é o aspeto, o tom de voz, e depois vamos aprofundando, aprofundado até conhecermos mais. A Eliete, de facto, não estava para ser a Eliete. Aliás, tinha outro nome. Foi só quando percebi que isto era um romance sobre a identidade é que decidi chamá-lo Eliete, porque isto também é uma brincadeira comigo. Da mesma maneira que nesta vida normal está muito do pensamento salazarista e do Estado Novo sem ser diretamente — só está balizado por isso —, eu também estou muito neste romance numa coisa de desconstrução, nomeadamente no nome.
Porque é que decidiu então chamar-lhe Eliete?
Chamo-me Dulce, mas poderia ter-me chamado Eliete porque o meu pai mandou uma lista à minha mãe com quatro nomes — o meu pai não estava cá quando nasci —, dois de rapaz, que era o que ele achava que eu ia ser, e dois de rapariga. Penso que ele investiu nos nomes de rapazes, que eram nomes normais — Manuel e Francisco. Depois havia dois nomes de rapariga — Eliete, estranhíssimo, e Dulce, que não era nada habitual. A minha mãe não gostou de nenhum [e] acrescentou Maria ao Dulce para ser uma homenagem à Virgem Maria. Essa história sempre me foi contada — que o meu pai mandou esses nomes, que a minha mãe não gostou de nenhum, etc.. De certa maneira, sempre fiquei a avistar a tal Eliete e outras vidas que podia ter tido. Daí a sedução também pela normalidade, pela tal “vida normal”. De alguma forma, temos todos esta nostalgia. Se calhar nenhum de nós a tem, mas todos achamos que os outros têm vidas normais, vidas certinhas.
As vidas dos outros parecem sempre melhores do que as nossas. Mais fáceis.
Sim, mas acima de tudo há uma ideia de normalidade e de que aquela pessoa está a fazer o que deve fazer — estudou, depois casou, depois teve filhos, arranjou um emprego, comprou a casa de férias. Há uma espécie de percurso que definimos como “normal” e tudo o que se afaste daí acaba por ser esquisito. Como eu, por circunstâncias variadas e também por opção, me fui afastando desse percurso, sempre tive essa apetência, essa sedução pela vida normal. Então decidi criar a Eliete. Quer dizer, a Eliete já existia, mas foi quando percebi que era a Eliete com a tal vida normal que me estava a chamar que vi que essa normalidade é o melhor reagente para perceber a mudança. A mudança é sempre menos dramática numa vida caótica do que numa vida normal. Então percebi que tudo estava certo.

▲ Dulce Maria Cardoso admite que todos os livros que escreve têm um bocado de si, ainda que não sejam baseados na sua vida
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Mas será que essa vida normal existe mesmo? Basta olhar para a Eliete para perceber que se calhar não é bem assim.
Nós é que criamos estas capas, estes conceitos. Ao perto, ninguém é normal, perfeito. Temos todos as nossas particularidades.
Andamos sempre à procura da perfeição?
Do que nos vendem como perfeição [porque] não chegávamos [sozinhos] a estes sonhos rebuscados de rock star. É o que nos vendem como sendo melhor, e nós depois queremos isso. Queremos sempre aquilo que nos oferecem como único, espetacular e fantástico.
Eliete vai voltar — “se continuar a falar”
Ao abrirmos o livro, ficamos logo a saber que esta é apenas uma primeira parte, o que significa que haverá uma segunda.
Pelo menos uma segunda, sim. Isto se a Eliete continuar a falar, que ela às vezes pode-se calar [risos]! Escrevo muito baseada no que vai acontecendo, mas depois tenho um controlo absoluto do que é publicado. Aí sou extremamente racional, e cerebral até. Não é aquela coisa do “sou possuída por uma personagem”. Mas a única coisa que acho verdadeiramente misteriosa neste processo todo da escrita é a existência de personagens. Se calhar é só uma versão mais sofisticada do amigo imaginário que quase toda a gente teve. Só que eu tenho vários amigos imaginários, aos quais lhes vou atribuindo personalidade e eles vão agindo, interagindo. Vou criando um mundo um mundo faz de conta na minha cabeça. Por exemplo, para mim é muito claro que ela [Eliete] faz uma coisa e não faz outra. Mesmo que me dê jeito em termos narrativos que ela faça outra coisa, ao forçá-la a fazer uma coisa, o resultado é sempre péssimo. Tenho de desistir sempre. Eles ganham sempre. Há de facto qualquer coisa de misterioso nisto de inventar pessoas. Se não houver nada disto, se não houver um bloqueio, sim, haverá continuação.
Ainda não começou a escrever a segunda parte?
Não, já tenho muita coisa. Esta não foi a minha ideia inicial. Ao princípio, tentei fazer o que fiz com os outros romances — começar e ir até ao fim. Depois vi que já tinha mais de mil páginas escritas e que [o romance] não estava construído. Era como se fosse um edifício, mas que depois não tinha portas. Faltava janelas, faltava metade do telhado. Só depois é que percebi que estava a falar de sítios diferentes. Havia uma parte que era a tal “vida normal”, em que tudo parecia normal, e depois havia uma outra, em que ela, com a revelação que teve ou achou que teve, passava a ser outra. Isso não se resolvia com uma simples primeira parte e segunda parte — tinha de haver outro dispositivo. Depois é que percebi que tinha mesmo de acabar. Portanto, não foi uma coisa que tenha decido no início, aconteceu, e isso é bom. Estar disponível, deixar-me ir.
Então são as personagens que dominam tudo.
No meu caso sim, mas a maior parte dos autores se calhar nem gosta muito de personagens. Gosta mais de ideias ou de outra coisa qualquer.
Isso significa que, quando termina um livro, as personagens nunca a abandonam? Ficam consigo para sempre?
Sim, sim, e às vezes até aparecem como secundárias noutros livros. É como se houvesse um universo paralelo — que, para mim, é tão real como o que estou a ver — onde estão todas as personagens. De vez em quando vou sabendo delas, mas às vezes não me dizem nada de interessante para continuar a escrever sobre elas [risos]. Continuam lá na vida delas! Mas pode acontecer voltar a escrever sobre o Rui, de O Retorno, a Violeta [de Os Meus Sentimentos] ou o Afonso [de O Chão dos Pardais], por exemplo.
Disse que às vezes as personagens transitam de um livro para o outro. Embalada pela Eliete, decidi reler O Retorno e reparei que o Rui teve um cão chamado Bardino, antes da Pirata. Esse é o nome de todos os gatos da avó da Eliete.
Lá está, ainda que nunca seja sobre mim, é sempre sobre mim. Ainda que tente, através da ficção, sublimar quer a minha experiência, quer o meu pensamento sobre a vida, a verdade é que não sei existir sem ser eu, e eu carrego uma série de histórias. Uma das histórias que carrego é precisamente a de um cão que se chamava Bardino, que existiu antes de eu nascer. Era um cão que os meus pais adoravam e que lhes foi roubado. Eles sempre contaram essa história com tanto desgosto que, de alguma forma, para mim, [um animal de estimação] é um Bardino. Nunca tive nenhum Bardino, nem o conheci, mas é o Bardino. Aquele amor que senti que os meus pais tinham por aquele animal consubstancia-me o animal. Se me disserem “gato”, “cão”, eu penso Bardino. Portanto, é natural que apareçam vários Bardinos. Aqui resolvi isto com o mesmo [risos]. Neste romance ando, de alguma maneira, a brincar com isto — a pegar em coisas minhas anteriores e a resolvê-las.
Chamou Bardino a todos os gatos da avó da Eliete e assim deu-lhe uma vida eterna.
Pois dei. N’O Retorno, a mais importante é a Pirata, a cadelinha, mas de facto há isso [do Bardino]. Pensei: “Agora vou resolver isto com um Bardino eterno”. É curioso ter reparado nisso.
Só que ao ganhar a vida eterna, o Bardino transformou-se num gato.
[Risos] Porque é indiferente.
É o que ele simboliza.
Exatamente. Neste [romance] e no que já tenho escrito, há essa revisitação, de alguma maneira. Como é uma coisa de identidade, também me revisito a mim enquanto autora. Aproveitei frases minhas de outras coisas, porque me vou repetindo. Há essa brincadeira de autoria comigo.
Há pouco tempo, houve um colóquio no King’s College, em Londres, para celebrar os 20 anos da entrega do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. O título do evento, além de referir Saramago, também a referia a si.
Sim. Era o título do meu primeiro romance [Campo de Sangue] com o primeiro romance do Saramago [Terra do Pecado]. Foi uma coisa que me deixou muito comovida e contente. A atenção que dedicam aos meus livros é sempre bem vinda e, para mim, é motivo de grande alegria, mas também tenho consciência de que se podem fazer mil combinações possíveis. Podia não ter sido essa e ter sido outra. Fico muito contente com tudo isso, mas o que me interessa mesmo é leitor a leitor. Quando escrevo, penso sempre num leitor abstrato.
Pensa nos leitores quando escreve?
Não para determinar o que escrevo, no sentido de agradar ou não, mas penso se vai ser lido. Ou seja: desejo que seja lido. Não penso estrategicamente no que vai [agradar aos leitores], até porque acho que isso não adianta. Acho que não é possível. Lembro-me de que quando escrevi O Retorno, que é assim um pequeno monstro, era um assunto a que ninguém ligava. A crítica sempre foi muito entusiasta pelo meu trabalho, mas tinha muito poucos leitores. E pensei: “Agora então! Ninguém está interessado nisto”, e foi o contrário. Ainda hoje continuo a receber mensagens por causa d’O Retorno, passados sete anos. É um livro muito amado mesmo. É imprevisível, é tudo muito imprevisível. Agora, é inequívoco que escrevo para ser lida senão não escrevia. É que dá tanto trabalho…! [Risos]
Mas escrever não é também uma necessidade?
Ah, mas eu resolvia a necessidade [risos]!
Arranjava outra ocupação?
Sim, sim. Gosto muito de apanhar sol nas costas… É uma espécie de diálogo que estabeleço, não só com os leitores mas também com aqueles que escreveram antes de mim e que vão escrever depois de mim. A literatura permite este diálogo através do tempo e do espaço. Posso estar a ler um autor que viveu dois séculos antes de mim, e que viveu do outro lado do mundo, e sentir o que ele sentiu. Escrevo também para isso, mas isso pressupõe este diálogo com eles e eu, como leitora. Se incomodo esta gente toda é esperando que seja justificado. Percebo que seja arriscado dizer que quero ser lida, porque quando não se é lido, o fracasso é maior. Mas tem de se correr riscos, mesmo sendo pateta, naquele sentido de dizer as coisas que se quer. Mas não tenho assim muito medo do ridículo. Portanto, sim, gostaria muito de ser lida. Tenho esse sonho, não comezinho mas grandioso, de ser lida.
Fotografia de ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

















