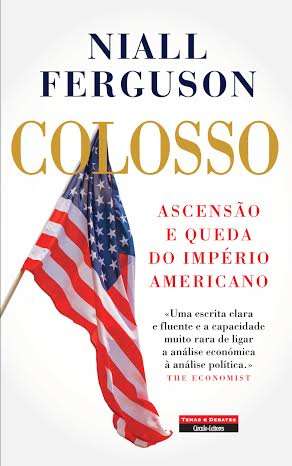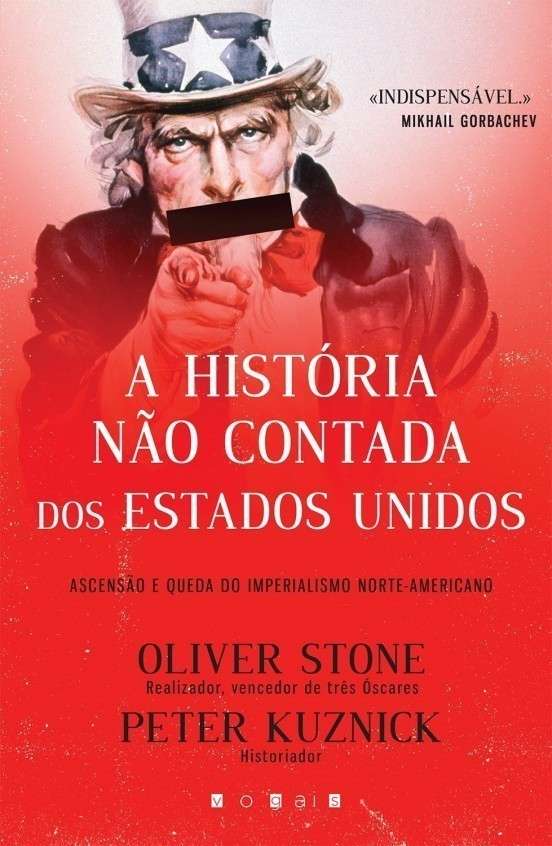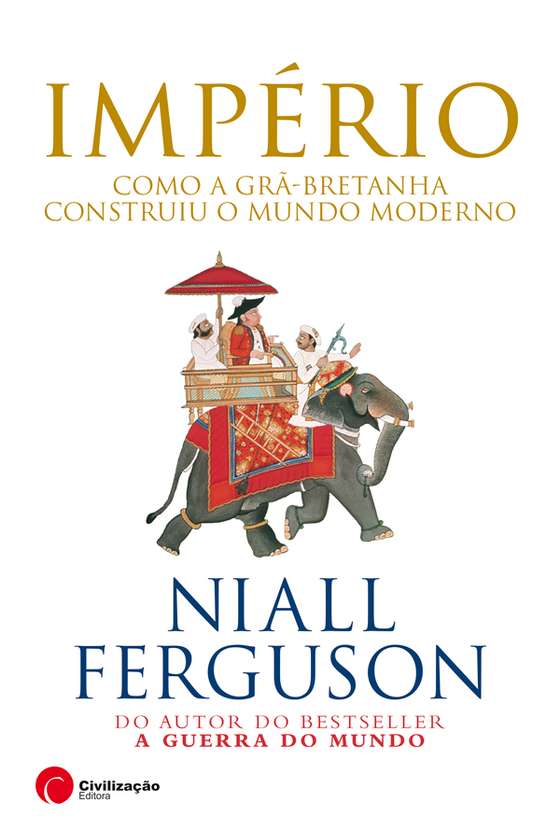Os EUA já tiveram um imperador: Joshua Abraham Norton (c.1818-1880) nasceu em Inglaterra mas mudou-se com os pais para a África do Sul ainda muito novo. Chegou a São Francisco em 1849, com uma herança de 40 mil dólares – que equivaleriam hoje a mais de um milhão de dólares. Revelou faro para o negócio imobiliário e em poucos anos já a sua fortuna se elevava a 250 mil dólares, mas teve menos sorte na especulação no comércio de arroz – após uma jogada que correu mal e longos processos judiciais, acabou na bancarrota. O crescente desequilíbrio mental e o ressabiamento para com o que entendia serem os iníquos sistemas judicial e político americanos, levou a que, a 17 de Setembro de 1859, se declarasse “Imperador dos Estados Unidos”, título a que acrescentaria mais tarde o de “Protector do México”.
As pessoas que conheciam Norton achavam piada ao seu delírio megalómano e fingiam tratá-lo com a deferência devida a um imperador e Norton I lá foi emitindo decretos (que os jornais publicavam, em jeito de pilhéria) e fazendo proclamações bombásticas. Quem tenha lido O imperador Smith (1976), um álbum da série Lucky Luke, por Morris & Goscinny, reconhecerá no imperador Dean Smith traços da excêntrica figura de Norton, ainda que o enredo quase não tenha pontos de contacto com a vida de Norton.
Vale a pena lembrar Joshua Norton porque os EUA, tendo nascido como república, por ruptura com um império, são um país em que só um desequilibrado poderia ter pretensões a ostentar o título de rei ou imperador. Porém, defende Niall Ferguson em Colosso: Ascensão e queda do Império Americano (Colossus: The rise and fall of the American empire) os EUA há pelo menos um século que se comportam como um império, embora se empenhem em negá-lo, o que, segundo Ferguson, é um erro, pois seria preferível, para os EUA e para o mundo, que assumissem integralmente a sua condição imperial.
A edição original de Colosso é de 2004, mas só agora foi traduzido, pela Temas & Debates, na mesma altura em que chega às livrarias portuguesas A história não contada dos Estados Unidos: Ascensão e queda do imperialismo americano, de Oliver Stone & Peter Kuznick.
Apesar de os subtítulos das edições portuguesas serem quase idênticos (ainda que o do livro de Stone & Kuznick não corresponda ao do original inglês), a perspectiva sobre a forma como os EUA se têm relacionado com o resto do mundo não poderia ser mais divergente.
O exemplo mais gritante desse desencontro está na interpretação que cada um dos livros faz das palavras de Smedley Butler, que, após 33 anos de serviço no Corpo de Fuzileiros, durante os quais ascendeu de segundo-tenente a general, chegou à seguinte conclusão: “Durante aquele período passei a maior parte do tempo a servir de segurança de primeira classe para os grandes grupos económicos, para Wall Street e para os banqueiros. Em suma, fui um escroque, um gangster ao serviço do capitalismo. Na altura, suspeitava de que fazia parte de um esquema. Agora tenho a certeza. Como todos os elementos da profissão militar, nunca tive um pensamento próprio até deixar o serviço. […] Em 1914, ajudei a tornar o México, especialmente Tampico, seguro para os interesses do petróleo norte-americano. Ajudei a fazer do Haiti e de Cuba locais decentes para os rapazes do National City Bank obterem aí as suas receitas. Ajudei a saquear meia dúzia de repúblicas centro-americanas para benefício de Wall Street. O registo dos actos de extorsão é extenso. Ajudei a purificar a Nicarágua para o banco internacional Brown Brothers, entre 1909 e 1912. Levei a luz à República Dominicana para os interesses da produção de açúcar em 1916. Ajudei a tornar as Honduras ‘adequadas’ às empresas de frutas da América em 1903. Na China, ajudei a garantir que a Standard Oil operava sem perturbações. Durante todos esses anos tive, como os rapazes da Máfia diriam, um bom esquema. Retrospectivamente, sinto que até podia ter dado algumas dicas a Al Capone. O melhor que ele conseguiu foi fazer instalar os seus esquemas de extorsão em três zonas de uma cidade. Nós, os fuzileiros, operámos em três continentes”.
O excerto seleccionado das acusações de Butler (retiradas de “War is a racket”, um discurso que proferiu numa tournée pelos EUA e que, em 1935, publicou como artigo na revista Common Sense e também como opúsculo) é quase completamente coincidente nos dois livros, mas enquanto Stone & Kuznick tomam as acusações como se fossem factos, Ferguson descarta-as como se fossem meras opiniões. Para Stone & Kuznick, os EUA, a coberto da presunçosa convicção de serem a “nação indispensável”, a quem tudo é permitido, e tendo por fito primordial assegurar os lucros do Grande Capital, só trouxeram destruição, opressão e infelicidade ao mundo. Para Ferguson, os EUA são o império benigno por excelência e mesmo quando causam alguns estragos são, essencialmente, movidos por boas intenções, pelo que o mundo está urgentemente necessitado de ainda mais imperialismo americano. É a perspectiva “Yankees, voltem para casa!” contra a perspectiva “Os americanos são bem-vindos (e por uma geração ou duas)”.

O presidente Theodore Roosevelt resumira a sua conduta na política externa a “Speak softly and carry a big stick”. Em 1904, o cartoonista William Roger Allen representou Roosevelt a pôr em prática a sua política no Caribe
Política e economia
A revista The Economist elogiou Colosso pela “capacidade muito rara de ligar a análise económica à análise política”, mas embora o livro trate, com efeito, ambas as vertentes, Ferguson resiste a admitir que a actuação do Governo dos EUA (como o de muitos outros países, em maior ou menor medida) pode ser, em muitas ocasiões, influenciada pelos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros e atribui-a exclusivamente a considerações de ordem política, quase sempre com propósitos benévolos, como escorraçar ditadores e disseminar a democracia. A inquietante e incessante dança de cadeiras entre cargos governamentais e chefias de grandes empresas, não lhe suscita análise ou crítica e uma das poucas vezes que se refere a ela é para apontar que “o preço das acções da Halliburton caiu um terço nos três anos depois de o seu anterior director executivo, Dick Cheney, ser nomeado vice-presidente [dos EUA]”, como se tal demonstrasse cabalmente que não existe promiscuidade entre negócios e política nos EUA.
Uma coisa é fazer parte do grupo dos que crêem que a política mundial está completamente subordinada aos planos maquiavélicos do Grande Capital e é decidida em segredo nas reuniões do Clube de Bilderberg, outra é não sentir desconforto perante o facto de a Halliburton de Cheney ter obtido contratos de 10 mil milhões de dólares no Afeganistão e no Iraque na sequência das intervenções americanas. A ocupação do Iraque poderá ter sido extremamente dispendiosa para os contribuintes americanos, mas houve quem dela retirasse pingues lucros – além da Halliburton, também a Blackwater, a cujo exército de paramilitares foi confiada a segurança de funcionários americanos e da embaixada, e a Bechtel Corporation, uma firma de engenharia e construção civil a quem coube a reconstrução das infra-estruturas.
É recomendável temperar a bonomia com que Ferguson olha a actuação dos EUA no Iraque e Afeganistão (embora admitindo que foram cometidos erros), com a perspectiva veiculada por Shock doctrine: The rise of disaster capitalism (2007), de Naomi Klein, que faz a denúncia de como algumas grandes empresas com boas ligações ao poder político americano se especializaram em viver da destruição causada por calamidades naturais e conflitos bélicos, em particular daqueles que resultam de intervenções militares americanas.
E vale também a pena recordar que, através do lobbying, que nos EUA é actividade reconhecida e regulamentada, o poder económico e financeiro é capaz de influenciar as decisões do Congresso americano – se os milhares de milhões de dólares gastos anualmente em lobbying não produzissem o efeito desejado, as empresas teriam deixado de gastar dinheiro com ele.
O Império Britânico e o seu herdeiro
Colosso (2004) é o irmão gémeo (ou até siamês) de Império: Como a Grã-Bretanha construiu o mundo moderno (edição original de 2003, publicado em Portugal pela Civilização, em 2013), em que Ferguson faz um balanço do Império Britânico e conclui que este teve um efeito benéfico nos seus vastos domínios, que chegaram a abarcar um quarto da superfície terrestre.
Colosso retoma o elogio do “imperialismo liberal” praticado pelos britânicos pelo mundo fora: “O comércio livre e o livre movimento de capitais e de pessoas foram estimulados. […] O Estado de direito tornou-se numa instituição. A administração ficou relativamente livre da corrupção, em especial no seu topo. O poder foi gradualmente transferido para as assembleias representativas […] As novas tecnologias, como as vias férreas e a energia a vapor, foram introduzidas nos países mais pobres e a um custo menor do que teria acontecido se esses países tivessem sido politicamente independentes”, pelo que conclui que “em muitos casos de ‘atraso’ económico, um império liberal pode fazer melhor do que um Estado-nação”, ainda que possa “não conseguir garantir a prosperidade de maneira uniforme em todos os territórios que administra”. Ferguson encontra aqui “um argumento altruísta” para que os EUA sigam as pisadas do Império Britânico e ousem ser o império liberal do nosso tempo.
Enquanto Império é, quer se concorde ou não com a sua visão benévola do Império Britânico, um fascinante retrato de dois séculos de história global, Colosso dispersa muita da sua energia a tentar delinear estratégias para actuações presentes e futuras – em certos momentos, dir-se-ia que o seu principal propósito é convencer os governantes americanos a assumir uma política imperial, em particular no Iraque.
O capítulo “Regresso a casa ou a hipocrisia organizada” traça um paralelo entre a intervenção britânica no Iraque, iniciada em 1918, após o desmembramento do Império Otomano, e que se prolongou por três décadas, e a intervenção americana iniciada em 2003. Segundo Ferguson, há uma contradição difícil de resolver entre os muitos anos de presença “imperial” nos países ocupados necessária a um eficaz processo de nation building e a relutância cada vez maior da opinião pública americana em aceitar essa presença (sobretudo quando ela implica baixas entre os soldados americanos).
Ferguson aponta a Alemanha e o Japão como casos felizes de nation building promovida pelos EUA, mas nota que eles requereram a ocupação formal pelos EUA durante dez e sete anos, respectivamente – de onde conclui, fazendo uma analogia com o protectorado que o Império Britânico estabeleceu no Egipto no final do século XIX, no qual Lord Cromer desempenhou funções análogas às de um governador, que para que uma nação democrática e autónoma emerja do Iraque, seria necessário que Paul Bremer (governador americano do Iraque à data da escrita do livro) estivesse “preparado para ser durante décadas o Lord Cromer do Iraque, vice-rei em tudo menos no nome”.
Um império cada vez mais relutante
Mas nem Bremer nem nenhum outro governador assumiu o papel de Lord Cromer. Os líderes americanos ignoraram a fervorosa argumentação aduzida por Ferguson e estão mais relutantes do que alguma vez estiveram desde a II Guerra Mundial em assumir a vocação imperial. Aquilo que Ferguson temia, ou seja “a tendência dos políticos americanos, ansiosos por estarem à altura da sua retórica emancipatória e da sua promessa de ‘trazer os rapazes para casa’, de inverterem prematuramente os seus compromissos estrangeiros”, acentuando a sua condição de “império em negação”.
11 anos depois da publicação de Colosso, a presença militar no Afeganistão e Iraque foi drasticamente reduzida, as competências de segurança e administração foram transferidas para as autoridades nacionais eleitas e, sobretudo nas duas administrações Obama, o poder dos EUA tem vindo a exercer-se cada vez mais através de assassinatos selectivos conduzidos por um novo tipo de deus ex machina: drones controlados a muitos milhares de quilómetros de distância – uma estratégia mais própria de uma seita como os Hashishin de Hassan-i Sabbah do que de uma potência imperial.
Não é difícil adivinhar quão desconsolado estará Ferguson perante este tíbio “império-através-do-drone”, cada vez mais avesso a colocar boots on the ground. E é também previsível que Ferguson veja o caos que tomou conta do Afeganistão e Iraque nos últimos anos como prova de que as suas ideias eram correctas: “A História mostra que o período mais violento na história de um império ocorre muitas vezes quando da sua dissolução, precisamente porque a retirada das forças militares imperiais abre – desde o momento em que é feito o anúncio – espaço para a luta entre as elites locais rivais”.
No Afeganistão, a corrupção e ineficácia dos governos eleitos atingem proporções inacreditáveis, as forças armadas afegãs são frágeis e ineptas e desmotivadas, pese embora o treino e material recebidos do Ocidente, os taliban continuam a exibir uma invejável vitalidade (a ponto de, em Setembro, terem ocupado temporariamente Kunduz, a quinta maior cidade do país) e começam a despontar pelo país “sucursais” do Estado islâmico. Quem seria capaz de adivinhar em 2001, quando os taliban eram apresentados como uma proliferação maligna a extirpar rápida e implacavelmente, que no Verão de 2015 o governo afegão acederia a iniciar negociações formais com eles?
A história recente do Iraque tem pontos de contacto com a do Afeganistão: a vitória militar americana foi rápida e esmagadora, mas o país nunca deixou de viver em clima de instabilidade e insegurança devido a lutas sectárias, os governos eleitos revelam-se corruptos e ineficazes e as forças armadas são inoperantes. Os propósitos de derrube de tiranias iníquas e brutais e da sua substituição por uma era de democracia, ordem e prosperidade, que são invocadas por Ferguson e outros adeptos das intervenções americanas no Afeganistão e Iraque, redundaram em trágicos fiascos. E a “teoria do dominó”, que previa que uma maré democrática contaminaria as tiranias vizinhas, também parece ser inválida: a contestação à tirania de Bashar al-Assad na vizinha Síria degenerou numa guerra civil sem fim à vista e na emergência do Estado Islâmico como uma ameaça que faz Assad parecer relativamente benigno e ofuscou a Al-Qaeda.
Mais uma vez, Ferguson poderá alegar que o erro dos EUA (e da União Europeia) foi imperialismo a menos: as suas intervenções erráticas, hesitantes e desconexas na guerra civil na Síria resultaram em ainda maior instabilidade. Algo de análogo se passou na Líbia, onde o ditador foi mesmo removido, mas em vez de uma nova e radiosa era, surgiu um com dois governos e dois parlamentos rivais e um emaranhado de conflitos tribais.
História contrafactual: o que poderia ter sido
É impossível não reparar no elemento comum às intervenções americanas (e da NATO) nos últimos anos – todas dizem respeito a Estados artificiais: ex-Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria. Ferguson, que é uma das figuras cimeiras da “história contrafactual”, procurava justificar o que correra até então (no final de 2003) menos bem na ocupação do Iraque recorrendo à comparação com a alternativa de Saddam Hussein ter permanecido no poder. Mas deveria ter feito um exercício contrafactual um pouco mais ousado: considerar o que teria acontecido no Iraque se os EUA não tivessem intervindo e Saddam tivesse acabado por morrer, de morte natural ou assassinado por opositores. Não teria eclodido uma guerra civil e não teria o país evoluído para uma situação tão caótica como a que temos hoje?
É que, feitas as contas, o Iraque é uma ficção desde o seu nascimento, em 1918: fez parte das linhas traçadas levianamente na areia do Médio Oriente, no rescaldo do colapso do Império Otomano e da criação de zonas de influência das potências vencedoras da I Guerra Mundial: o Iraque, colocado sob administração britânica, e a Síria, sob administração francesa, não correspondiam a qualquer fronteira histórica, eram uma amálgama de etnias e credos religiosos.

Mapa otomano de 1803 (Atlas Cedid). Não há qualquer correspondência entre as divisões administrativas de então e as fronteiras nacionais definidas após a I Guerra Mundial
Algo de semelhante pode dizer-se da Líbia, uma fantasia colonial criada por Itália que, em 1912, se apoderou de duas províncias otomanas no Norte de África e lhe somou, nos anos seguintes, territórios conquistados aos “indígenas” ou gentilmente cedidos pela França e Grã-Bretanha (sem que os povos envolvidos na “cedência” fossem consultados, claro). A Jugoslávia foi outro dos infelizes produtos do desmembramento dos impérios derrotados na I Guerra Mundial: um país sem antecedentes históricos, amalgamando diferentes realidades étnicas, religiosas e linguísticas.
Quanto ao Afeganistão, emergiu pela primeira vez como Estado independente no início do século XVIII – o que faria dele , em termos estritamente aritméticos, um país mais antigo do que os EUA – mas nunca deixou (até por causa da geografia extremamente acidentada) de ser uma manta de retalhos do ponto de vista étnico, religioso e linguístico, onde a autoridade do Estado central se faz sentir de forma cada vez mais ténue à medida que aumenta a distância a Kabul. Ainda hoje muitos grupos tribais afegãos têm mais afinidades com grupos que vivem nas regiões fronteiriças dos países vizinhos – Paquistão, Turquemenistão, Uzbequistão ou Tadjiquistão – do que entre si. Não é de admirar que a história do Afeganistão seja uma interminável sucessão de guerras civis e escaramuças tribais. Ex-Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria só se mantiveram temporariamente coesos sob regimes tirânicos e assim que a repressão é removida ou afrouxa, as tensões internas explodem.
Se a ex-Jugoslávia parece ter encontrado um novo equilíbrio, foi porque o país se fragmentou em unidades mais homogéneas – embora o Kosovo continue a ser um Estado falhado e um foco de instabilidade. É possível que a solução para os problemas – ou, pelo menos, para alguns dos problemas – no Iraque, Síria e Líbia passe por decompô-los em unidades mais homogéneas, em vez de insistir em manter a todo o custo um equívoco histórico.
Em conclusão: é provável que a natureza compósita e artificial destes países acabasse por os empurrar para situações igualmente caóticas e trágicas, mesmo se os EUA não tivessem tido interferências desastradas. Por outro lado, é também essa natureza compósita e artificial desses que torna improvável que, na realidade alternativa almejada por Ferguson, em que os EUA tivessem imposto uma administração imperial firme e duradoura no Afeganistão e Iraque, estes países se tivessem tornado pacíficos, unidos e prósperos.
Um problema hormonal
A história não contada dos Estados Unidos está longe de cumprir os parâmetros de isenção e fiabilidade exigíveis a um livro de história, já que, por vezes, confunde as opiniões e interpretações dos autores com a realidade, distorce alguns factos e não inclui qualquer bibliografia que suporte as suas asserções. Mas nem por isso deixa de oferecer perspectivas merecedoras de serem consideradas.
Talvez a observação mais penetrante e pertinente do livro de Stone & Kuznick esteja na censura que faz a alguns presidentes americanos, como Truman, Johnson, Nixon e Reagan, por reagirem “com exagero à aparência de vulnerabilidade […] Talvez seja este o calcanhar de Aquiles do processo político norte-americano. A compaixão ou empatia escasseiam e são facilmente desprezadas, tomadas por ingenuidade ou fraqueza. Contudo, a compaixão pelo outro é o traço que, no fim de contas, distinguiu os nossos maiores líderes, quer tenham sido Washington, Jefferson, Lincoln, [Franklin] Roosevelt ou, noutras frentes, pessoas como Martin Luther King”.
É uma ideia que vai ao arrepio da visão de Ferguson, assente na afirmação, na supremacia incontestada, na necessidade de ficar sempre por cima, de nunca mostrar fraqueza. É um imaginário que está bem patente no cinema de Hollywood e não admira que um ex-actor de filmes de cowboys, símbolo da virilidade, da determinação e da bravata masculina meio abrutalhada, tenha sido o presidente americano que mais próximo esteve de assumir o comportamento imperial preconizado por Ferguson. Para o resto do mundo, todavia, os anos Reagan podem antes sugerir que estaríamos mais tranquilos se o colosso se submetesse a uma terapia que controlasse o seu excesso de testosterona.
Nada disto são reflexões novas: um cartoon de John S. Pughe publicado na revista satírica Puck, a 5 de Setembro de 1900, já mostra um Tio Sam que cresceu desmesuradamente; enquanto o presidente William McKinley tira as medidas ao colosso para talhar-lhe um fato novo, três adversários das políticas expansionistas, liderados por Joseph Pulitzer (o célebre jornalista, editor e político), propõem-lhe que tome um remédio anti-expansionista e regresse à sua velha forma, ao que o Tio Sam responde: “Não, rapaz, nunca tomei nenhuma dessas mistelas e estou velho demais para começar a fazê-lo!”