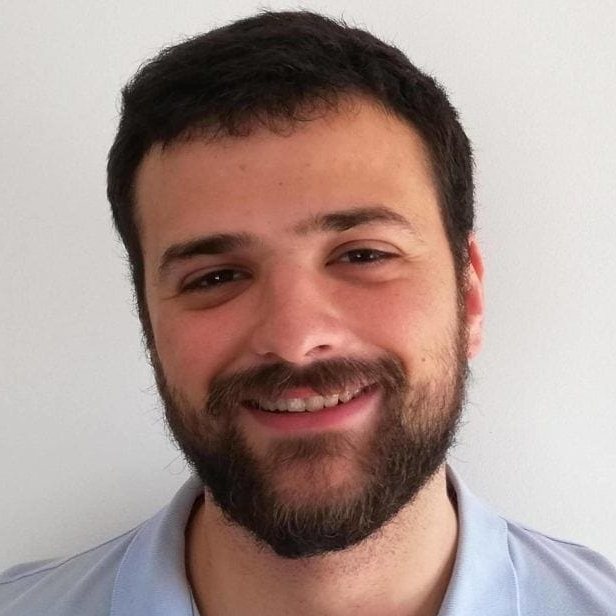A Páscoa está à porta. Com ela, para os alunos do ensino básico e secundário, veio a boa-nova das férias, e, para os mais velhos, a boa-nova de umas festividades que, para a maioria, de religiosas têm pouco. Mas, afinal, o que é a Páscoa? Afinal, em que acreditam os Cristãos? Pôr a pergunta não pode doer: mesmo os ateus poderão estar interessados em saber aquilo em que não acreditam — e aos Ricky Gervais desta vida não lhes fazia mal nenhum saber do que falam.
Do ponto de vista teológico, a Igreja Católica distingue — com raiz em Santo Agostinho de Hipona, broto em Santo Anselmo de Cantuária e flor em São Tomás de Aquino — entre aquilo que é objecto de fé — os “credenda” ou “artigos de fé” — e aquilo que é sujeito a compreensão — “intellegenda” ou “preâmbulos de fé”. Assim, perguntar sobre aquilo em que acreditam os Cristãos será sempre perguntar sobre os artigos de fé, em oposição aos preâmbulos de fé — coisas como “Deus existe”, “Deus é eterno”, “Deus é bom” —, acerca dos quais os Cristãos declaram ter, não fé, mas conhecimento. Isto, claro, seria um belo início de uma bela discussão filosófica — a qual, porém, terá de ficar para outro dia. Aqui dedicar-nos-emos apenas a (alguns de) os artigos de fé que dizem respeito à Páscoa.
Do ponto de vista histórico, os Cristãos acreditam que, há coisa de dois mil anos, um homem judeu, chamado Jesus, com cerca de trinta e três anos, foi entregue às autoridades romanas pelos membros da alta classe do seu próprio povo, sendo, como consequência — embora tudo isto Ele tivesse, segundo disse, poder para impedir — flagelado, crucificado e assim morto, fora das muralhas de Jerusalém. Fosse esta a história completa, não saberíamos dela hoje, à excepção de um punhado de historiadores. A história, no entanto, continua: na manhã do terceiro dia, o corpo desse mesmo judeu — que em vida Se tinha declarado como “Filho de Deus” — desapareceu; e, nesse mesmo dia e em vários outros momentos, Ele apareceu a alguns dos seus seguidores, insistindo na realidade do Seu corpo e mostrando as feridas da Sua crucifixão.
Claro, para quem não tem fé, tudo isto parecerá um belo mito, qual Osíris e qual Baldur, de uma divindade morta e ressuscitada. Caberia então apresentar o surpreendente caso histórico da veracidade dos Evangelhos, a par com a sábia e informada frase de C.S. Lewis: “Quem diz que os Evangelhos são mais um mito, não leu muitos mitos” — ou, em alternativa, não leu muito os Evangelhos. É claro que, na maior parte dos casos, não leu nenhum dos dois. O propósito deste artigo, porém, não é convencer o leitor de que os Cristãos têm razão. O propósito deste artigo é, tão-somente, informá-lo sobre aquilo em que eles acreditam.
Posto o facto histórico em que os Cristãos acreditam, falta a teoria, ou o facto espiritual — que, para nós Cristãos, não perde a sua factualidade pela sua espiritualidade, mas, pelo contrário, ganha um novo encanto e nobreza. Porque Se entregou Jesus? Qualquer Cristão deverá ter, na ponta da língua, a resposta: “Para nos salvar!” Mas, afinal, salvar de quê? E como é que a morte de um homem há dois mil anos me salva a mim, hoje? Talvez os Cristãos sejam intelectualmente irresponsáveis — talvez, por dois mil anos, ninguém se tenha preocupado em dar uma resposta satisfatória a estas questões. Ou, talvez, sejamos nós os ignorantes. Enfim, vamos ver.
Aquilo em que os Cristãos acreditam é que Jesus Cristo nos veio salvar do pecado. Em primeiro lugar, daquilo a que chamamos “pecado original”; e, depois, do “pecado actual”. Infelizmente, há, mesmo dentro da Igreja, quem não goste de falar do pecado original: nos nossos dias, parece já de mau tom dizer a alguém que fez algo errado; quanto mais dizer-lhe que nasceu com algo errado! Mas, como G.K. Chesterton bem chama à atenção, o pecado original é o único dogma da Igreja empiricamente verificável: olhando em volta, vemos muito mal a ser feito e, de mal a pior, uma tendência desmesurada para fazer o mal. Ao mesmo tempo, com a mesma clareza com que vemos essa tendência, percepcionamos que ela não devia lá estar — que ela é, lá está, um mal. E, por isso, — e por mais uma série de considerações filosóficas em relação às quais passaremos ao largo — temos uma forte intuição de que não é a nossa natureza (aquilo que somos no mais íntimo de nós), mas apenas a nossa condição, que está corrompida. O pecado original, entenda-se, é um pecado “contraído”, mas não “cometido” — recebemo-lo (acreditam os Cristãos) dos nossos pais, mas não temos dele culpa pessoal. Por outras palavras, nascemos num mundo já corrompido. Ligando o noticiário ou abrindo o jornal, quem se atreverá a negá-lo?
Já o pecado actual é, pura e simplesmente, os pecados que cada um de nós cometeu: desde os maus pensamentos consentidos, às más acções, passando pelas palavras e omissões. Todas as acções moralmente más, feitas com liberdade e consciência, são consideradas pecado. (Ficam, então, excluídas, quer as boas acções, quer as acções moralmente más, mas feitas por coacção ou em ignorância.) Verá já o leitor, talvez contra uma antiga crença sua, que isto está longe de abarcar apenas o tradicional “matar e roubar”, mas se estende a todas as dimensões da vida — afinal, se, por hipótese, foi Deus que no-la deu, com que autoridade Lhe negaríamos parte dela?
Antes de nos perguntarmos como nos salvou a morte de Cristo, poderá ainda ser necessário pormo-nos outra questão: por que raio é preciso salvar-nos do pecado? Alguns recusar-se-ão a ver mal no mal que fazem — estão, claro, pobrezinhos, em fase de negação. Um ser humano saudável encontrará sempre, na sua própria conduta, acções menos bem-conseguidas, palavras aquém do esperado, omissões perigosas ou pensamentos corrosivos. Afinal, não foram os Cristãos a inventar a moralidade, e para reconhecer que se errou não é preciso ser Cristão — basta ser minimamente inteligente. No entanto, ainda que reconhecendo a maldade de algumas acções humanas, o leitor poderia pensar, ou que estas são, no fundo, inócuas, ou que, não o sendo, o seu dano deve ser reparado, hic et nunc, pelos poderes temporais — isto é, pela justiça humana. Há, claro, um fundo de verdade nessa opinião: longe dos Cristãos afirmar que o mal não deve ser combatido nesta vida. No entanto, como qualquer pessoa que já se tenha encontrado com o seu próprio limite saberá — quer porque, atingindo o limite deste ou daquele vício, “bateu no fundo”, quer porque as suas más acções tiveram como consequência um dano irreparável —, não vale a pena puxar o próprio cabelo para sair de uma areia movediça.
Como, então, nos salvou a morte de Cristo? Os Cristãos acreditam que há uma guerra espiritual a ser travada, e que a alma de cada um é um campo de batalha. Assim, quem luta pelas virtudes está do lado de Deus, e quem luta pelo próprio ego está do lado do “nada” — cujo capitão, acreditam os Cristãos, é Lúcifer. (É importante referir, em prol da verdade, que os Cristãos, contrariamente à crença popular, não acreditam que Deus é a consumação do bem e o diabo é a consumação do mal — Deus é o Bem Puro, subsistente em Si mesmo; mas Belzebu, pobrezinho, é uma mera criatura, que luta e esperneia por migalhas, numa guerra que não poderá ganhar.) Ao pecar, então, o homem ofendeu a Deus — e tornou-se Seu devedor — e aliou-se a Satanás — tornando-se seu escravo. É, então, de quatro modos que a morte de Cristo salva os homens, segundo crêem os Cristãos.
Em primeiro lugar, como satisfação. Porque ofendemos a Deus e nos tornámos Seus devedores, precisamos de O aplacar, de O acalmar, de descansar o Seu coração e de, no fundo, pagar a dívida que contraímos. Ora, quanto maior a dignidade daquele a quem ofendemos, maior a culpa — calcar uma planta não é tão mau como calcar um gato, e dar um pontapé a um cão, por muito mau que seja, não é tão grave, ceteris paribus, como dar um pontapé à própria mãe. Assim, a dívida contraída por um só pecado — devido à dignidade infinita de Deus — é infinita. Cristo, porém, cuja dignidade é igualmente infinita, pela Sua entrega, faz precisamente isso: Ele, que não tinha pecado, sofreu as consequências dos nossos pecados, para nos libertar delas.
Em segundo lugar, como redenção. Como vimos, não apenas ofendemos Deus, mas, num certo sentido, nos alistámos no exército do inimigo. Claro que, em boa verdade, se soubéssemos o que estava em jogo, nunca o teríamos feito, e, por isso, fomos mais raptados do que transferidos. Assim, o Filho de Deus, ao morrer na Cruz, segundo acreditam os Cristãos, pagou o preço da nossa libertação — é precisamente isso que significa “redimir”, do Latim “redimere”: “re-comprar”, “comprar de volta”. Pela Sua morte, acreditam os Cristãos, Cristo libertou-nos da escravidão do pecado, para a vida nova da graça, ou seja, possibilitou a passagem (e eis o nome “Páscoa”) de uma vida autocentrada — o homem encorcundado sobre si mesmo, com medo de perder o que nunca foi seu: eis a imagem do pecado — a uma vida livre para amar — de costas direitas e olhos postos no Céu, com um sorriso audaz no rosto.
Em terceiro lugar, como mérito. Qual cão que não larga o osso, poder-se-ia insistir e perguntar de que modo Cristo satisfez por e nos redimiu dos nossos pecados. Ao entregar-Se por nós, acreditam os Cristãos, Cristo sofreu terrivelmente para lá do razoável. Não fosse isso suficiente, Aquele que sofre, sendo Deus, tem uma nobreza tão elevada, que o mero sujar das Suas mãos seria já um exagero. Por fim — e sobretudo —, ao oferecer-se, Jesus oferece-Se num gesto de puro amor. Ora, nada poderia ser mais agradável a Deus Pai — o Qual, professam os Cristãos, é amor — do que tal entrega. E, assim, Cristo, na Sua entrega, aplacou Deus, “ganhou o Seu coração”, mereceu a nossa salvação.
Em quarto lugar, como sacrifício. À letra, a palavra significa, simplesmente, “fazer sacro” — o que não deixa de ser irónico, dado o malefício daqueles que O crucificaram. No seu contexto histórico, refere-se às ofertas feitas no templo de Jerusalém, mas pode ser elucidada também pelas oblações pagãs. Assim, oferecendo livremente a Sua vida, e sendo, ao mesmo tempo, inteiramente Deus e inteiramente homem, Jesus foi capaz de unir, em si mesmo, as quatro dimensões de qualquer sacrifício, levando todas essas “prefigurações” e “aproximações”, todas essas vagas lembranças que a humanidade misteriosamente conservou, se não pelo intelecto, pela sua praxis: é Cristo o sacerdote, isto é, aquele que oferece o sacrifício; é Cristo, também, o cordeiro, isto é, aquele que é oferecido em sacrifício; é Cristo, ainda, Deus, ou seja, Aquele a Quem o sacrifício é oferecido; e, por fim, sendo homem, está Cristo também no lugar do penitente, isto é, aquele por quem o sacrifício é oferecido. É por meio deste sacrifício — o qual os Católicos, bem entendido o termo, renovam a cada Eucaristia — que Cristo satisfaz por e nos redime do nosso pecado, graças ao mérito do Seu amor.
Tudo isto pode parecer, à primeira vista, desnecessariamente complicado. Afinal, como diz o Papa Francisco, “o nome de Deus é misericórdia” — não poderia Deus, simplesmente, perdoar, sem tanto sangue, violência e complicação? A resposta é simples: Deus, claro, poderia fazer o que bem Lhe desse na Sua real e divina gana; porém, Deus é Pai misericordioso, não “avozinho lamechas” — por outras palavras, a sua misericórdia não são palmadinhas infantilizadoras nas costas, que menosprezam a responsabilidade real do outro. Deus faz o bem, sim, claro, sempre; mas, é preciso dizer, ao contrário de nós, faz o bem bem-feito.
E é isto. Permita-se-me apenas uma nota final. Tenho dito, ao longo deste texto, que os Cristãos acreditam, não que a morte de Cristo nos pode salvar, mas que a morte de Cristo nos salvou. O que quer isto dizer? Quer dizer, claro, que o Bom Médico já fez o remédio: agora cabe a cada um, segundo a sua liberdade e consciência, tomá-lo ou rejeitá-lo. O mal bate à porta, mas a cura está em cima da mesa. Eis aquilo em que acreditam os Cristãos.