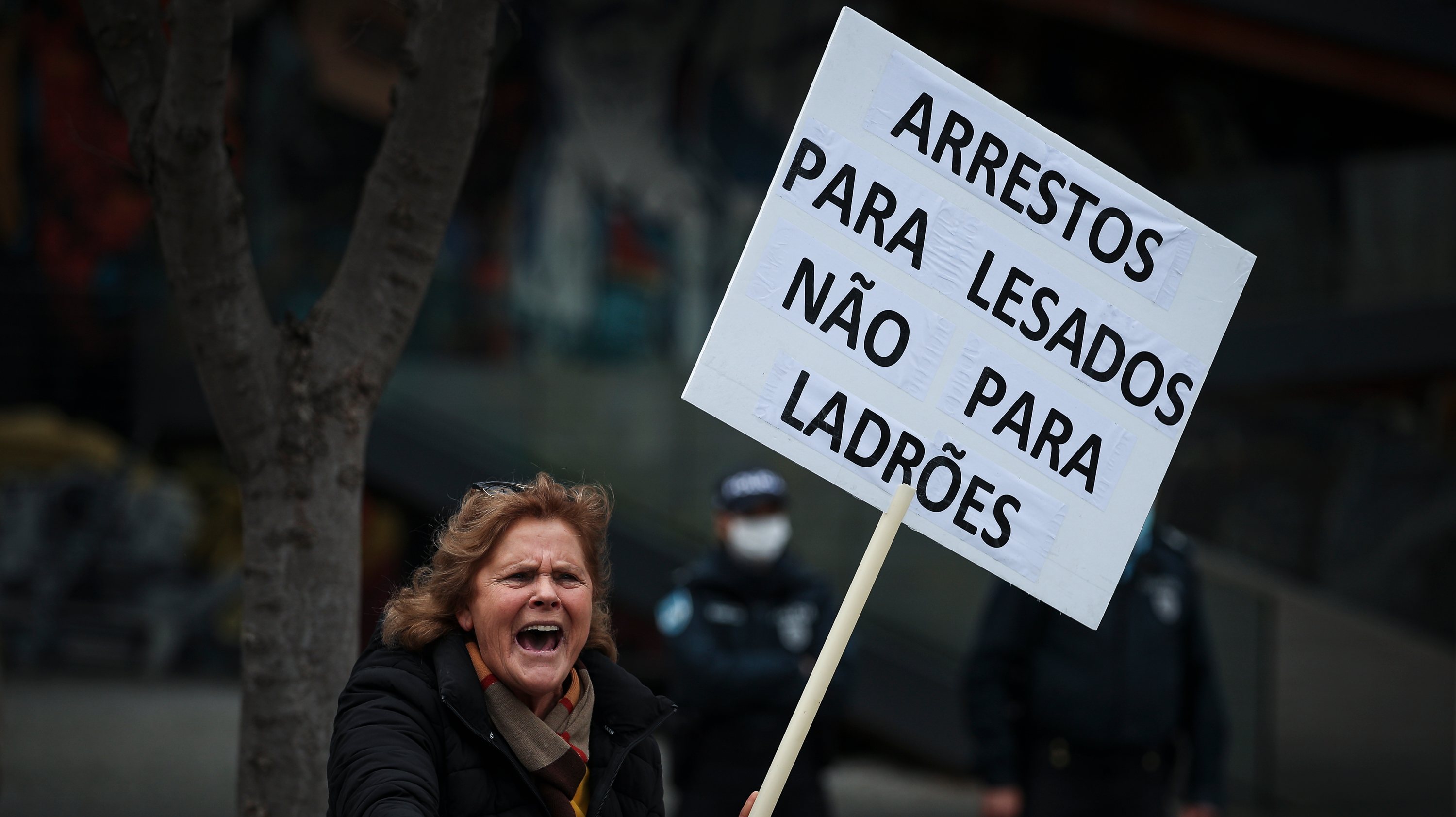Quem tem a responsabilidade de legislar nem sempre conhece a realidade sobre a qual dita os destinos de tantas, por vezes milhões de pessoas. Quando essa realidade é múltipla e se encontra a milhares de quilómetros de distância, em várias geografias, como é o caso da diáspora dos judeus sefarditas, o fosso entre o que se dita, do alto das tribunas, e a diversidade das motivações e das realidades dos que procuram a nacionalidade portuguesa, é ainda mais gritante.
A proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 6º, nº 7, da Lei da Nacionalidade, submetida a 28/04/2020, é disso exemplo. Partilho as reflexões que se seguem na perspetiva de quem conhece parte da realidade multi-facetada desta norma, de quem já percorreu uma série de comunidades sefarditas espalhadas pelo Mundo e que tem vindo a debruçar-se, na prática, sobre a nacionalidade, a ligação efetiva e os laços que unem. Quais são os laços que unem, é o que parece questionar-se o legislador a cada revisão da Lei da Nacionalidade e é a essa inquietação legítima que se oferecem os autores desta proposta de alteração. O que se segue é apenas um contributo de quem tenta conhecer o lado da prática de um problema teórico e a face humana e a diversidade de histórias familiares por detrás dos números.
A proposta de alteração de iniciativa do PS representa uma tentativa de densificar o conceito indeterminado da “ligação a Portugal” em sede de naturalização de descendentes de sefarditas, passando a exigir, como novo requisito a acrescer aos já existentes, o da residência legal em Portugal por um período de 2 anos. A lei atual já elenca, de modo exemplificativo, requisitos objetivos que pretendem concretizar essa ligação, a saber, apelidos (de origem sefardita, entenda-se), idioma familiar (por exemplo, o Ladino) e a descendência de judeus sefarditas, ou seja, a comprovação genealógica de descender de judeus que foram impelidos, direta ou indiretamente, pelo racismo inquisitorial a deixar de residir em Portugal continental. Por que razão é que se considera, agora, que a tentativa de concretizar tal conceito feita pelo legislador há escassos anos atrás por unanimidade não é suficiente? Percorrendo a justificação desta proposta, várias questões se colocam.
Terá sido porque o aumento dos pedidos de naturalização foi “exponencial”, como se refere no texto justificativo da Proposta, como se o legislador não devesse ter literacia histórica para conhecer o universo populacional que estava em causa, em concreto, o da diáspora sefardita pelo Império Otomano e pelo Novo Mundo?
Ou será porque a lei congénere espanhola expirou, como sempre esteve previsto, em Outubro de 2019, e em Portugal estamos fadados ao mimetismo em relação a Espanha, o mesmo que nos levou ao Édito de Expulsão e, agora, ao complexo de sermos “o único país com este regime de naturalização de estrangeiros”? Ou terá sido porque o fim da vigência da lei espanhola levou ao crescimento de pedidos de informação por parte de “grandes sociedades de advogados”, como se os advogados organizados em estruturas profissionais apetrechadas de recursos não pudessem validamente dedicar-se a uma área jurídica que estava relegada para advogados em prática individual?
Será, ainda, porque os cidadãos que obtiveram a naturalização foram “sobretudo israelitas e turcos”, como se lê na justificação da proposta, como se isso não fosse expectável ou, pior, fosse, indesejável. Ou, na esteira do argumento “não estávamos à espera que fossem tantos”, porque além de indesejáveis, estes israelitas e turcos têm mulheres e filhos para quem pediram a nacionalidade, , como se nenhum outro tipo de naturalizado se lembrasse de tal coisa e esquecendo-se o legislador que a naturalização por efeito do casamento ou por ser filho menor de um naturalizado exige a ligação efetiva, sob pena de oposição pelo Ministério Público, sendo, na prática, a residência um factor determinante.
Ou, então, porque se constatou que existem empresas (que aqui se colocam na mesma categoria ética das “grandes sociedades de advogados”) que “vendem com publicidade agressiva em Israel ou na Turquia a nacionalidade portuguesa como forma de aquisição de vantagens inerentes à posse de um passaporte da UE (isenção de vistos para a maioria do Estados, em especial EUA e direito de residência em qualquer Estado Membro da União Europeia)”. Como se os nacionais daqueles países fossem irremediavelmente “Outros”, como se não existissem cidadãos – pasme-se, dos EUA – interessados na nacionalidade portuguesa por razões que não as da mobilidade. E como se a geração de riqueza e interesse em torno de um bem imaterial como o da nacionalidade, há muito des-sacralizado, o desvalorizasse. Pergunta-se: desvalorizar para quem? Para “Nós”, os que já são membros da comunidade-nação, em oposição aos “Outros”, os que não tiveram a sorte de ganhar a lotaria do nascimento? Num mundo em que nem todos os passaportes são tratados de forma igual ao cruzar uma fronteira e em que abundam políticas seletivas de composição do demos, como censurar que alguém, fruto de uma ligação genealógica por longínqua que seja, queira colher as “vantagens” que o nosso complexo de culpa histórica lhes criou? E, ainda assim, os benefícios a que me refiro não são apenas os materiais ou da mobilidade global. Vão muito para além disso e tenho-os testemunhado: o desejo de honrar os antepassados, a preservação da memória, a afirmação de uma identidade portuguesa e europeia e um seguro de vida contra o anti-semitismo que alastra onde menos se esperava.
Por fim, a necessidade de uma tal alteração é resumida, no parágrafo derradeiro da justificação desta proposta, pela “necessidade de se exigir aos descendentes de judeus sefarditas uma qualquer conexão relevante com o País e a comunidade nacional”. Não é difícil concordar com a importância de concretizar aquilo que se deve considerar, a cada momento, relevante para a composição do demos. Nada mais válido: a composição da comunidade nacional é uma escolha endógena, sem prejuízo de toda a cooperação e lealdade que devemos ter para com a União Europeia, a quem, no entanto, não transferimos a competência para essa escolha. O legislador, como representante da comunidade- nação, tem a obrigação de definir “os critérios apropriados para a distribuição da pertença”, como lhes chamou Walzer. Acontece que já o fez.
No âmbito da nacionalidade dita sefardita elencou como suficiente a circunstância de uma pessoa manter ao longo de gerações apelidos reconhecidamente sefarditas, expressar-se em família numa língua que não faz sentido fora do contexto da diáspora sefardita ou poder comprovar genealogicamente a descendência de judeus sefarditas. Foram estes os critérios de pertença que o legislador considerou relevantes, de modo unânime, em 2015, para conferir essa pertença que, pelos vistos, não suspeitou fosse tão desejada por tantos milhares de “Outros”.
Acrescentar a estes requisitos, que não são cumulativos, um requisito adicional, este sim, cumulativo, ou seja, sem o qual, por muito evidente que sejam os demais, tal nacionalidade não será concedida, permite antever a morte anunciada desta lei. Se é esse o objetivo, seria mais honesto declará-lo e enfrentar as consequências e ilações que desse objetivo se retirariam.
Os autores da proposta referem-se à “intenção do legislador” que, alegadamente, foi desvirtuada pela aplicação prática dos critérios de ligação que unanimemente estabeleceu. Pergunta-se: em que medida foi desvirtuada? Pelo facto de esses critérios terem sido preenchidos por mais pessoas do que se estava à espera? É uma questão de número? Ou é a questão da nacionalidade originária da maioria destes naturalizados? É o facto de serem provenientes de Israel e Turquia que os torna menos empenhados em criar mais ligações com Portugal, depois de naturalizados?
Mais: alguma vez a intenção do legislador foi conduzir estes novos cidadãos a residir em Portugal? A intenção declarada do legislador foi a de cometer um (justificado) ato de contrição, de mea culpa em relação à expulsão, direta e indireta, de milhares de pessoas cujos descendentes seriam hoje portugueses. Pergunta-se: o que mudou foi a intenção ou foi o facto de a motivação subjacente a esta lei ter sido, também ela, de conveniência? Será que o que se esperava, num período de crise orçamental profunda, era que viessem residir em Portugal estes naturalizados que os estereótipos anti-semitas presumem sempre mais abonados e empreendedores? Sob a capa de uma intenção benevolente, que tantos elogios mereceu a Portugal num período de recrudescimento do anti-semitismo por toda a Europa e EUA, estava afinal escondido um interesse material, uma expetativa de residência, de criação de ligações adicionais a Portugal. Caso esta proposta venha a ser aprovada, cai a máscara do arrependimento histórico e emanam as considerações pragmáticas do nosso suposto “interesse coletivo”. Afinal, não são apenas alguns naturalizados que buscam a conveniência de um passaporte português, é também o nosso legislador que, se aprovar esta proposta, irá transacionar a nacionalidade, condicionando-a à residência, à presença física em Portugal. Esquece-se que os projetos de residência se constroem de modo tão conveniente e deliberado quanto a aquisição de nacionalidade.
“A proximidade já não exige contiguidade física; e a contiguidade física não determina a proximidade”, escreve Zygmunt Bauman. As ligações efetivas que o legislador quis verificar, como requisito à concessão desta nacionalidade, são retrospetivas: o interessado mantem a ligação à memória da origem ibérica através dos seus apelidos ou de uma língua, quase morta, que é o Ladino ou o judeo-português? O interessado descende de pessoas que por sua vez descendem de judeus sefarditas? A proximidade que o legislador considerou relevante ao aprovar esta lei virava-se apenas para o passado porque era o passado que pretendia emendar, de modo simbólico e irrisório face à enormidade do que foram três séculos de Inquisição. Com o proposto requisito da residência de dois anos prévia e necessária para a concessão da nacionalidade, o legislador pretende exigir aos descendentes de judeus sefarditas a contiguidade física, como se esta fosse o único determinante da proximidade.
Termino com o relato de uma experiência: quando se visita a sinagoga sefardita da ilha caribenha de Curaçau, porto de abrigo possibilitado pela Holanda aos judeus expulsos de Portugal, é impossível não nos emocionarmos com duas coisas que por lá se passam, não há dois anos, mas há quatro séculos. Por um lado, o serviço religioso termina sempre com um agradecimento à Holanda e à Casa Real de Orange pela concessão de liberdade religiosa a uma comunidade de portugueses que depois se espalharam pelo Novo Mundo. Por outro lado, a liturgia da congregação desenvolve-se, em grande parte, em judeo-português, teimosamente pronunciado com esforço e forte sotaque. O mesmo se diga da língua que se escuta quando se visitam outras congregações sefarditas espalhadas pelo Mundo, dos Estados Unidos à África do Sul. O esforço de falar judeo-português ou mesmo português, ao fim de quatro séculos, é uma prova muito mais profunda de ligação efetiva (e afetiva) do que dois meros anos de residência legal. Não obstante entender que esta proposta é lamentável, tanto no conteúdo, quanto na oportunidade, deveria ser alterada para que este laço que une, e porventura muito mais, seja devidamente valorado: que o judeo-português e a língua portuguesa sejam elevados a requisitos necessários e alternativos à residência em Portugal.
As inquietações reveladas por esta proposta tomam a árvore pela floresta e pecam por um racismo, que, se não tiver sido consciente, revela uma enorme iliteracia histórica. E demonstram que os companheiros de viagem do racismo nem sempre são os mais óbvios.