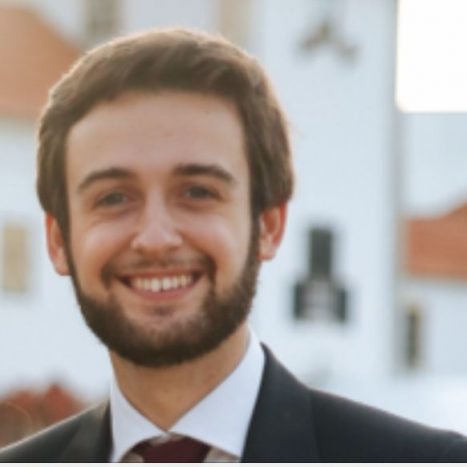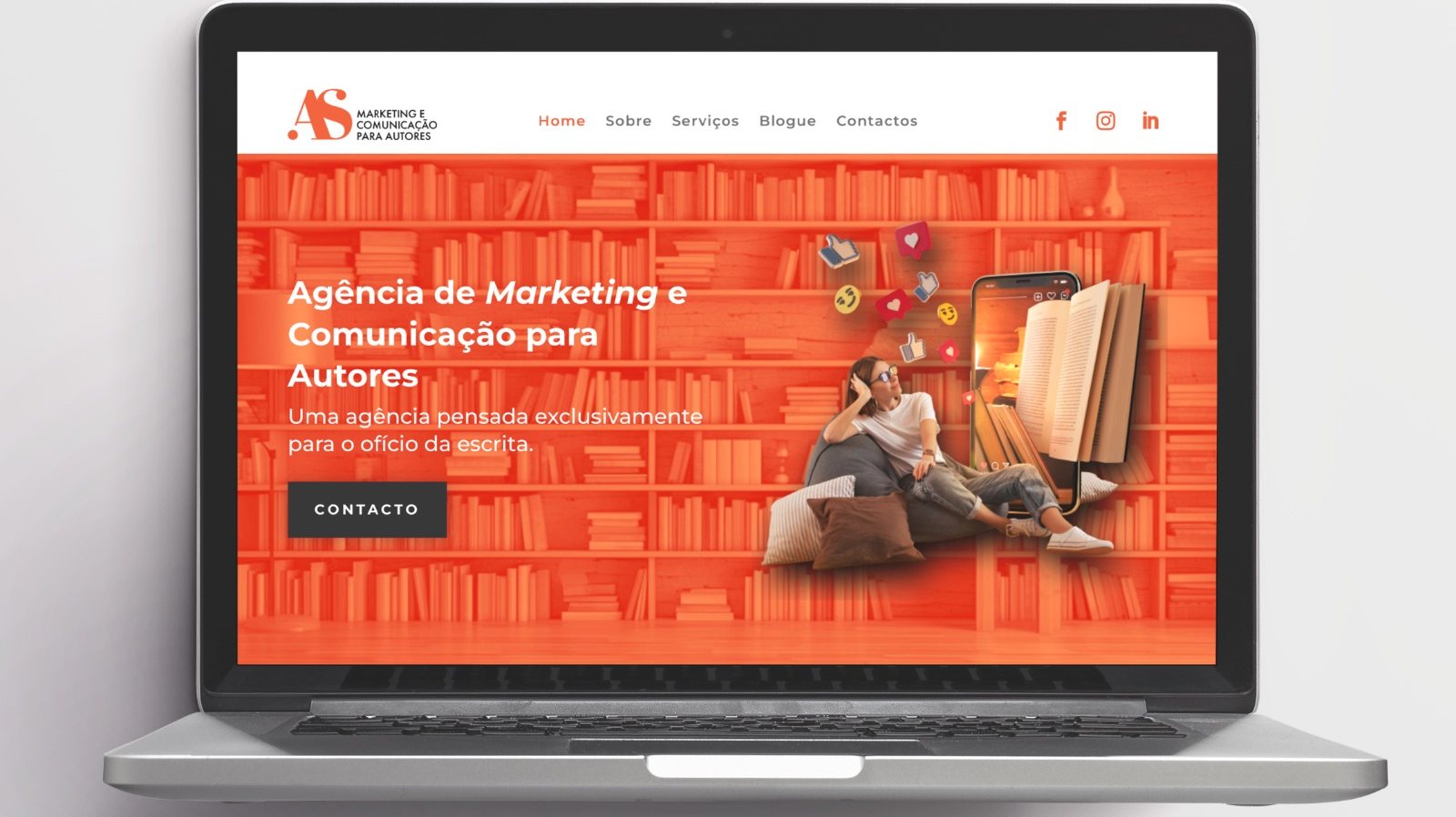Quando o leitor contemporâneo olha para o ensaio de Chesterton sobre O romance da rima, aquilo que fica é apenas uma defesa brilhante da musicalidade poética. Para quem o leu ainda fresco, porém, o ensaio vinha cifrado. Como explica Joseph Pearce no seu Literary Converts, o alvo subentendido de Chesterton era T. S. Eliot. A Terra Devastada tinha acabado de sair, era a grande sensação literária, e Chesterton esbarrava naquele verso livre; a rima, explica Chesterton, tira um efeito fantástico daquilo que é familiar, um prazer subtil de um prazer mais simples, musical.
A Terra Devastada seria, assim, mais um exemplo da sofisticação que se esquece do mais básico prazer, que retalha a humanidade da alegria mais simples.
Eliot não gostou da crítica, achou-a “precipitada”. De facto, Chesterton demoraria ainda a perceber que Eliot e ele estavam ambos do mesmo lado, embora se movessem por caminhos diferentes. O de Chesterton, como sabemos, é o caminho popular, a crença na sensatez do Homem comum, na épica do quotidiano e na magia dos prazeres simples. Por aqui, chegava-se à raiz comum da cultura, o Cristianismo.
Com Eliot o caso era diferente. A modernidade quer resolver Eliot com um dos adjectivos preferidos da modernidade: que o grande renovador da poesia, a epítome da vanguarda, se transforme num gentleman Inglês, monárquico e anglo-católico, admirador de Maurras e do lado mais tradicionalista da Falange Espanhola é apenas um sinal do homem contraditório que faz as delícias da modernidade. A incoerência, a ausência de lógica, faria pender a balança para o lado moderno. O revolucionário tradicionalista é, precisamente por conter as duas facetas, mais revolucionário, porque esta duplicidade é em tudo moderna.
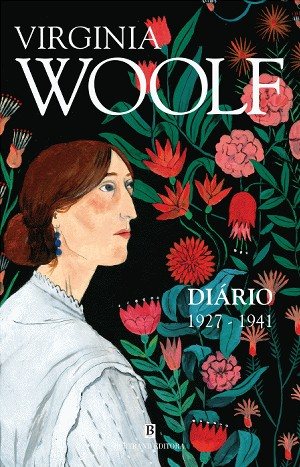
“Diário 1927 – 1941”, de Virginia Woolf (Bertrand)
Ora, para Eliot a questão é completamente diferente. A vanguarda de Eliot é a tradição, em todos os sentidos. Não só por A Terra Devastada evocar uma certa ideia de desterro, mas pela própria concepção de Arte moderna. Os principais teóricos da arte contemporânea, de Ortega y Gasset a Umberto Eco, concordam num aspecto fundamental: a estranheza que a arte contemporânea causa ao homem comum. O homem comum não reage com indiferença – repudia mesmo aquilo que lhe apresentam como arte. Isto porque, explica Ortega, a arte é feita contra o espírito comum, como uma tentativa constante de nos libertarmos dele.
Para Eliot, esta tese assume uma interpretação mais profunda. De facto, há algo errado no ponto de vista comum, um desejo voltado, não para aquilo que nos dá felicidade, mas para coisas mais pequenas. A arte reage contra esta estrutura do nosso ponto de vista – a que podemos chamar a estrutura do pecado original – mas também a ética e também a civilização.
A arte de Eliot é elitista, não porque esteja vedada a alguém, mas porque só está acessível àqueles que a procuram. É, como a própria civilização, uma forma de ordenar o Homem ou de mostrar a sua desordem. Um dos pontos mais importantes da vanguarda inglesa é, precisamente, esta ideia, mesmo que alguns dos seus pináculos não a tenham percebido inteiramente.
Viriginia Woolf é um dos mais importantes elementos da vanguarda inglesa. Não só pelos seus romances, mas também pela vida – que Quentin Bell, sobrinho, tão bem retratou na monumental biografia que fez da sua tia – cheia de sofisticação, de comportamentos ditos transgressores e aparente brilho intelectual dos seus círculos.
O chamado “grupo de Bloomsbury”, de que Virignia Woolf é o mais conhecido membro, mas de que também fazem parte o seu marido, Leonard, Clive Bell, ou E. M. Forster, é o mais conhecido grupo da vanguarda britânica. Não exactamente aristocratas (ou nem todos), mas com boas ligações aos “Bright Young Things” que apareciam ao mesmo tempo, meninos de Cambridge e das Public Schools, muitos deles membros dos Apostles, e ao mesmo tempo artistas dotados, Homens e mulheres sexualmente permissivos, desempoeirados e cultos.
Não é de estranhar, portanto, a reacção de Virignia Woolf, como a conta Fernando Guedes, à notícia da conversão de Eliot: “Oh, não o Tom!”, exclama ela. Eliot, ao contrário de Ezra Pound, sempre fora bem aceite entre o grupo de Bloomsbury. Publicava os escritos deles na sua revista Criterion, estava à vontade no ambiente mundano que Pound desprezava e, com Vita Sackville-West ou Katherine Mansfield, está na periferia de Bloomsbury, entre aqueles que só de vez em quando apareciam, ou que não viviam exactamente naquela zona central de Londres.
Nos Diários de Virginia Woolf, aliás, vê-se ainda um desconforto com o “novo Tom”, convertido e casado burguesmente, com uma mulher complicada, niquenta e sem sal. A vida comum de Eliot entristece-a, como se percebesse uma ruptura entre o autor d’A Terra Devastada e aquele funcionário de um banco que se escusava a viver nos limites estéticos da vanguarda.
Limites esses que, literariamente, Woolf ia aproximando cada vez mais de Eliot. É curioso acompanhar o percurso literário de Virginia Woolf através dos seus diários. Naqueles que a Bertrand agora publica, Rumo ao Farol acabou de sair do prelo e Virginia Woolf está prestes a atingir o estrelato literário. Rumo ao Farol é bem acolhido pelos amigos, sobretudo pela sua irmã Vanessa, que vê no livro a expressão artística da relação entre as irmãs e a mãe; mas o primeiro grande êxito de Virginia Woolf é Orlando, levemente baseado em Vita Sackville-West, que Viriginia encara, a princípio, como uma espécie de brincadeira.
Orlando está nos antípodas de Rumo ao Farol e, sobretudo, do seu sucessor As Ondas. Não é, como Virginia diz das Ondas, um romance sobre a literatura, nem um espelho vanguardista do modo de funcionar do espírito; na forma, é até bastante convencional. No entanto, é a prova de que a modernidade não nasce nem de um desejo dela, nem da novidade. Orlando, que Leonard Woolf reconhece como o romance mais original da sua mulher, é dos livros de Virginia aquele que mais diz sobre a vanguarda porque se torna um romance sobre o cansaço. Virginia Woolf não trata a androginia à maneira do século XIX, como a trata Balzac em Sarrazine, por exemplo. O que é interessante em Orlando não é o segredo de uma identidade, mas a sua transformação. Orlando é a demonstração de como a progressiva concentração na forma (o grande atractivo das vanguardas do século XX) acaba por tirar ao sujeito todos os referentes e pode transformá-lo noutra coisa. A ideia de forma presente em Orlando é também a ideia de rito, ou a ideia de lei: isto é, a ideia de que há na forma um poder transformador, que Bourget tão bem expressou com a ideia de que “é preciso viver como se pensa, sob pena de se acabar a pensar como se vive”; a forma e a matéria não são estanques, potências em conflito. Aquilo que Eliot viu na Igreja e no cerimonial religioso – a capacidade de transformar o homem – Virginia Woolf viu em Orlando e na forma literária.
É certo que as reacções de um e de outro são diferentes. Da conclusão de que o rito tem um poder transformador, Eliot tira a alegria da Civilização; Virginia Woolf, porém, transforma esta conclusão numa espécie de cinismo cansado. Na verdade, quando a vanguarda tenta encontrar uma forma de expressar melhor os mecanismos da nossa consciência, está a condenar-se a uma tarefa impossível, já que essa expressão altera os mecanismos da consciência. O movimento, como Orlando tão bem expressa, é sempre um movimento de fuga da verdade. As vanguardas entretêm-se nestes jogos; Virginia Woolf, porém, vai mais longe e percebe a regra. O que resta, então, é pouco mais do que um longo cansaço, um tédio que perturba até as páginas mais alegres do seu diário.