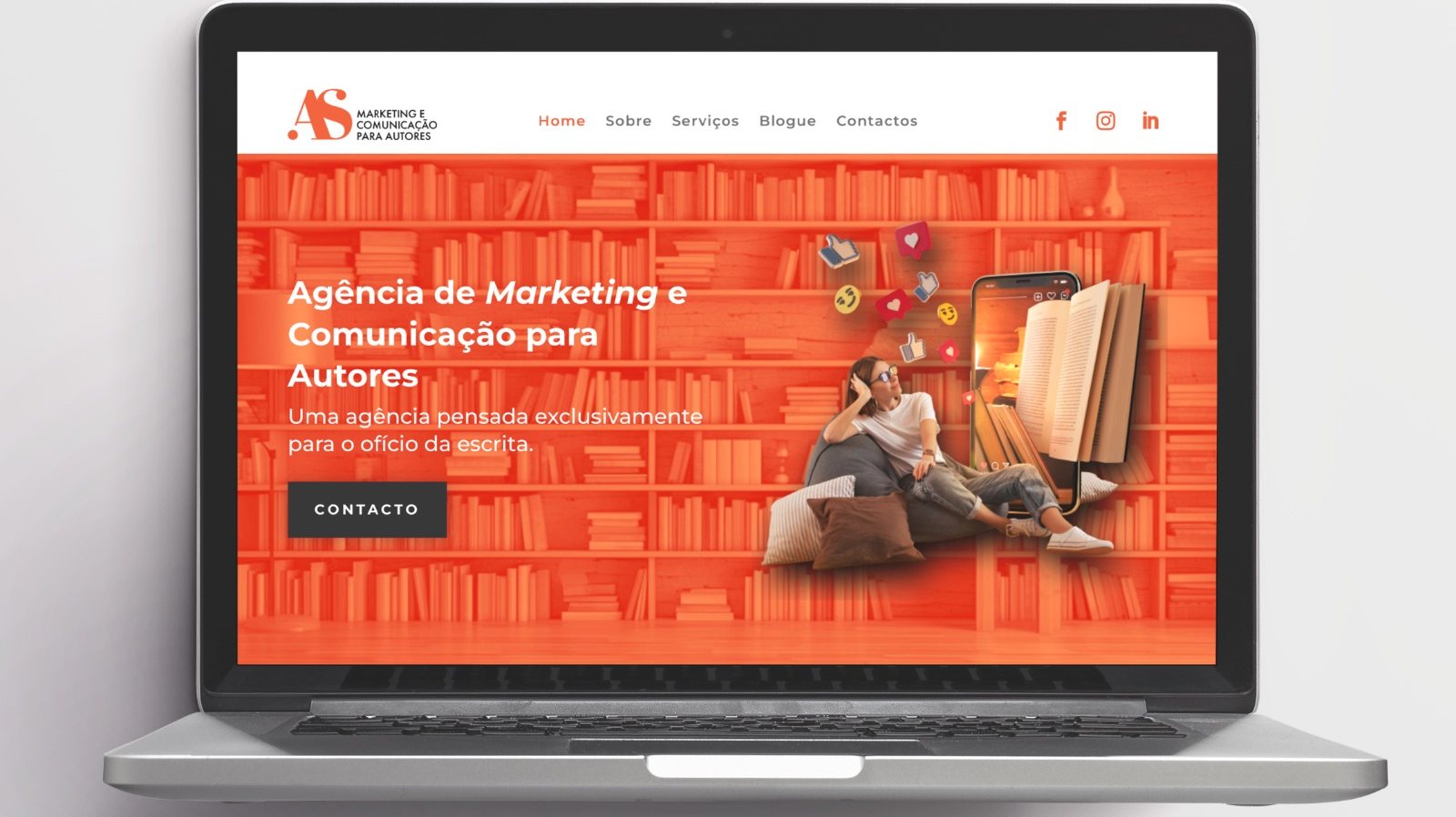Num dia igual aos outros, na cidade feliz de Oran, de frente para o mar Mediterrâneo, um rato saiu das sombras e veio morrer ensanguentado numa rua primaveril. Pensou-se que era coisa de adolescentes ociosos, até que dezenas, centenas e depois milhares de ratos juncaram a cidade quase indiferente. Só quando morreu o primeiro homem é que o doutor Rieux teve coragem de pronunciar a palavra: “peste”. Mas já era então tarde demais.
Oran, uma cidade real da Argélia onde, ao longo da história se registaram vários episódios de peste e epidemias várias, foi o cenário escolhido por Albert Camus para, em 1947, escrever aquela que muitos consideram ser a sua obra-prima e que integra o chamado Ciclo da Revolta, juntamente com os romances O Homem Revoltado e Os Justos. E se, nos anos 40, ela foi lida como uma metáfora do nazismo que destruiu a Europa, o tempo confirmou o seu simbolismo muito mais abrangente; uma crónica sobre a desmesurada força da Natureza contra a força humana, desvelando todo o absurdo da nossa condição. Absurdo que só se supera com a revolta, revolta que aqui toma a forma do altruísmo. Numa cidade fechada, assolada pela doença e a morte. Sem Deus, sem medicamentos, resta aos homens a possibilidade de se salvarem uns aos outros.
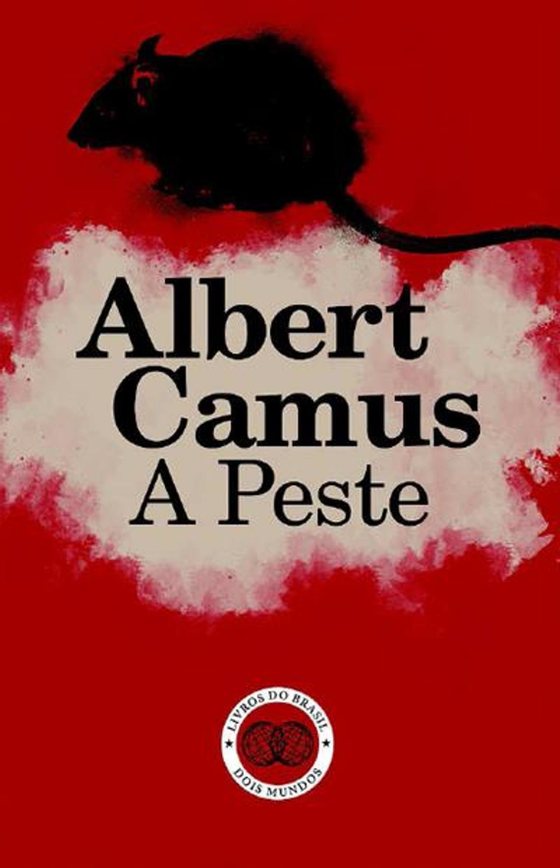
A Peste, de Albert Camus está publicada na chancela Livros do Brasil da Porto Editora. PVP:14.90 euros
Camus chamou-lhe uma “crónica de resistência”, referindo-se à Resistência francesa durante a 2ª Guerra Mundial, na qual ele participou, escrevendo no jornal Combat. Hoje, contudo, ela tornou-se uma crónica das cidades do século XXI, acossadas por uma epidemia, onde apanhadas de surpresa a generalidade das pessoas deixa cair as máscaras sociais, cultivadas ao longo de anos, para deixarem sair o animal acossado que dormia no fundo de si mesmas, como os germes e os bacilos dormem no fundo da terra até ao dia em que algo os acorda e os manda “morrer numa cidade feliz”.
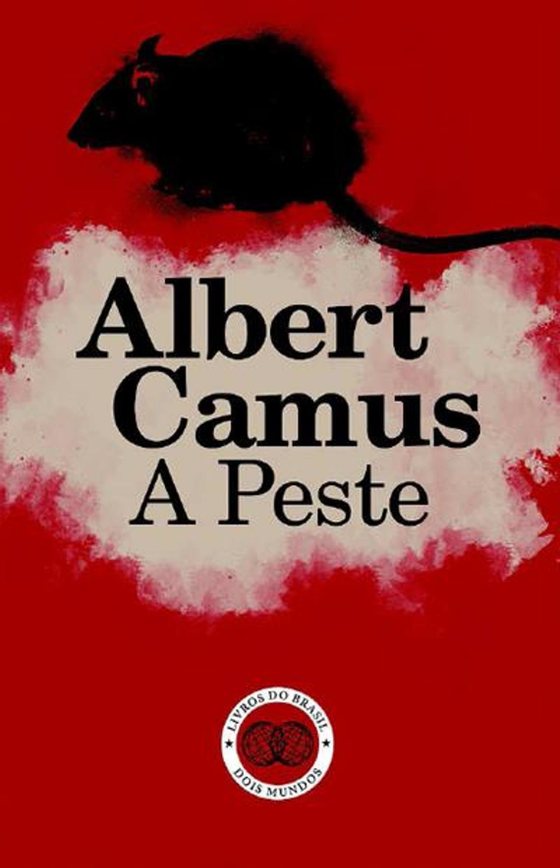
“A Peste”, de Albert Camus, está publicada na chancela Livros do Brasil da Porto Editora
Nos primeiros tempos da peste em Oran, à medida que as as lojas iam fechando, porque os barcos deixaram de parar no porto e os comboios deixaram de entrar e sair da cidade, o desemprego ia crescendo, as pessoas passavam o tempo nas praias ou a passear junto ao mar. As paisagens criadas pela Terra, diz-nos Camus, em várias obras, têm qualquer coisa de inumano na sua beleza, e várias vezes ele utiliza-as como símbolo da nossa impotência.
Mais tarde, as autoridades fecharão as praias, as avenidas, as ruas e o Mediterrâneo passa a ser testemunha silenciosa das ambulâncias que vão e vêm, dos carros funerários que vão e voltam e, mais tarde, dos elétricos transformados em transporte de cadáveres para serem enterrados numa vala comum. Porque a peste, como a guerra, é desde sempre uma das formas mais poderosas de transformar qualquer paixão em abstração, qualquer caos em disciplina e obediência, pelo menos a um nível superficial.
De uma semana para a outra, os habitantes de Oran veem-se expropriados da sua vida, das sua rotinas, dos seus prazeres: o campo de futebol será transformado em lugar de quarentena, o cinema passa sempre o mesmo filme, e até na ópera um dos cantores morre de peste em plena récita. Nas margens e na sombras cresce o contrabando, a polícia mata os que tentam fugir da cidade, todos são de alguma maneira atingidos pela morte e pela doença, pobres e ricos, crentes e não crentes, adultos e crianças. Em Oran, o dia do horror não acaba nunca e os protagonistas vão sobrevivendo porque, cada um à sua maneira, cultivam uma espécie de revolta interior que, por vezes, parece estar paredes meias com a loucura.
“O flagelo não está na medida do homem; diz-se então que o flagelo é irreal, que é um sonho mau, que vai passar. Ele, porém, não passa, e, de mau sonho em mau sonho, são os homens que passam (…) os nossos concidadãos não eram mais culpados que os outros. Apenas se esqueciam de ser modestos e pensavam que tudo era ainda possível para eles(…) continuavam a fazer negócios, preparavam viagens e tinham opiniões.” [Albert Camus, A Peste]
A doença, a proximidade da morte, são, para Camus, uma espécie de exílio que, aos danos do corpo acrescenta profundos danos na alma. E o exílio todos o conhecem mais ou menos porque ele pressupõe, antes de mais, uma rutura com o familiar, uma exclusão que nos atinge no âmago. E a exclusão é uma das formas de organização que forjou todas as instituições sociais, das prisões às escolas, dos asilos psiquiátricos aos hospitais. O mundo passa a dividir-se rigidamente entre os sãos e os doentes, os normais e os loucos, os bons e os maus. Não há meio termo e quem está no “lado errado” é automaticamente condenado por todos os outros ao exílio. Então, suportar o exílio e o silêncio a que a peste os condenara é um dos desafios dos personagens deste livro, todos eles homens.
Rambert, jornalista parisiense, apanhado por acaso na cidade, tenta esquemas para fugir; Joseph Grand, funcionário público, insiste em escrever um livro, embora não consiga mais do que repetir dezenas de vezes a frase inicial; Cottard, depois de uma tentativa de suicídio, descobre a felicidade de viver dentro da peste e faz contrabando; Tarrou elabora um absurdo relatório sobre as figuras excêntricas da cidade; Rieux persiste em acreditar que pode salvar algum dos seus doentes. Mas, com o passar dos meses, todos acabam por se entregar à peste, percebendo o que ela tem de lição e de convite à sua transformação enquanto seres humanos. Ao aceitarem que a catástrofe trouxe uma mudança de sentido às suas vidas, eles deixam de viver, egoisticamente, para os seus interesses ou para a sua sobrevivência e aplicam todas as suas energias em salvar os outros e isso, dará, enfim, um sentido à (sua) vida e à morte.
Outras obras sobre pestes, epidemias e vírus
Na epígrafe desta alegoria da peste, Camus, cita outro clássico, que vale a pena redescobrir por estes dias, o Diário da Peste de Londres, de Daniel Defoe, escrito no século XVIII, é considerado, juntamente com Robinson Crusoé, o percursor do romance moderno. Esta obra, traduzida para português por João Gaspar Simões, foi editada pela Presença e tem a sua edição mais recente na chancela Bonecos Rebeldes, mas também pode ser encontrada em alfarrabistas.
Outro dos clássicos a ser muito lido por estes dias é o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Uma ficção sobre uma epidemia que deixa as pessoas cegas, originando todo o tipo de violências. Para os que gostam de distopias podem encontrar o desconcertante perfume da profecia em, The Eyes of Darkness (não está traduzido em Portugal), de Dean Koonz. Escrito em 1981, este romance, que a par de Camus está a voltar aos tops de vendas, conta a história de um vírus que se chama Wuhan-400, por ter surgido, precisamente, na cidade chinesa de Wuhan.
Se há tema que tem inspirado a criação de obras primas em todas as artes é a peste. Entre elas está o clássico Decameron de Boccaccio, considerada uma das obras maiores da literatura que marca o fim da Idade Média e o princípio do Renascimento. O livro é composto por uma centena de contos que têm como cenário a peste negra que dizimou a população europeia no XIV. Esta obra, que teve uma tradução do italiano para o português feita pelo escritor Urbano Tavares Rodrigues, foi publicada em dois volumes pela Relógio D’Água. Também deu origem a um filme homónimo de Pier Paolo Pasolini.
A doença vista de um ponto de vista mais romântico pode ser lida no conhecido Amor nos Tempos de Cólera, para muitos a obra-prima de Gabriel Garcia Marquez. Uma história de amor, separação e persistência entre Florentino Ariza e Firmina Daza, contada dentro do realismo mágico.
The Stand de Stephen King, é uma obra de terror, sobre um vírus criado em laboratório, se espalha acidentalmente e dizima metade da população mundial. O livro é de 1994, teve direito a uma mini-série e está também a ser novamente lido nestas ultimas semanas. A Wook e a Fnac disponibilizam a edição inglesa.