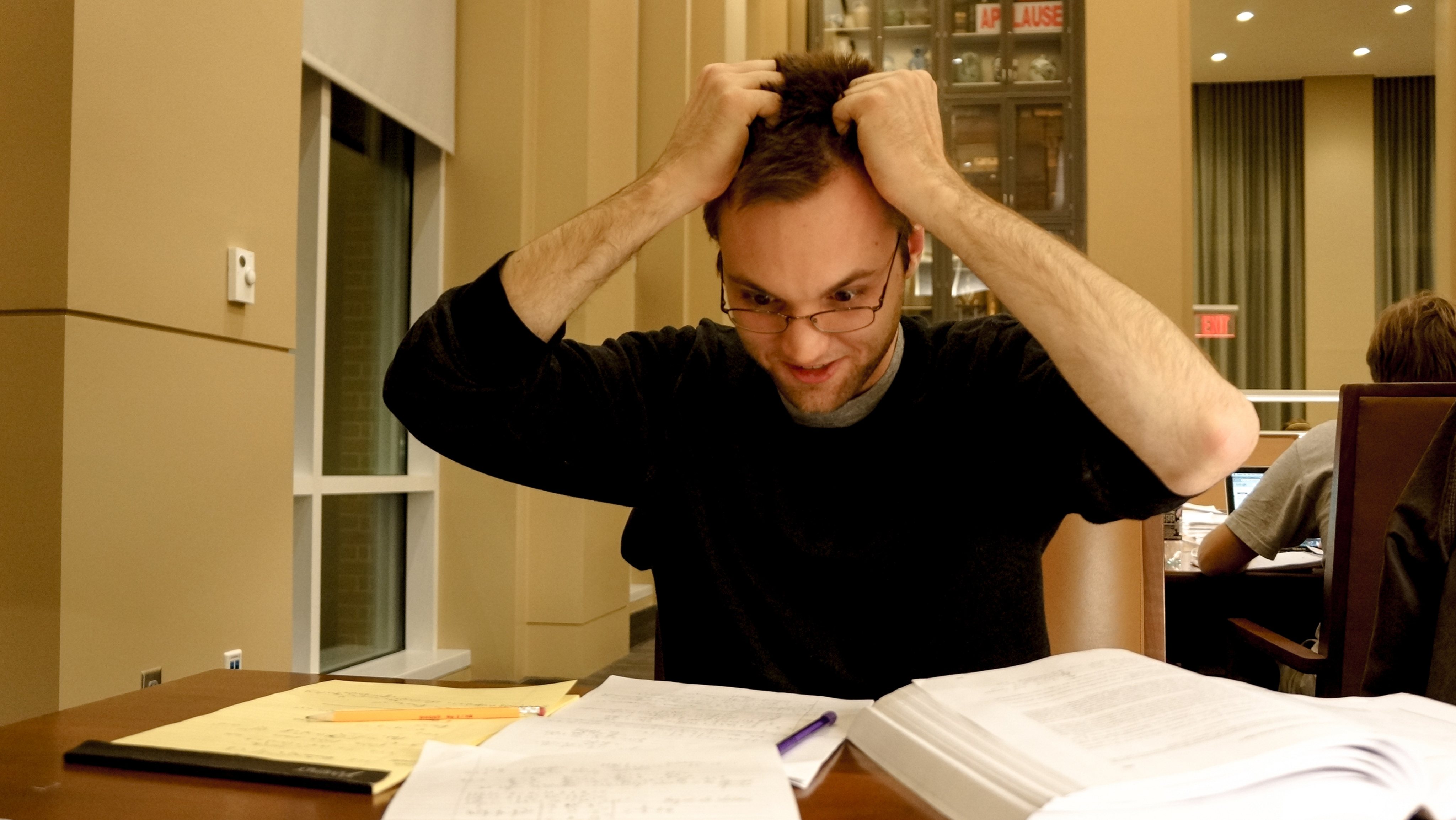A história repete-se todos os anos. Quando se aproximam as datas das grandes celebrações no Santuário de Fátima, aumenta o número de peregrinos nas estradas e, consequentemente, multiplicam-se os avisos das autoridades: aos caminhantes, para que evitem as estradas movimentadas e se façam notar aos carros; e aos condutores, para que conduzam com especial cautela nas estradas por onde passam os peregrinos.
Ainda assim, os atropelamentos mortais têm sido uma constante nos últimos anos. Em 2004, dois peregrinos que se dirigiam para Fátima morreram atropelados perto de Pombal; em 2005 um homem natural de Gaia foi atropelado nos arredores de Coimbra; em maio de 2010, ano em que o Papa Bento XVI visitou o santuário, morreram uma jovem de 22 anos grávida e um homem de 57 anos quando passavam junto à Sertã; em 2015, morreram cinco peregrinos de um grupo que vinha de Mortágua morreram em Cernache; em 2017 morreu em Alcobaça um outro peregrino que vinha do sul.
Este ano, voltou a acontecer. Um peregrino morreu e cinco ficaram feridos depois de uma mulher ter atropelado o grupo que se dirigia para Fátima e que passava em Moitas Venda, no concelho de Alcanena. A condutora que causou o acidente tinha problemas do foro psicológico e acabou por ser internada compulsivamente depois de ter sido encontrada pela polícia com o carro despistado num acesso à autoestrada.
Um peregrino morto e cinco feridos em atropelamento. Condutora já foi detida
Uma situação comparável aconteceu em setembro do ano passado na praia de São João da Caparica. Quando o motor do pequeno Cessna 152 do Aeroclube de Torres Vedras em que seguia com um aluno parou em pleno voo de treino, Carlos Conde de Almeida — um piloto experiente — teve de tomar uma decisão rápida: pousar no mar, arriscando, segundo vários especialistas, destruir a aeronave e enfrentar a morte quase certa, ou então aterrar na praia de São João da Caparica, que naquela quarta-feira de verão estava cheia de banhistas. Acabou por escolher a aterragem no areal da praia e o resultado foi trágico: duas pessoas morreram, incluindo uma criança de oito anos.
“Matar alguém por acidente é algo de uma ordem devastadora para a integridade da pessoa”, diz ao Observador o psicoterapeuta Hélder Chambel, investigador na área do luto e da morte e experiente no acompanhamento de casos como estes. “Sobretudo, é algo que não se apaga. Vai, a partir daquele momento, passar a fazer parte da vida da pessoa. Quem está envolvido desta forma na morte de alguém passa a ter de viver com esse sentimento de culpa e essa dor durante toda a vida”, sublinha o especialista.
Aterrar no mar ou num mar de gente? As opções do piloto da aeronave da Caparica
Se a culpa é sentida de forma intensa em casos como estes — o mais comum são acidentes de viação que têm como resultado a morte de alguém — em que vítima e responsável não se conheciam, é ainda mais acentuado quando há uma relação afetiva com a pessoa que morreu. Pior ainda se a vítima for filha da pessoa envolvida no acidente.
É o caso de Mónica* e António*, que perderam o filho, Isaías*, num acidente que alterou para sempre a vida daquela família. Tudo começou quando passavam férias num parque de campismo e a mulher sugeriu ao marido que fosse ao centro da localidade mais próxima comprar frango assado para o jantar dos três. Ele acedeu ao pedido, pegou no carro e foi com o filho. Na viagem de carro, tiveram um acidente. Isaías, que brincava sem cinto de segurança no banco de trás, morreu; o pai sobreviveu.
“A perda de um filho é uma tragédia para qualquer família, que já deixa, naturalmente, um sentimento de culpa — moral, irracional — naqueles pais. Mas ganha uma outra dimensão quando há, da parte dos pais, também uma responsabilidade material na morte do filho”, explica ao Observador José Eduardo Rebelo, fundador da APELO (Associação de Apoio ao Luto), e responsável pelo acompanhamento deste casal durante cerca de um ano e meio.
O próprio José Eduardo Rebelo, biólogo e professor na Universidade de Aveiro, começou a dedicar-se ao estudo de luto depois de ter perdido a sua família num acidente de viação, há mais de 20 anos. Morreram a mulher, que estava grávida, e as duas filhas (de um e sete anos de idade) e o académico viu-se envolvido numa desordem emocional durante quase uma década. Decidiu então começar a ajudar os outros para ultrapassar aquela situação: já biólogo e académico, fez um mestrado em Psicologia da Saúde, dedicou-se a investigar o luto e fundou a APELO, que hoje ajuda famílias enlutadas em Portugal.
Apesar de serem casos muito distintos no que toca às circunstâncias e à relação entre os envolvidos, o piloto da Caparica e este casal têm em comum o facto de terem de enfrentar um dos processos psicológicos mais complicados para um ser humano: a superação da culpa de ter matado alguém. “É um processo muito exigente, sobretudo porque o grande desafio é conseguir que a pessoa carregue de forma equilibrada a culpa que inevitavelmente tem”, explica ao Observador David Figueirôa, psicólogo, investigador e vice-presidente da Associação de Psicologia Relacional.

▲ A avioneta aterrou de emergência na praia de São João, na Caparica, a 2 de agosto, matando duas pessoas (JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR)
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Em primeiro lugar, concordam os três especialistas, é preciso entender e definir bem o que é efetivamente o sentimento de culpa e distingui-lo da culpa material. Depois, é fundamental que seja feito o acompanhamento psicológico adequado a estas pessoas — acompanhamento esse que, muitas vezes, sobretudo em casos mais mediáticos como o da Caparica, tem uma agravante: o sentimento de culpa é potenciado pelo olhar incriminatório da sociedade, que se identifica mais facilmente com a vítima do que com o responsável pelo acidente.
Lidar com a culpa sob a condenação da sociedade
Minutos depois da trágica aterragem da avioneta na praia de São João da Caparica, o basquetebolista do Benfica Nicolas dos Santos tornava-se num herói improvável naquela história, ao impedir que os banhistas em fúria espancassem o piloto e o tripulante da aeronave. “Meti-me no meio para tentar evitar que acontecesse outra tragédia, quis ajudar”, contaria depois em declarações ao site do clube.
O caso da avioneta é, para o psicoterapeuta David Figueirôa, “paradigmático” no que toca à reação a este tipo de tragédias. “Por um lado, temos o ponto de vista das pessoas que lá estavam e que imediatamente quiseram agredir o piloto. Este é o primeiro tipo de resposta social. É uma resposta mais emocional, mais imediata, identificada emocionalmente com a vítima, que perante um prejuízo procura logo uma resposta, um castigo. Tem a ver com o psiquismo mais básico. Nós não toleramos a espera, a dúvida, e naquele momento temos uma certeza: há vítimas. E se há vítimas então é porque há um culpado, e temos vontade de procurar logo quem é esse culpado”, explica.
Basquetebolista do Benfica impediu outra tragédia na Costa da Caparica
Ao mesmo tempo, “a intervenção do basquetebolista é paradigmática de outro tipo de resposta”, acrescenta o especialista. “É uma resposta que cria um tempo. Um tempo para se poder pensar, decidir, investigar. No fundo, um tempo que é característico da civilização, capaz de sair de uma identificação única com um dos lados”, sublinha Figueirôa, que recorda que “a justiça não se pode fazer só com identificação com a vítima”.
José Eduardo Rebelo recorda-se de um caso parecido em Aveiro, onde vive — mas mais dramático por se tratar da morte de um filho. “Cheguei a tomar uma posição pública em defesa do envolvido”, sublinha. Certa vez, um casal com um filho bebé teve de alterar a rotina diária: habitualmente, era a mulher quem levava a criança para a creche de manhã, mas naquele dia teve de ser o marido. Contudo, antes de chegar à creche, o homem passou pelo emprego, “para tratar de um assunto qualquer”. Estacionou, fechou o carro e entrou no escritório. E ficou lá. Sem estar habituado a passar pela creche todos os dias, “nunca mais se lembrou da criança, e o bebé acabou por morrer dentro do carro”.
De imediato, “levantou-se uma imensa indignação contra aquele pai, toda a gente queria responsabilizá-lo pela morte do bebé”, lembra Rebelo, que interveio publicamente no sentido de proteger o homem. “Tive de dizer que obviamente um pai não ia matar o filho intencionalmente daquela forma. Não é intencional, temos de proteger a pessoa e deixá-la entregue à sua própria culpa.”
Culpa é aqui a palavra-chave. Mas é também uma palavra que deve ser usada com o maior dos cuidados, alerta o especialista. “Temos de ser muito precisos nos conceitos quando falamos de alguém que matou por acidente para evitarmos julgar à partida. O conceito de culpa tem dois significados fundamentais: um de natureza moral — uma emoção irracional — e outro de responsabilidade material — aquele que usa a Justiça quando declara que alguém é culpado de algo”, explica José Eduardo Rebelo, argumentando que aqui é do primeiro significado que falamos.
“Sempre que me referir a culpa, refiro-me a um sentimento de natureza inconsciente, moral, que se forma mas que é irracional. Por exemplo, quando uma mãe oferece uma bicicleta ao filho e a criança acaba por morrer num acidente com a bicicleta, obviamente que a mãe se vai culpar toda a vida pela morte do filho. Sente essa culpa, apesar de não ter responsabilidade material na morte do filho”, exemplifica.
Também David Figueirôa olha para o sentimento de culpa numa dupla perspetiva. Uma é mais superficial e estabelece uma relação direta entre erro e culpa. “Quando há a ideia de que foi cometido um erro, isso vai potenciar um sentimento de culpa na pessoa que terá cometido esse erro. Isto é básico. Por norma, se eu desrespeito as regras ou a lei, sinto que cometo um erro e que tenho culpa”, detalha. Em segundo lugar, há um outro sentimento “menos evidente” para definir a culpa. “Independentemente da existência de um erro concreto ou de uma intenção, se a minha ação tem um efeito negativo sobre outra pessoa, neste caso a própria morte, o meu sentido de responsabilidade perante o outro vai fazer-me sentir culpa”, sublinha.
É nesta segunda definição que, defende o especialista, podemos enquadrar o que aconteceu na Caparica. Não havendo garantias de que foi ou não cometido um erro relativamente àquilo que são as normas que regulam a pilotagem em segurança daquele tipo de aeronaves, a única certeza é que, “perante o estrago que aconteceu, que neste caso é a perda de duas vidas humanas, há um sentimento de culpa naquele piloto que é inerente à condição humana”.
“Eu matei alguém”
Pelo consultório do psicoterapeuta Hélder Chambel já passaram pelo menos três casos assim, pessoas que mataram por acidente. “Todos acidentes de viação, que é a forma mais comum de matar alguém acidentalmente”, detalha. Os casos não são todos iguais, mas há dramas que se repetem. “São casos que têm um sofrimento muito específico, são pessoas que aparecem e dizem ‘eu matei alguém’. É enlouquecedor, é mesmo essa a expressão que as pessoas usam”, lembra o psicólogo, que além daqueles três casos já acompanhou inúmeras pessoas com complexos de sentimento de culpa.
Num ponto, todos os especialistas concordam: quem mata alguém acidentalmente terá de viver toda a vida com essa experiência. A chave está na forma como essa experiência é, em última análise, assimilada e integrada no conjunto das realidades que o indivíduo viveu. Com base na experiência que tem no acompanhamento deste tipo de casos, Hélder Chambel explica que, no que toca a lidar com o sentimento de culpa, há duas situações comuns: há quem entre por uma linha mais depressiva, que passa pela consciencialização da culpa e pelo questionamento permanente — “são pessoas que aparecem muito em baixo, muito deprimidas, a questionar-se ‘o que é que eu fui fazer?’” –, e há, por outro lado, quem siga um caminho de maior ansiedade, evitando a todo o custo falar do assunto — o que, sublinha o psicólogo, representa “uma desorganização interior para aquela pessoa, já que uma experiência que não seja elaborada pode ter consequências piores do que a simples tristeza que possa haver ao verbalizar a culpa”.

▲ Nos dias que antecedem as grandes celebrações aumenta o número de peregrinos que atravessam estradas movimentadas a caminho de Fátima e os acidentes têm sido frequentes (PAULO NOVAIS/LUSA)
PAULO NOVAIS/LUSA
“Da minha experiência, há depressões a menos”, assegura o psicólogo, destacando que a incapacidade de lidar com a experiência e de verbalizar o sentimento de culpa é muito mais frequente. No entanto, calar a culpa não a faz desaparecer. E quanto maior a tendência para o fazer, maior é também o peso que o sentimento de culpa ganha na vida da pessoa. “Passa a comandar a vida das pessoas sem que elas se apercebam disso. E isso vê-se nos comportamentos de risco no dia-a-dia. Completos atos de suicídio na estrada, por exemplo. São uma espécie de tentativas de suicídio inconscientes, comportamentos que derivam precisamente dessa dificuldade em integrar as emoções”, diz Hélder Chambel.
O grande desafio para estas pessoas coloca-se precisamente a este nível: a partir do momento trágico em que alguém, acidentalmente, mata outra pessoa, começa um processo de regresso à vida normal que é, explica David Figueirôa, “muito difícil”. É sobretudo difícil garantir um processo equilibrado, uma vez que a maior probabilidade é a de que se dê um de dois cenários de desequilíbrio: “Ou a pessoa assume a culpa de forma muito carregada e entra num estado depressivo que toma conta dela, ou então tenta libertar-se da culpa artificialmente procurando um conjunto de desculpas. Ambos os cenários são desequilibrados e o mais exigente é um processo que não deixe a pessoa presa a uma culpa exponenciada, ao mesmo tempo que não a liberta artificialmente da responsabilidade que tem”.
Hélder Chambel, que já ajudou várias pessoas a resolverem este tipo de questões, recusa qualquer tipo de fórmula universal. “Assimilar o facto de que matámos alguém é um processo que depende das nossas experiências de vida, da relação que tínhamos com a pessoa que morreu e até das próprias circunstâncias do acidente. Por isso é que digo que cada caso é mesmo um caso”, argumenta o especialista.
“Podemos olhar, por exemplo, para este caso do piloto que aterrou o avião na Caparica e matou duas pessoas. Aqui não se coloca a questão do processo do luto como se colocaria caso o piloto conhecesse as vítimas e tivesse uma relação afetiva com elas. Coloca-se, isso sim, a questão da culpa. Isto é um terramoto que abala completamente o universo psíquico daquele piloto”, exemplifica Hélder Chambel.
É um “terramoto” de tal ordem que altera profundamente a vida de uma pessoa. “É habitual haver, por exemplo, quem refira que perdeu noção do tempo, do espaço, e até do próprio corpo. Matar alguém por acidente é uma experiência na ordem do traumático e é frequente que as pessoas fiquem sem saber quem são, onde estão, o que aconteceu”, lembra. Condenadas a viver com esta realidade para sempre, estas pessoas veem-se forçadas a arranjar forma de a integrar no seu percurso de vida, o que “obriga a reelaborar histórias de vida e maneiras de ser, tudo na vida daquela pessoa vai mudar”.
Aproximação entre culpado e família da vítima? “Só se for para o matar”
O percurso rumo à superação da culpa pode ser longo e doloroso, mas o acompanhamento psicoterapêutico pode ajudar. Para David Figueirôa, é mesmo “fundamental” que estas pessoas sejam de alguma forma acompanhadas. Contudo, como reconhecem os três especialistas, é impossível colocar-se no lugar de alguém que matou outra pessoa sem ter passado pela mesma experiência.
Por isso, o acompanhamento possível passa por três dimensões fundamentais: em primeiro lugar, é crucial ouvir o ponto de vista daquela pessoa, uma vez que “toda a atenção, fora dali, está centrada ou na vítima ou no agressor enquanto responsável, nunca nas dificuldades sentidas por aquela pessoa”; depois, é necessário separar vincadamente o que se passa no espaço público, sobretudo em casos mediáticos, e aquilo que é dito na terapia; por fim, o mais exigente, “que é ajudar a pessoa a integrar a culpa na sua experiência sem a relativizar ou anular”. É um desafio, uma vez que estamos a falar de pessoas “extremamente fragilizadas”, que pode durar vários anos.

▲ A avioneta acabou por aterrar numa praia que estava cheia de banhistas em pleno agosto (JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR)
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Hélder Chambel, que já orientou dezenas de sessões de terapia à volta deste assunto, explica que o acompanhamento pode seguir rumos muito distintos. “Em alguns casos, fala-se do acidente de forma obsessiva. Noutros casos, está-se o tempo todo sem falar sobre o acidente. Noutros ainda, só passado algum tempo é que é seguro abordar esse tema. Tudo depende da pessoa”, recorda. Uma coisa é certa: o trauma está lá e vai ficar, transformando definitivamente aquele indivíduo.
Em casos como o da praia da Caparica e outros, o mediatismo “multiplica por cem ou por mil” a desorientação da pessoa e o espaço privado da terapia reveste-se de uma importância acrescida. “O que tentamos é sempre criar as condições para que a pessoa possa pensar sobre o que aconteceu. Por isso, promovemos um espaço em que não haja julgamento e damos tempo. É essencial esperar pelo tempo da própria pessoa”, explica. Neste tipo de terapias, a medicação não tem lugar — o importante é ajudar o indivíduo a viver melhor com a culpa.
Mas há outro fator que pode ser fundamental na restauração da normalidade: a aproximação entre a pessoa que esteve envolvida na morte e a família da vítima. “Há pessoas que vão ao funeral da vítima, outras tentam falar com familiares para pedir desculpa. É raro que o culpado evite ao máximo qualquer relação com a família da pessoa que morreu”, explica o psicoterapeuta, sublinhando que se trata de um gesto muitas vezes em vão: “As pessoas chegam, apresentam-se e pedem perdão por uma coisa que não tem perdão para aquela família. É uma carga emocional intensíssima”.
David Figueirôa defende que esta tentativa de aproximação é “uma coisa mais egoísta do que altruísta” e que muitas vezes tem tudo para correr mal. “Para os pais de um filho que morre numa situação destas, é quase impossível pedir-lhes uma resposta civilizada caso o responsável — mesmo que não tenha tido intenção de o matar — se tente aproximar deles para lhes pedir desculpa. Se o meu filho morre, eu vou querer imediatamente matar a pessoa que matou o meu filho, nem penso nas consequências. É algo que temos dentro de nós”, afirma. Por isso, explica, “a tendência para se aproximar da família e obter o perdão é sobretudo fruto de uma necessidade de alívio próprio”.
Quando a vítima é o próprio filho
Se o caso da praia da Caparica já é dramático, estes casos ganham novas proporções quando há uma relação afetiva entre a vítima e a pessoa causadora do acidente. “Então quando é um filho é uma bomba atómica. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é morrer-nos um filho e acharmos que temos algum tipo de culpa na situação”, diz Hélder Chambel.
Por isso mesmo, Mónica e António, que José Eduardo Rebelo acompanhou durante um ano e meio, passaram por uma situação duplamente dolorosa: não só tiveram de passar pelo luto de um filho como se viram obrigados a lidar com o sentimento de culpa pela morte de Isaías. A perda de um filho é, por si, já um desafio muito difícil de superar. “Ao contrário da morte dos pais ou da morte do companheiro, que são perdas a que chamamos expectáveis, e que são superadas por aceitação, a perda de um filho não é expectável, e por isso é superada por conformação”, sublinha Rebelo, destacando que a superar a perda de um filho pode “demorar a vida inteira”.
Para aquele casal, a perda do filho tomou outras proporções. “Coloca-se aqui, naturalmente, a questão da culpa”, recorda o investigador. Não só a culpa “moral, irracional, que tanto o pai e a mãe sentiram como seria normal num caso de perda de um filho”, como também “a responsabilidade material”. Logo depois do acidente, “levantavam-se entre aquela família várias questões: por exemplo, porque é que o pai não colocou o cinto de segurança ao filho?”.
No entanto, quando chegaram ao grupo de apoio moderado por José Eduardo Rebelo, entraram num processo de negação. “O pai dizia que nunca sentiu culpa. A mãe nunca sequer se referiu a essa questão da culpa nem responsabilizou o marido pela morte do filho”, lembra o fundador da APELO. “Experienciavam, isso sim, a dor pela perda do filho.”
Mãe e pai seguiram caminhos muito diferentes durante o tempo do luto. “Eles foram tendo evoluções muito diferentes. A senhora parecia demonstrar o seu luto da forma que consideramos normal, com as vivências todas — choque, descrença, reconhecimento e superação. Já o marido, a dada altura, assumiu que teria de se envolver e dedicar mais no trabalho, e acabou por seguir a via da medicação, que não é a mais aconselhada. Não deve haver medicação no luto, é contraproducente”, defende Rebelo.
Quando José Eduardo Rebelo encontrou aquele pai, anos mais tarde, viu que a medicação apenas tinha piorado a situação. “Perguntei-lhe como ele estava e apercebi-me de que quando teve de fazer o desmame para deixar de tomar os antidepressivos tinha ficado muito pior”, lembra. A mãe, por seu turno, levou o processo do luto de uma forma relativamente normal e acabou por conseguir superar de forma mais eficaz a perda do filho.
Enfrentar a culpa em tribunal
Há pelo menos um ponto que os especialistas olham de maneira diametralmente oposta. David Figueirôa argumenta que o sentimento de culpa resulta habitualmente da consciencialização de uma decisão mal tomada — aterrar na praia ou pousar no mar; pôr o cinto ou não pôr o cinto. “Em última análise, há sempre uma decisão que, depois do acidente, achamos que teríamos tomado de forma diferente e é isso que nos deixa esse sentimento de culpa”, defende. Mas, para José Eduardo Rebelo, esta ideia pode em alguns casos ser redutora.
“Obviamente, nós passamos a vida inteira a tomar decisões. O que almoçar, de que lado da estrada andar, o que vestir. A própria mãe podia não se ter lembrado de sugerir frangos para o almoço naquele dia, mas sugeriu. O que nós vivemos é sempre uma sucessão de acasos e tomar decisões faz parte do nosso dia-a-dia”, defende Rebelo. Para o líder da APELO, o sentimento de culpa, sobretudo nos casos em que há uma relação afetiva entre a vítima e a pessoa envolvida no acidente, deriva — tal como outras emoções, como a raiva — de uma procura frustrada pela pessoa perdida. Isso gera “a raiva por não encontrar a pessoa, ou a culpa por acharmos que somos nós os culpados pela ausência dessa pessoa”.
Mas uma coisa é certa: com ou sem decisão mal tomada, se há a morte de alguém, há uma responsabilidade criminal e há um processo na Justiça associado a essa realidade. Para Hélder Chambel, a passagem do caso pelos tribunais e a aplicação de uma sentença pode mesmo ter um “caráter apaziguador do sentimento de culpa”. O psicólogo defende que “receber uma pena, em alguns casos pode trazer uma espécie de paz à pessoa, alguma tranquilidade”. Mas isso não acontece sempre — “também pode contribuir para o oposto, para piorar do estado da pessoa, caso o processo seja muito culpabilizante”.
Chegar à superação completa da culpa significa aceitá-la, mas não ignorá-la ou esquecê-la. Mas cada um tem de o fazer à sua maneira, insistem os três especialistas. Este complexo processo de aprender a viver com a culpa — desde o eventual acompanhamento psicológico à aproximação à família das vítimas, passando pelo processo em tribunal –, pelo qual passaram Mónica e António e as várias pessoas que Hélder Chambel acompanhou, começou agora para o piloto da avioneta e para a condutora envolvida no acidente com os peregrinos de Fátima.
*Os nomes são fictícios para proteger a identidade da família