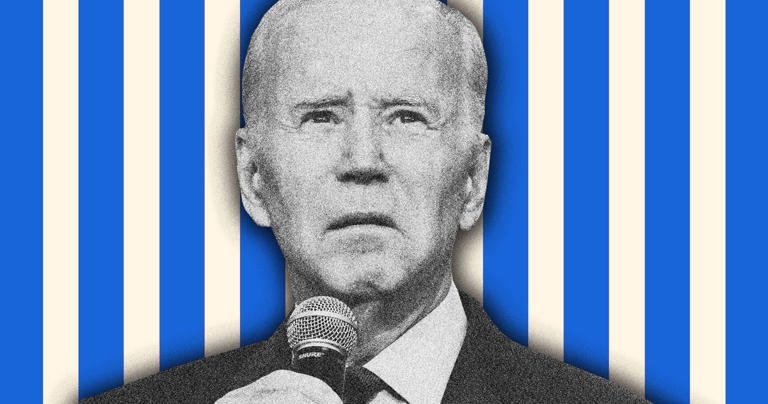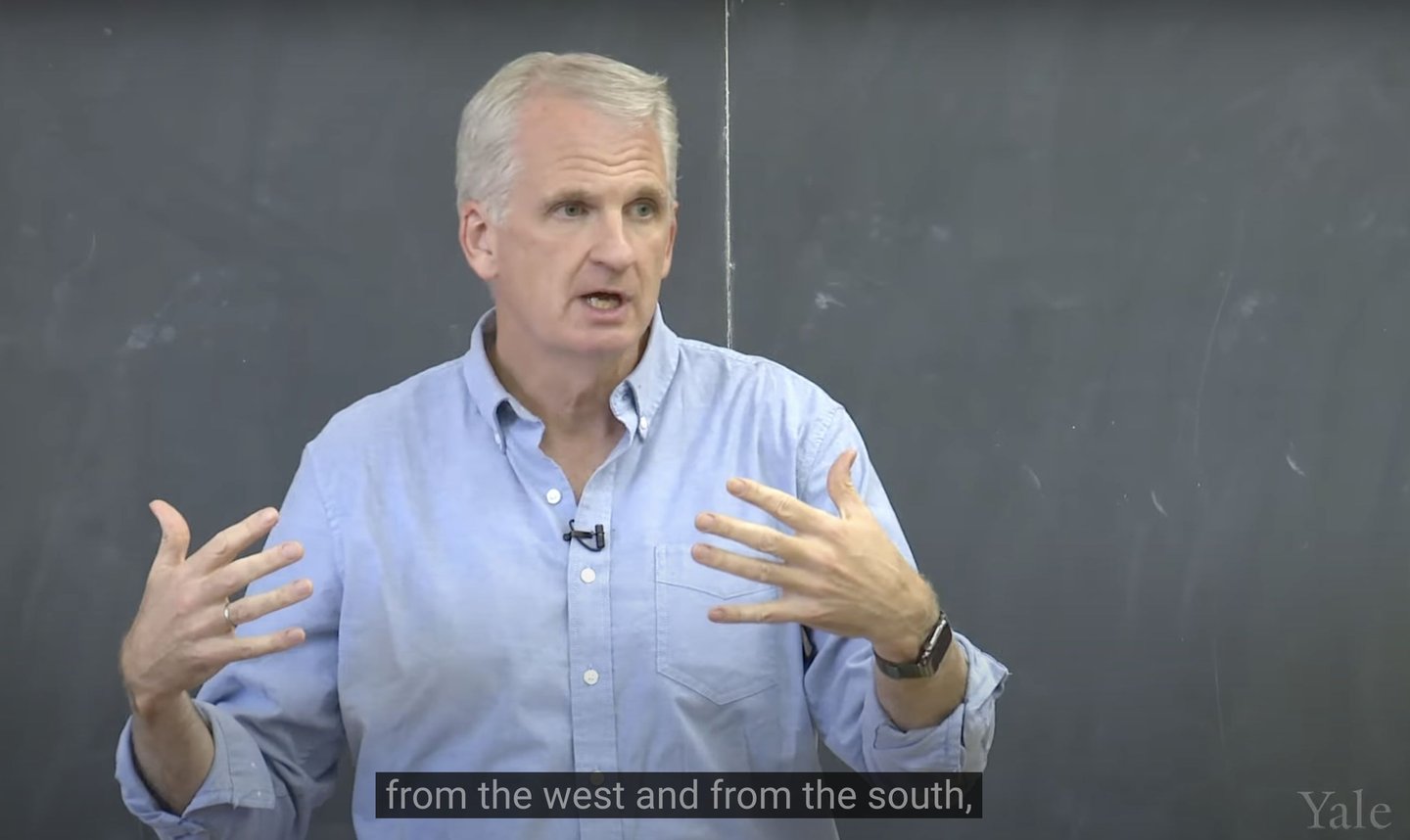Esta newsletter é um conteúdo exclusivo para assinantes do Observador. Se ainda não é nosso assinante, vai receber apenas as primeiras edições de forma gratuita. Pode subscrever a newsletter aqui. Faça aqui a sua assinatura para assegurar que recebe também as próximas edições. |
Em 2016, quando Trump foi eleito presidente, muitos jornalistas garantiram que era preciso “sair da bolha” que os tinha impedido de ver o que estava a acontecer em muitas regiões deprimidas dos Estados Unidos. Seis anos depois os sinais são que tanto aí como em boa parte do mundo desenvolvido a cultura woke, sectária e identitária, não desapareceu das redações, como prova a forma como foi noticiada a derrota, mas com um resultado inesperado, de Jair Bolsonaro. |

|
Os norte-americanos regressam às urnas na próxima terça-feira para as habituais midterms, as eleições onde que ocorrem entre duas eleições presidenciais. As sondagens indicam que os republicanos irão muito provavelmente recuperar a maioria na Câmara dos Representantes (uma probabilidade de 84 contra 16 segundo os cálculos do site especializado FiveThirtyEigth) e podem também conquistar a maioria no Senado (uma probabilidade de 55 contra 45). E isto deverá acontecer apesar de o presidente Biden andar a fazer comícios a dizer que o que está jogo é a democracia, um argumento que é repetido por inúmeros comentadores e jornalistas. Mas será que é mesmo? |
Acabamos de assistir a um debate parecido, porventura com uma dimensão ainda mais histriónica, em torno do resultado das eleições brasileiras. Houve quem fizesse capas de jornais a noticiar que a vitória de Lula da Silva era nada menos nada mais do que a vitória da democracia e até quem garantisse, de forma quase alucinada, que mesmo assim havia um golpe de Estado continuado que não tinha acabado. |
Nada disto faz sentido. Primeiro porque, como explicou Mafalda Pratas ainda antes dos brasileiros votarem (A democracia está em risco no Brasil?), as instituições têm provado ser sólidas; depois porque, como confirmou João Marques de Almeida já depois dos ânimos terem serenado, “o que prejudica a qualidade da democracia é a falta de honestidade intelectual, a falta de seriedade e a ignorância. Tudo isso houve em abundância no último mês nas discussões sobre o Brasil.” |
Ora este último ponto é muito importante e remete muito directamente para a responsabilidade dos jornalistas na criação de um ambiente de crispação e polarização políticas. “A cobertura mediática portuguesa das eleições brasileiras tem sido ferozmente tendenciosa. (…) Estamos a bater no fundo” escreveu Joana Amaral Dias, com todos os seus pergaminhos de esquerda, nas suas redes sociais (aqui no Instagram). Não segui o suficiente a cobertura das nossas televisões, aliás quase nem olhei para elas, mas Paulo Tunhas fez uma crónica muito divertida sobre o mesmo assunto (As televisões, o Brasil e a democracia), pelo que o diagnóstico deve estar correcto. Aliás o que me surpreenderia era se a cobertura das nossas televisões não tivesse sido desequilibrada pois isso contrariaria o coro quase mundial da imprensa dita de referência, lida com atenção por Jaime Nogueira Pinto. |
Acho por isso bem pertinente a questão colocada por Henrique Monteiro em Sobre democracias e golpes: “Qual a responsabilidade de políticos, académicos e jornalistas que se eriçam tanto (e bem) contra Bolsonaro e nem uma palavra têm para Putin e tantos outros que, de facto, destruíram democracias?” O Henrique, que é jornalista como eu, sabe que essa responsabilidade é pelo menos elevada entre os da nossa profissão. |
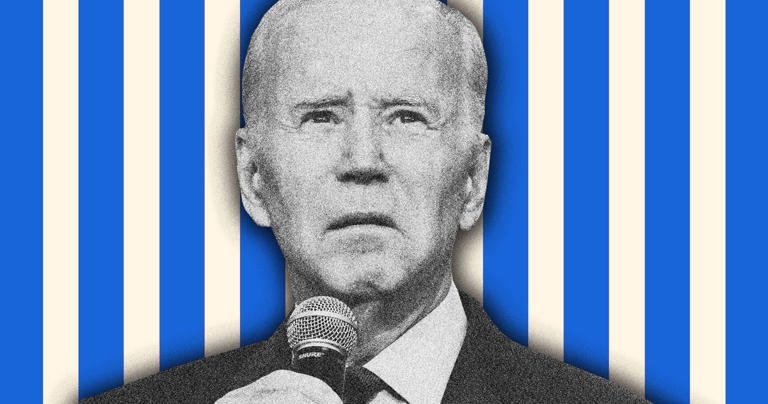
|
Regressemos por isso aos Estados Unidos onde, sobre esta como sobre outras matérias, o debate é muitas vezes mais radical mas também mais plural e mais aberto. Lembro-me por exemplo de em 2016, quando Trump foi eleito, ter lido muitos textos em que se reflectia sobre a incapacidade que os jornalistas haviam tido de antecipar o que viria a acontecer. “Não conhecemos os eleitores de Trump e não fomos à procura deles”, repetia-se então em muitas redações com a aparente consciência de que se tinha criado uma enorme distância social e cultural entre a elite mediática e os “deploráveis”, para usar a infeliz expressão de Hillary Clinton. Na altura percebi bem o que isso queria dizer porque tivera oportunidade de viajar pelos Estados Unidos no Verão antes das eleições, tinha ido a regiões que votavam tradicionalmente democrata e se preparavam para votar Trump, e detectara um mal-estar que podia (apenas podia) desembocar na surpresa eleitoral desse ano. |
O que é que se passou nos quatro anos seguintes? Passou-se que, como desabafaria James Bennet, editor das páginas de opinião do New York Times obrigado a demitir-se por ter publicado um texto que fugia à ortodoxia dominante, os assinantes daquele que muitos consideravam ser o diário americano de referência por excelência agora só queriam era ler uma espécie de “Mother Jones on steroids” (a revista Mother Jones é considerada umas das publicações mais à esquerda nos Estados Unidos). |
Mas isto não se passou apenas no Times, passou-se o mesmo no Washington Post, passou-se o mesmo nos outros grandes títulos e nas principais cadeias de televisão, com destaque para a CNN. Como se escrevia esta semana no site agregador de notícias Real Clear Politics (em Midterms Just Bump in the Road for Mainstream Propagandists) houve temas, como as investigações aos negócios dos filhos de Joe Biden, que a grande imprensa dos Estados Unidos omitiu deliberadamente. Ou então, já nesta campanha eleitoral, houve jornalistas que pressionaram jornalistas a não fazer perguntas sobre o seu estado de saúde a um candidato democrata que sofrera recentemente um ataque cardíaco (How the Media Trains Journalists to Lie, na revista judaica The Tablet). |
Nestes casos estamos, no entanto, a falar de algo que é relativamente clássico – a protecção política ou o favorecimento de uns candidatos em desfavor de outros. Pode ferir, e fere, a preocupação de equidistância que deve estar presente em todo o jornalismo, mas eu diria que este foi uma realidade com que o jornalismo sempre viveu, melhor ou pior. Mais complicado, bem mais complicado, é quando nos deparamos com barreiras culturais que separam por completo o mundo das elites jornalísticas do das pessoas comuns, barreiras que estão para lá de não viverem nos mesmos bairros, não frequentarem os mesmos restaurantes ou não andarem nos mesmos transportes públicos. Falo das barreiras culturais e do preconceito. |
Ruy Teixeira, um dos mais conhecidos cientistas políticos dos Estados Unidos (Teixeira é mesmo sinal de que descende de portugueses), publicou recentemente na The Economist um texto muito interessante sobre como o movimento woke ainda estará a crescer nos meios académicos, no jornalismo, nos grupos activistas e nas organizações não-governamentais, até nos departamentos de recursos humanos das grandes empresas. O problema, nota Ruy Teixeira, é que as pessoas que supostamente deveriam beneficiar desta nova ortodoxia sobre opressores e oprimidos – ou seja os oprimidos, sejam eles minorias raciais, mulheres, minorias sexuais ou sectores mais desfavorecidos da população – não estavam nem estão propriamente a beneficiar das políticas woke e até estão a contrariá-las. Um caso bem ilustrativo disso é o do famoso slogan “defund the police”, deixem de financiar as polícias, um slogan que levou a desinvestimento nas forças de segurança e a uma maior tolerância para com a pequena criminalidade que se traduziu, quase imediatamente, num aumento da criminalidade violenta, criminalidade essa que afecta sobretudo os bairros mais pobres e aqueles onde vivem as minorias étnicas. Resultado: esse aumento da criminalidade, assim como a revolta contra a mudança dos currículos escolares para introduzir neles a nova ortodoxia, tornaram-se em temas de campanha eleitoral com resultados palpáveis já em alguns referendos locais e resultados previsíveis na eventual perda da maioria democrata nas duas câmaras do Congresso. |
Porém, como escreve Ruy Teixeira, “tornou-se cada vez mais evidente que o mundo onde as pessoa woke habitam tem pouco a ver com a forma de pensar das pessoas comuns”. O mundo político, e os democratas, já começaram a acordar para esta realidade, mas os jornalistas, como os académicos, continuam fechados nas respectivas bolhas das novas ortodoxias identitárias e sectárias. Isso em parte também explica porque é que a minoria latina, que Ruy Teixeira tinha previsto, numa obra famosa, The Emerging Democratic Majority, iria tornar-se demograficamente dominante e, por isso, dar maiorias sucessivas aos democratas, está hoje a votar cada vez mais nos republicanos. Em 2016 ainda o ouvi numa conferência no Center for American Progress e nessa altura pareceu-me que ele não estava ainda ver o que aí vinha com Trump – como cientista político tudo indica que aprendeu desde então. Muitos jornalistas é que não. |
A polarização não nasceu do nada, nem é só fruto do discurso simplista, quase primário, boçal mesmo, de líderes como Bolsonaro ou Trump (“Esta crescente polarização não começou com a direita, com Trump ou com Bolsonaro”, notou mesmo Bruno Cardoso Reis em A ameaça do populismo e da hiperpolarização na política internacional). A polarização é também consequência de uma dramatização do discurso mediático que toma as dores de uma suposta “defesa da democracia” quando na verdade está apenas a inclinar-se para um dos lados e a colocar os termos do debate na dicotomia radical ditadura/democracia, algo impensável no tempo em que havia uma genuína preocupação com a moderação. Só que, como recordou Rui Ramos em Quando a democracia é escolher entre os piores, de há uns anos a esta parte que começámos todos a deplorar o “centrão” e a desmerecer a ideia, porventura muito anglo-saxónia, de que “the center must hold”. Em países como o Brasil isso não aconteceu e se quisermos ter uma ideia do que foi para alguém moderado e honesto optar em quem votar nesta eleição imaginem que, entre nós, só nos dariam a escolher entre um Ventura mais boçal e um Sócrates mais esquerdista. |
Por isso mesmo nós, jornalistas, não podemos enfiar a cabeça na areia e pensar que o problema é dos políticos quando, na realidade, os políticos são muito condicionados pelo que escolhemos noticiar e comentar. Mais: temos de ter noção de que no Brasil quase metade da população não seguiu a inclinação da elite jornalística, visceralmente anti-Bolsonaro, algo previsível se pensarmos que 54% da população opta por nem sequer seguir os noticiários e que 64%, quase dois terços, prefere as redes sociais como fonte de informação aos órgãos de informação tradicionais (dados de Rodrigo Carro no mais recente Digital News Report da Reuters). |
Nos Estados Unidos políticos como o governador (republicano) da Flórida, Ron DeSantis, já começa a medir o acerto das suas decisões e do seu discurso pelo grau de crítica gerada nos meios de informação tradicionais (leiam The Media Bias Paradox), o que nos devia fazer parar para pensar. Aparentemente a nossa adesão às “boas causas” não permitem aquilo que o jornalista devia voltar a fazer, pelo menos de vez em quando: sair da estrada, subir à colina, e tentar ter uma ideia de conjunto e não apenas do nosso pequeno mundo. Dizem que é por causa da “bolha” mas suspeito que a “bolha” começa a ter as costas muito largas. |
Entretanto o eleitor comum insiste em ir por outros caminhos. Será que não devíamos reflectir sobre isso? Mais: será que nós, jornalistas, não nos tornámos também parte do problema, parte desta crise da democracia? |
Sobre o comunismo, sem filtros |

|
Esta sexta-feira, no Contra-Corrente da Rádio Observador, discuti a decisão de Augusto Santos Silva de não autorizar a exposição “Totalitarismos na Europa” na Assembleia da República, uma exposição didática e simples que já passou por 19 países e, em Portugal, por 8 cidades (está agora em Pombal). O debate – O país onde o Parlamento ainda protege ditaduras que pode ser ouvido em podcast – foi vivo e interessante, naturalmente com a Helena Matos mas também com o historiador José Miguel Sardica, com a editora Zita Seabra e com o director executivo do Instituto +Liberdade André Pinção Lucas. Acabámos a falar sobretudo sobre a tragédia da ilusão comunista, até por a resistência à exposição vir da esquerda que continua sem entender o horror da experiência soviética. No programa falámos de vários livros e alguns ouvintes pediram para que recapitulássemos as nossas sugestões de leitura. Por isso aqui ficam elas: |
- As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, foi a primeira referência obrigatória. Este estudo incide sobretudo sobre os regimes nazi e soviético, mas recua até à a ascenção do anti-semitismo na Europa oitocentista para que melhor compreendamos os pesadelos do século XX europeu.
- O Livro Negro do Comunismo, uma obra colectiva organizada pelos historiadores Nicolas Werth e Stéphane Courtois, é indispensável para se ter uma visão de conjunto de todas as experiências comunistas e perceber que a repressão e as perseguições não foram um acidente, antes uma forma de identidade. Julgo que a edição portuguesa já não está disponível.
- Os Filhos da Rua Arbat, de Anatoli Ribakov, uma novela extraordinária que segue o percurso de um revolucionário que acaba por cair na teia das purgas estalinistas. Também já não está disponível no mercado livreiro português.
- O Homem que gostava de cães, de Leonardo Padura, é uma ficção que reconstitui a vida do assassino de Trostky. Tem momentos em que permite ver o comunismo por dentro, pela perspectiva dos crentes, o que resulta muito revelador.
- Gulag – Uma História, de Anne Applebaum, é o mais recente e rigoroso levantamento sobre o que foram e para que serviram os campos de trabalho na União Soviética, campos esses que foram criados ainda com Lenine, campos que não eram campos de extermínio organizado com alguns dos campos nazis, mas mesmo assim campos onde a taxa de mortalidade era elevadíssima.
- Koba, o Terrível, de Martin Amis, uma abordagem sui-generis à figura de Estaline escrita por um notável romancista, filho do também escritor Kingsley Amis. Nesta obra o autor procura precisamente perceber como é que o seu pai pôde ser tantos anos um convicto estalinista e porque é que na Europa tantos intelectuais foram seduzidos pelo comunismo.
- Hitler (versão em português num volume, versão inglesa em dois volumes, Hubris e Nemesis), de Ian Kershaw, uma das melhores biografias Hitler mas onde o autor considera que antes de o líder nazi cometer as suas atrocidades já tinha tido em quem se inspirar: Estaline.
|
Há naturalmente muito mais obras, algumas porventura mais importantes das que foram referidas neste programa, mas estas ajudam a perceber porque é que a nossa Assembleia da República prestou um mau serviço à democracia ao recusar acolher a exposição sobre os totalitarismos do século XX. |
A guerra na Ucrânia é um genocídio? |
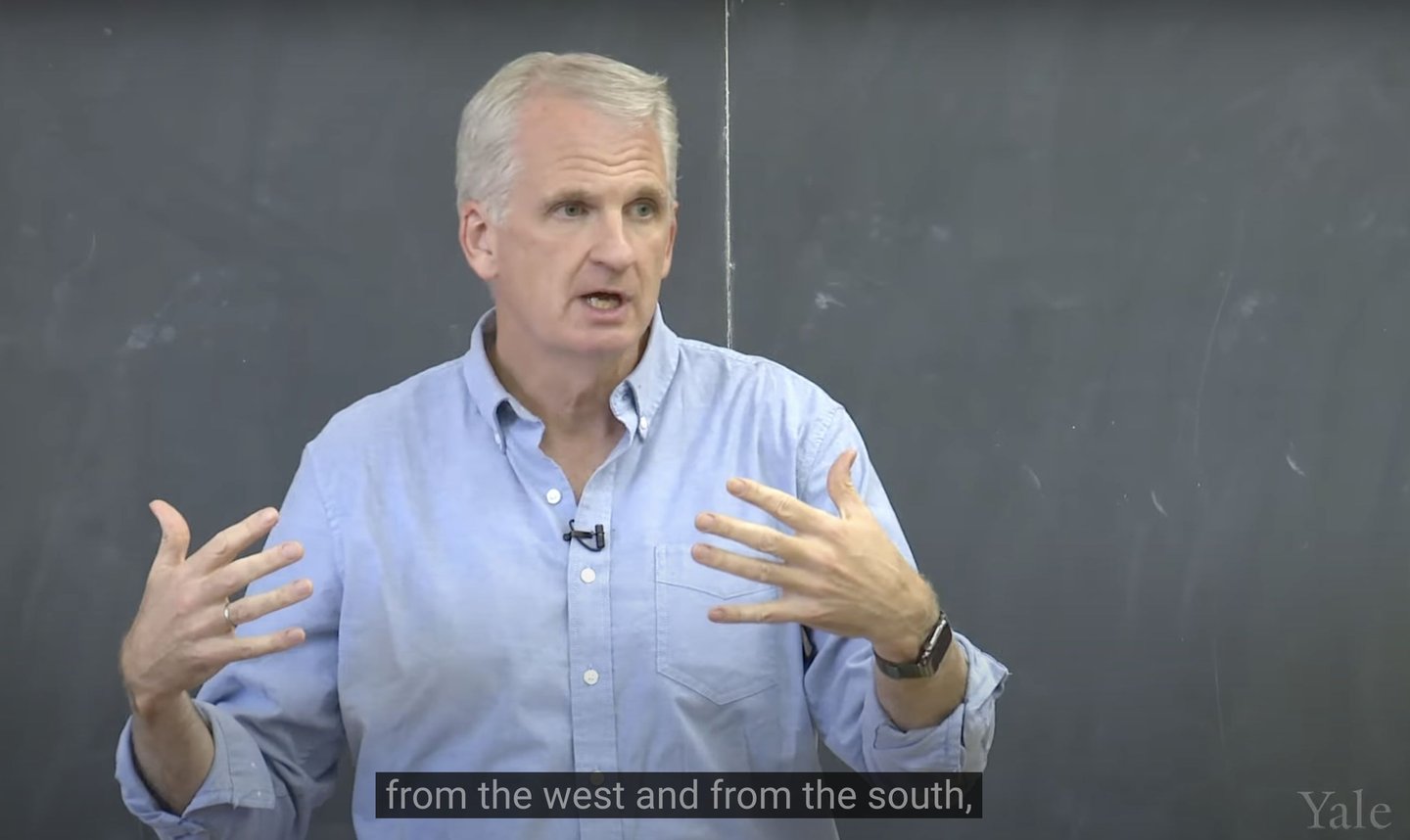
|
Hoje volto a recomendar um podcast – e volto à Ucrânia e à guerra na Ucrânia. Regresso também a Timothy Snyder, um historiador que já referi por mais de uma vez. Neste caso concreto recomendo-vos que oiçam The War in Ukraine and the Question of Genocide, uma aula/palestra onde ele trata de demonstrar que aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia corresponde à definição de genocídio, e que se ainda não percebemos isso o problema é nosso. Eu concordo. |
Já agora, e como estamos com Timothy Snyder, as suas aulas na Universidade de Yale sobre a história da Ucrânia estão a ser disponibilizadas no YouTube (The Making of Modern Ukraine). São já 16 aulas, a última sobre extermínio e limpezas étnicas na década de 1940. Estou a começar a vê-las e garanto-vos que valem a pena. |
Já alguma vez foram pescadores? |
Aqui há muitos anos, quando escrevi, e o Maurício Abreu fotografou, um livro sobre o litoral português, saí muitas vezes em barcos de pesca artesanal, à sardinha, ao polvo, ao atum. Mas para além da recordação divertida de um pequeno polvo que me ofereceram numa dessas saídas, e que como que voltaria à vida horas depois agarrando-se à mão de quem o queria para um arroz, nessas experiências percebi que se aquele modo de vida tinha o seu encanto e a sua arte, era também para muitos, para quase todos, um modo de pobreza. Diferente é agora a minha experiência quando, ao passear pelo arribas e pelas praias deste extremo ocidental da Europa, quase nunca deixo de encontrar quem lance ao mar a sua linha esperando uma qualquer recompensa na ponta. Por vezes avisto estes pescadores em lugares que nem imagino como lá se chega, outras vezes cruzo-me com eles nas praias, tantas vezes já depois do sol ter desaparecido. Já me aconteceu até encontrar, certo dia, dois homens que lutavam para tirar do mar, e tiraram, uma gloriosa dourada que devia pesar mais de três ou mesmo quatro quilos, mas nunca me acontece mais do que isso: avisto-os, cruzo-me com eles, mas nunca me deixei ali estar, à espera como eles. Nem sei se conseguiria, menos ainda sei se descobriria o encanto da pesca ou a sua arte – talvez seja um ser demasiado apressado para horas de contemplação. Acontece porém que gosto de vê-los, de vez em quando de os fotografar. Como ainda esta semana. |
|

|
Gostou desta newsletter? Quer sugerir alguma alteração? Escreva-me para jmf@observador.pt ou siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957). |
Pode subscrever a newsletter “Macroscópio” aqui. E, para garantir que não perde nenhuma, pode assinar já o Observador aqui. |
José Manuel Fernandes, publisher do do Observador, é jornalista desde 1976 [ver o perfil completo]. |
|