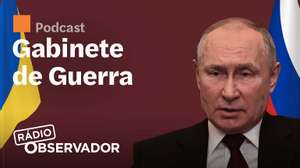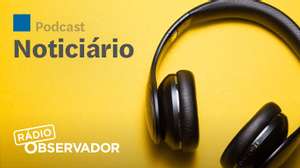Tornou-se um lugar-comum em Moscovo repetir que a Ucrânia é uma proxy do Ocidente para enfraquecer a Rússia. A ideia é do Kremlin, mas não deixa de ter um conjunto significativo de porta-vozes no Ocidente. Segundo a lógica de Moscovo, Washington e o seu braço armado, a NATO, usam Kiev para atacar a Rússia. Um objetivo há muito engendrado pelo Ocidente que, segundo a mentalidade de cerco que se vive por estes dias nas mais altas cúpulas do Kremlin, nada mais fez desde a implosão da União Soviética do que congeminar planos para impedir a Rússia de cumprir o seu destino glorioso. Por outras palavras, a Rússia não é uma grande potência porque os Estados Unidos não deixam. Ou melhor, na linguagem do Kremlin, a Rússia é uma grande potência, apesar das tentativas ocidentais para a impedir.
Desde o primeiro momento que esta guerra não é apenas contra a Ucrânia. Aliás, no discurso de Vladimir Putin no Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica, a 9 de maio de 2022, dois meses e maio depois de ter começado a “intervenção militar especial”, o inimigo “Ucrânia” praticamente desapareceu. A incapacidade de chegar a Kiev levou Putin a reformular não só os seus objetivos de guerra – retirou-se do caminho para a capital e concentrou-se no Dombas – mas também a mudar a hierarquia das inimizades. A partir daquela data o mais perigoso contendor da Guerra na Ucrânia passou a ser os Estados Unidos, com dois braços armados – também eles hierarquicamente estabelecidos. Primeiro a NATO, com os epítetos que se lhe conhecem, seguida dos “nacionalistas ucranianos” que se recusam a reconhecer a soberania russa sobre os seus territórios. Destes, os mais proeminente são os “neonazis”, que acordam no espírito da população russa o inimigo vencido no momento mais glorioso da nação.
A verdade é que esta mudança de visão do conflito e a redução da existência de Kiev como inimigo da Rússia tem exatamente o efeito contrário à narrativa oficial de Moscovo. A Ucrânia é, em parte, uma guerra por procuração. Mas é uma proxy da Rússia contra os Estados Unidos e o Ocidente, e não o contrário.
Senão vejamos: em primeiro lugar, esta guerra acontece num momento em que os Estados Unidos estavam concentrados na China, nomeadamente na competição com Pequim pela transição de poder. Desde 2017 que esta realidade é declarada e foi sublinhada pela administração Biden em vários discursos e em todos os documentos estratégicos por ela publicados. Mas a disputa contra a China – como é típico nas transições de poder – é também pela manutenção de um conjunto de regras internacionais vigentes, entre elas as que emanam da Carta da Nações Unidas que a Rússia violou grosseiramente na invasão à Ucrânia. Sendo os Estados Unidos os guardiões dessa ordem e estando em risco de segurança os seus muito próximos aliados europeus e da própria democracia, a credibilidade internacional de Washington depende (também) do apoio à Ucrânia. Assim, a decisão foi – cautelosamente, tentando evitar escalada – envolver-se no conflito por todos os meios menos a presença militar. Mas os recursos extraordinários que Washington tem despendido enfraquecem o país os olhos dos seus rivais, especialmente Pequim, que desta forma, beneficia do conflito.
E, provavelmente, a ausência no campo de batalha está essencialmente relacionada com receios de que a China – mais importante para os EUA que a Rússia – façam o mesmo em Taiwan. Os Estados Unidos sabem que o seu declínio relativo não lhes permite estar em dois cenários de guerra e escolheram antecipadamente o asiático. A lógica de desafiar a China e a Rússia ao mesmo tempo não só não faz qualquer sentido, como prejudica substancialmente os objetivos americanos. A reação americana é a esperada, mas não foi provocada pelos Estados Unidos que armam a Ucrânia, mas deixam Kiev tomar as decisões essenciais. Pelas razões apontadas, Washington teria preferido que esta invasão não acontecesse.
Em segundo lugar, não há qualquer discurso na Rússia que não seja de acusação aos Estados Unidos. Washington e Biden são uma espécie de justificação para qualquer comportamento errático de Moscovo. Até para a Rússia ter invadido a Ucrânia. A lógica é a seguinte: a NATO é a ameaça existencial à Rússia e parte da razão da “intervenção militar especial” terá sido afastar a Aliança Atlântica que seduzia Kiev. O problema é que a NATO tinha fechado o dossier Ucrânia na Cimeira da Bucareste em 2008. Se agora o reabriu, foi porque Vladimir Putin obrigou a mudanças profundas na Europa, que vê agora a sua segurança indexada à segurança ucraniana e as suas fronteiras de segurança na linha territorial que separa Kiev de Moscovo (onde quer que ela fique). Quando o conflito terminar, a Ucrânia será defendida por países da NATO, quer esteja dentro ou fora da Aliança Atlântica. E isso é resultado não de uma intervenção norte-americana, mas da Guerra de Putin.
Finalmente, desde Putin começa o seu terceiro mandato, em 2012, toda a sua política externa gira à volta do ressentimento contra o Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular. É certo que os dois estados nunca foram amigos, mas havia aquilo que em política internacional se chamava uma paz Lockeana. Cada um vivia com a existência do outro, apesar de provocações de quando em vez. Joe Biden chegou a reconhecer à Rússia o estatuto de grande potência na última cimeira entre os dois líderes antes da guerra, em junho de 2020, em Genebra. Queria evitar que a Rússia – com a qual pensou que podia conviver apesar dos excessos expansionistas – se ligasse à China, que para os EUA tem uma existência muito mais ameaçadora e difícil de aceitar. Assim o presidente americano cedeu. Foi ao encontro dos desejos do rival menos forte, reconhecendo-lhe direito de esfera de influência, dentro dos limites aceitáveis internacionalmente. Não foi suficiente. Putin quis trazer a guerra e a instabilidade internacional ao coração das democracias e à vida ocidental. Conseguiu. Usando a Ucrânia como bem lhe aprouve. Usando a Ucrânia como uma guerra de procuração.