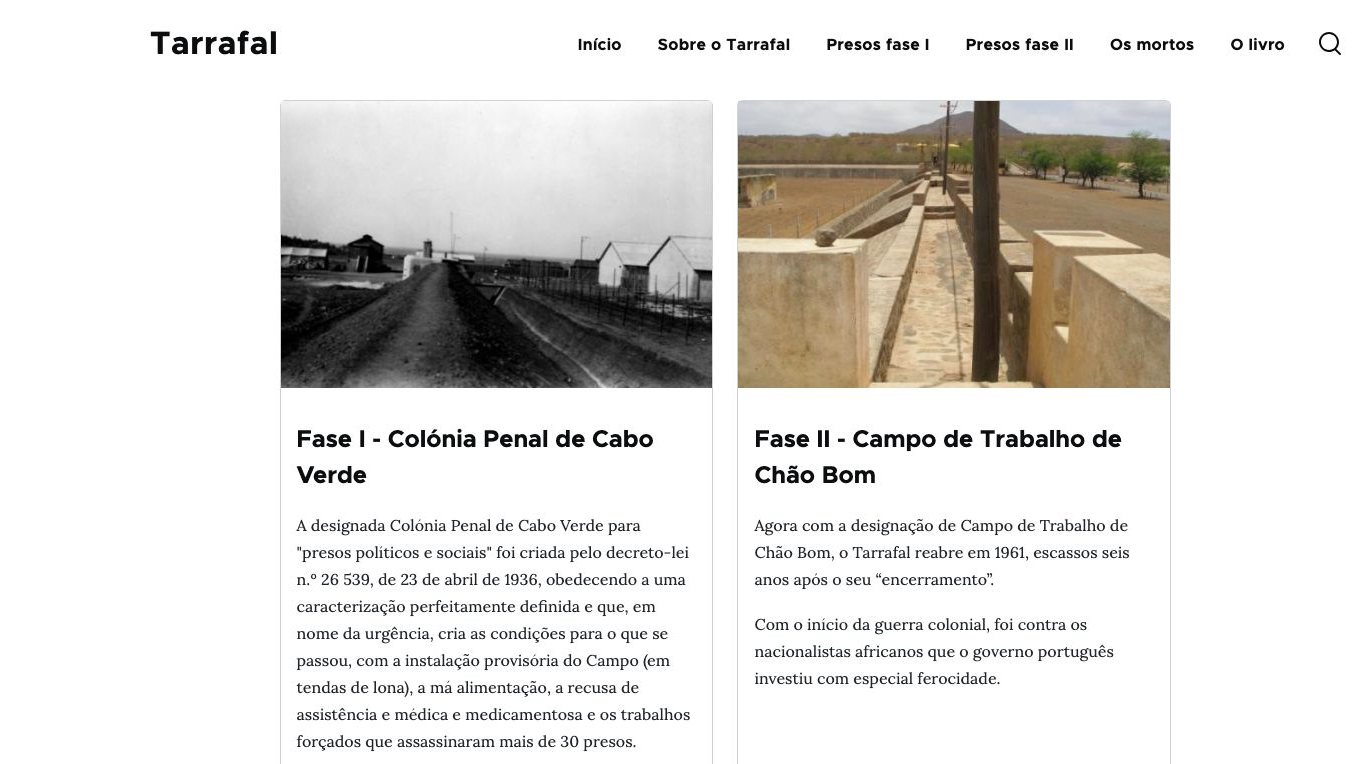Em 1930, Chesterton fez a sua segunda visita aos Estados Unidos da América. Entre as ideias que então fervilhavam no grande caldeirão americano, preparando-se para transbordar para outras zonas do globo, uma em particular chamou a atenção do autor: a mentalidade do Advertisement.
O texto que dá conta disso chama-se “The American Ideal”. É um ensaio que não ocupa mais do que cinco páginas, publicado originalmente em Sidelights on New London and Newer York. A tese é a de que os americanos, possuidores de notáveis qualidades naturais, têm sido “deliberada e dogmaticamente ensinados a ser arrogantes”; e o resultado é uma obsessão cada vez mais notória com a auto-promoção. Chesterton sublinha o facto de categorias próprias do comércio, em particular a vontade de vender, estarem a ganhar um protagonismo inaudito, tanto na vida social como na maneira de cada indivíduo se compreender a si mesmo. Ler o ensaio em 2023, perto de uma ponte romana sobre o Rio Lima na qual adolescentes posam para selfies com o intuito de espalhar online o esplendor dos seus méritos, provoca gargalhadas — mas também nós no estômago, nem sempre fáceis de desatar.
Percorrendo os quase cem anos que passaram desde o texto até ao momento presente, a normalização da “filosofia da auto-publicidade” assinalada por Chesterton é uma evidência. E uma evidência particularmente evidente no modo como as palavras do ensaio envelheceram. Veja-se como, num declarado esforço de caricaturista, Chesterton escreve a certa altura: “What should we think of any person of taste who went about wearing a placard inscribed ‘Please note quiet charm of my personality’? Depois da profissionalização do Marketing e na era das Redes Sociais, a hipérbole perdeu todo o sentido hiperbólico. A caricatura fez-se facto; a realidade ultrapassou a fantasia. Talvez nunca tenhamos visto ninguém com um placard a dizer “Please note quiet charm of my personality” mas assistimos dia após dia a exibições de auto-promoção que fazem a frase de Chesterton corar de embaraço.
Fulanos que penteiam o eu digital com a dedicação de um trabalho full-time, mendigando aplausos anónimos. Sicranos que, quer estejam numa entrevista de emprego, quer tenham a experiência mais íntima da sua vida, expõem ao público feitos e façanhas, o pudor espezinhado sob os pés. Até instituições respeitáveis — instituições cuja finalidade parece casar mal com a ideia de vender-se a si mesmo — contribuem para a festa, tornando-se antros de auto-publicidade. Um dos exemplos mais caricatos é o da Academia. O facto de o sistema de avaliação no mundo académico seguir agora uma lógica quantitativa, que privilegia o número de publicações, e não tanto uma lógica qualitativa, promove uma caça ao currículo ideal que põe muitas vezes os doutores em estado de competição, incentivando ainda mais o carreirismo e a dinâmica publicitária que lhe inere. Onde era suposto reinar a serenidade do estudo, vigora o frenesi da propaganda. E eis o templo da ciência transformado num lugar em que os sábios se acotovelam para chegar à frente, numa fúria de “experiências pedagógicas relevantes” e currículos no ar!
Tudo isto tem o seu quê de cómico. Mas o fenómeno pode ser visto em tons mais perturbadores se voltarmos à imagem dos adolescentes limianos na ponte romana e, atrás dessas poses ridículas nas quais reconheceremos apenas o atribulado processo do crescimento humano, prestarmos atenção às formas de auto-compreensão que as novas práticas sociais estão a moldar. Quem convive de perto com jovens sabe do que falo: uma necessidade intensa de validação, fundada na ideia de que o valor de uma pessoa depende do veredicto do público. Não se trata apenas de ficar derretido quando a vaidade aquece, de um desejo de palco mais ou menos exacerbado. É algo mais radical: a dependência da aprovação exterior para legitimar-se a si mesmo. Para — como diz a expressão comum, tremenda na sua formulação plácida — “ser alguém”.
A velha paixão pelo reconhecimento foi dotada de extensões novas, múltiplos braços digitais que lhe permitiram alargar o seu império e exercer pressão em lugares dantes relativamente resguardados. Onde descansa agora dos olhares alheios o adolescente que cresceu a acreditar que permanecer conectado é um imperativo moral? Com o deus de sete polegadas na mão, nenhuma situação está a salvo — nem sequer as horas, outrora solitárias, em que ele espera a chegada do autocarro no tédio da cidade, em que a luz do próprio quarto já está apagada. Produz-se assim uma nova normalidade, na qual a necessidade de abrilhantar a imagem tem a força de um ritual tribal; e tudo isto pode significar na prática um retrocesso em relação a uma conquista com muitos séculos, a ideia de que cada pessoa tem, de raiz, por existir, uma dignidade infinita. Se gostamos tanto de olhar para a América, aqui está uma boa ocasião para olharmos para a América: os números da perturbação adolescente são assustadores, lá, e mostram quão negro é o buraco que esta sorridentíssima cultura da auto-publicidade procura esconder.
Enquanto os nossos amigos limianos riem na ponte romana, entre comentários galhofeiros e gritinhos estridentes, muitos jovens da mesma idade cortam os pulsos nos seus quartos, onde câmaras invisíveis os olham como implacáveis consultores de imagem. Desamericanizar é preciso, apetece dizer. Comer e calar não é preciso, apetece acrescentar.