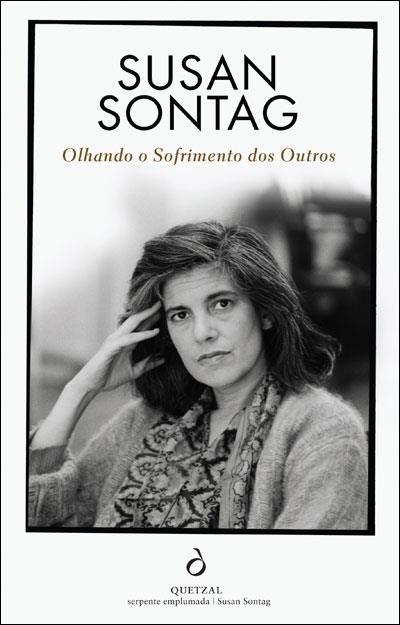Título: Olhando o Sofrimento dos Outros
Autor: Susan Sontag
Editora: Quetzal
Páginas: 125
Preço: 14,40€
Fried Stamm anda pela Europa a colar cartazes e fotografias de grande formato. Mas, ao contrário do que é habitual, procura fazê-lo sempre em ruas secundárias, onde as suas imagens não têm de concorrer com a publicidade, com as luzes de toda a ordem, com o caminhar apressado dos transeuntes. Cola-as onde elas são inesperadas, onde os que caminham têm olhar mais disponível para as ver. Fried Stamm quer convocar a desordem, mas sabe que os olhares já não olham. Fogem de imagem em imagem e nada veem. Milésimos de segundo é o máximo de tempo que hoje despendemos numa imagem, por isso Gonçalo M. Tavares criou esta personagem no romance Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai — para que possamos refletir em como nos tornámos imunes às imagens, nomeadamente às imagens de sofrimento.
É sobre esta atual (in)capacidade de olhar o sofrimento dos outros que a ensaísta norte-americana Susan Sontag (1933-2004) se debruça, naquele que foi o seu último livro, e que é agora reeditado pela Quetzal. Publicado originalmente em 2004, antes da morte da autora, Regarding the Pain of Others (Olhando o Sofrimento dos Outros, na tradução portuguesa) fecha um conjunto de obras dedicadas ao pensamento sobre as imagens e ao seu papel na cultura, na política, na existência individual. O seu ensaio Sobre a Fotografia, escrito em 1977, e também editado na Quetzal, é já um clássico sobre este tema.
O mundo chega-nos através de imagens e as imagens podem matar, tal é o seu poder siderante e alucinatório sobre os homens. Vários mitos mostram isso. Desde Actaeon, que por olhar Diana, a deusa, é castigado e devorado pelos próprios cães, até Medusa, que petrificava quem a olhasse, ou Narciso, que morreu afogado na sua própria imagem refletida na água.
Mas o ato de ver também nos dá a sensação de segurança e de proteção. Aquilo que vemos deixa de ser desconhecido, aterrorizador. Passa a ser uma imagem, passa a ser visível, logo, dá-nos uma certa sensação de controlo sobre a realidade. Por isso, toda a História humana passa pela criação e aperfeiçoamento de instrumentos óticos, máquinas que aumentem, como próteses, a capacidade dos nossos olhos e, por fim, máquinas que capturem imagens do mundo, mas que mantenham esse mundo, essa realidade, à distância.
Durante séculos, o mundo foi desenhado e pintado até aos mínimos detalhes, mas nunca, até à invenção da fotografia, o Homem tinha conseguido tanta intimidade com as imagens. A realidade está ali, basta apontar a lente e carregar num botão. Parece uma arma de matar, mas é uma arma de ver. Captura-se uma imagem fugaz e faz-se dela eterno presente. Se pensarmos bem, uma boa parte das tecnologias das quais nos rodeamos neste século XXI são máquinas de fabricar e ver imagens. A nossa obsessão coletiva pela imagem explica-se, segundo Sontag, porque uma fotografia dá-nos a ver o visível e o invisível, o material e o imaterial.

As primeiras fotografias de um conflito foram feitas pelo fotógrafo britânico Roger Fenton na Guerra da Crimeia (1853-1856)
Das fotos de rostos de soldados mortos feitas por Roger Fenton na Guerra da Crimeia, a primeira com registos fotográficos, às fotos de Robert Capa na Guerra Civil Espanhola; das imagens filmadas por Abel Gance de soldados desfigurados na Primeira Guerra Mundial às fotografias feitas a cor por Larry Burrows nas aldeias do Vietname; foram precisas várias décadas até a fotografia se tornar o principal género jornalístico e o elo mais forte entre leitores, sobretudo ao criar a ideia de que nenhuma outra narrativa nos conduziria a uma experiência tão forte com a realidade.
E no entanto, essa realidade é sempre um lugar longe de mais. Este é o núcleo da tese de Sontag: tornamo-nos espetadores do mundo, e banqueteamo-nos com jantares sangrentos em frente às imagens da televisão, dos jornais, das revistas e, mais recentemente, da internet. Há sempre uma lente, um ecrã entre nós e aqueles que naufragam a uns metros da costa, aqueles que são chacinados, que agonizam em guerras e catástrofes por esse mundo fora.
Quando vemos o sofrimento dos outros apenas conseguimos sentir-nos mais seguros, mais protegidos — e, de seguida, mudamos de página ou de canal. A dor dos outros ganha, a pouco e pouco, o mesmo caráter ilusório de um filme. Neste mundo hiperpovoado de imagens, será que podemos ainda sentir alguma coisa que não tédio?
O sofrimento como espetáculo
As fotografias das guerras e catástrofes mais não fazem do que atualizar a imagem icónica da nossa cultura: Cristo na cruz, o sofrimento concreto da carne humana para dar a ver a existência incorpórea do divino. Daí a facilidade com que foram integradas no nosso quotidiano. Afinal, vivemos numa civilização que se ergueu (e se redimiu) perante a imagem de um homem a morrer crucificado. Se houve algo que a Igreja Católica percebeu, foi o poder que as imagens têm sobre as almas e os corpos — poder esse que foi depois sabiamente aproveitado pelas sociedades capitalistas, que usam as imagens para acionar o desejo dos consumidores.
Centrando a sua abordagem em torno das imagens de guerra e na forma como elas têm vindo a perder impacto na experiência humana, Susan Sontag defende que por mais chocantes, repulsivas, terríficas que sejam as imagens fotográficas ou cinemáticas, elas não deixam de pertencer ao mundo do espetáculo.
Há, portanto, que investir os fotógrafos de guerra e de catástrofes da missão de conseguir mostrar os extremos do horror. É essa a forma de se manterem os espetadores saciados de caos e felizes pela sua ilusória vida segura, tão mais segura quanto essas guerras forem longínquas, entre povos exóticos.
“Ser espetador de calamidades que se passam noutro país é uma experiência moderna quinta-essencial, a oferta cumulativa de mais de um século e meio destes turistas profissionais, especializados, a que se chama jornalistas. As guerras são agora também imagens e sons da sala de estar: if it bleeds, it leads (se há sangue, há notícia)”, escreve a autora.
A censura das imagens
Paradoxalmente, desde o ataque ao World Trade Center, em 2001, que há, por parte dos governos, uma nova política de proibição de imagens. Cada vez são colocados mais constrangimentos aos jornalistas que fazem a cobertura de guerras e, em nome do “bom gosto”, muitos media estão a adotar o mesmo tipo de censura.
Assim, se, por um lado, a sofisticação tecnológica permite a captura e difusão de imagens a uma velocidade alucinante, por outro, os governos estão a censurar muitas delas, nomeadamente em cenários de conflito, alegando a eficácia de coisas como “guerras cirúrgicas” ou “operações limpas”, e escondendo dessa forma as faces mais trágicas das guerras, que são as vítimas civis.
Perante esta contradição, Sontag defende que é mais importante mostrar do que esconder. Cair na armadilha do embotamento do espetador, mas não na armadilha da sua ignara segurança. Para a autora, ainda bem que há câmaras de fotografar e filmar nestes locais, porque a experiência da dor, do sofrimento, sendo a mais universal de todas, pode sempre ficar alojada na memória individual. Ainda que só por si não possam mostrar nada sobre a tremenda experiência que é a guerra, as fotografias carregam sempre a remota possibilidade de construir uma opinião pública.

Primeiras fotos a cores da Guerra do Vietname, que chocaram a América e terão contribuído para o surgimento dos protestos contra o conflito
Lançando o olhar sobre mais de um século de fotografia, Susan Sontag conclui que o papel das imagens como potenciadoras de violência, como mobilizadoras dos indivíduos contra as guerras, ou como intensificadoras da sensibilidade das sociedades face ao sofrimento dos outros é uma utopia. A fotografia não salva, mas o bloqueio à captura de imagens será sempre pior e mais perigoso do que a sua divulgação.
Por mais inertes que estejamos, é preciso que continuemos a ver, a olhar o sofrimento dos outros, para que ele não seja apagado da história, e para que não nos afoguemos, como Narciso, no fascínio da nossa própria imagem.