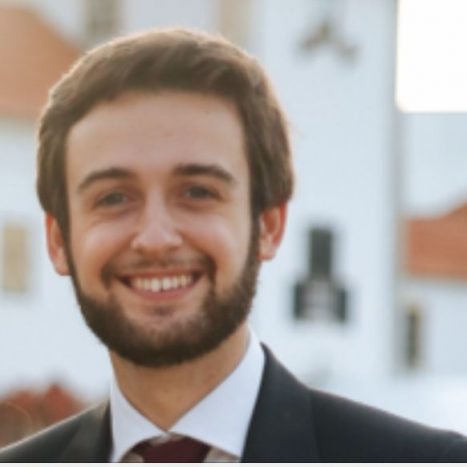Título: O Anjo Camponês
Autor: Rui Nunes
Editora: Relógio d’Água
O que é que leva alguém a dificultar propositadamente a compreensão daquilo que quer dizer? Ao ler O Anjo Camponês, e mesmo que não seja este propriamente o assunto do livro, é esta a pergunta que domina a leitura.
Claro que a pergunta poderia estar minada por uma objeção clara e verdadeira: o defeito pode não estar no livro, mas em quem o lê – Rui Nunes pode estar a ser cristalino, embora o nosso cérebro baço não alcance aquilo que ele explica. É um caso comum: num ensaio de resposta a um crítico que comparava o seu hermetismo com o de Kant, Hannah Arendt também dizia que pouco podia acrescentar: se o crítico achava Kant opaco, ela, que o julgava claríssimo, em nada podia ajudar. Pode dar-se o caso, realmente, de Rui Nunes tratar de assuntos complexos e que a complexidade da prova não venha dela mas do assunto; também se pode dar o caso de o assunto nem ser complexo, mas a nossa cabeça não chegar para mais. Não iremos, para já, excluir esta hipótese, de não termos arcaboiço para perceber o assunto ou o estilo; no entanto, mesmo que no caso concreto possa não existir uma complicação propositada, a pergunta pode manter-se: o que é que pode levar alguém a dificultar, de propósito, a vida aos seus leitores?
A pergunta, que parece uma acusação, pode ser sincera. Há, de facto, uma série de razões legítimas para isso, que têm sido explicadas por copiosos teóricos da arte contemporânea. Umberto Eco explica na sua Obra Aberta que entre quem revela e quem escuta há uma série de aspetos que se perdem na transmissão, e que a alternativa contemporânea passa por deixar abertas possibilidades de sentido; Ortega y Gasset vê na arte contemporânea a negação da linearidade burguesa, em que a obra de arte procura produzir um desconforto e chamar a atenção para o sem número de assunções preguiçosas do nosso ponto de vista. Foucault estudou a opressão da racionalidade e a forma como o sentido é mais uma prisão arbitrária do que uma necessidade do espírito. De facto, negar o sentido, a linearidade, a narrativa, poderia ser uma forma de alargar o espírito.
Todas estas ideias, aliás, nos parecem legítimas e suficientes para perceber um projeto na obra de Rui Nunes. À pergunta que começámos por fazer, podíamos então responder com uma invejável biblioteca pós-moderna, que aliás tem belíssimos exemplos no romance.
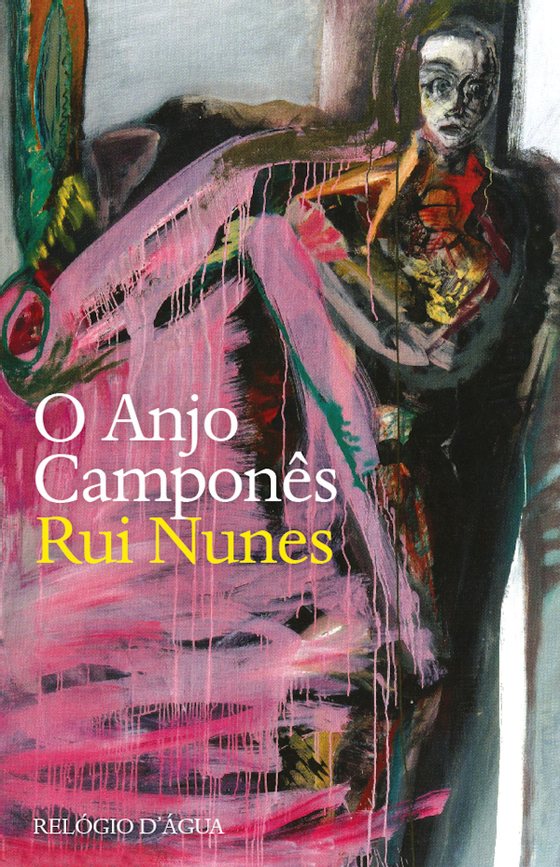
A capa de “O Anjo Camponês”
A ideia da Obra Aberta é uma excelente ferramenta para ler Kafka, em que há sempre uma causa fundamental que está escondida. K., no processo, é acusado de quê? E no Castelo, o que é que impede de avançar. Ou, na toca, qual é verdadeiramente o perigo? Há um elemento em aberto que, qualquer leitor de Kafka o sabe, é desconfortável. Os duplos sentidos, a ideia de que o leitor está permanentemente em dúvida, num lugar escorregadio, são realmente características literariamente interessantes, que estão presentes n’O Anjo Camponês. As personagens não nos são apresentadas, não sabemos bem ligar o fio da narrativa, nem percebemos a ligação entre cenas ou a quem atribuir pensamentos; tudo isto está em aberto, desafia a ordem natural e pode, como pretendia Ortega, levar-nos a pensar sobre os nossos próprios mecanismos de compreensão.
Tudo isso está muito bem e somos sensíveis à ideia. Também nos parecem inúteis as historietas que enchem o miolo dos livros e a mioleira dos leitores do nosso tempo. A sensação que nos dá a maior parte da literatura contemporânea é a de que nos estão a entreter com histórias de uma enorme artificialidade, com uma linguagem que grita ficção, no pior sentido, por todo o lado, e que nunca alcança sequer uma nesga de verdade. Percebemos, assim, que Rui Nunes queira fugir a isto, que as convenções dos diálogos e dos parágrafos descritivos lhe pareçam escolares e que já esteja enfartado de “ficção” no sentido lúdico e monótono que o romance comum nos dá.
Percebemos, também, que Rui Nunes, sensível a tudo isto, não procure simplesmente enganar a consciência, como parecer ser moda na ficção mais sofisticada. Gonçalo M. Tavares, por exemplo, faz (e fá-lo bem, diga-se!) no Reino algo parecido com isto: junta uma série de personagens em atitudes que nos parecem incompreensíveis e desligadas umas das outras, para no fim revelar de que maneira é que estão relacionadas. É, assim, uma espécie de policial do sentido, em que um dos motores para continuar a leitura é, não seguir a história, mas perceber qual é a história. Percebemos que Rui Nunes, embora jogando com o mesmo sentimento porque o leitor procura sempre o sentido para aquilo que está a ler, queira suprimir o final feliz. Afinal, a descoberta do sentido podia estragar a mensagem. Afinal esta é uma história como as outras, diria o leitor. Também ela é compreensível.
Ora, se Rui Nunes quer protestar contra a tirania do sentido ou da narrativa, então de facto não pode simplesmente protelá-lo para depois deixar a criança contente. Se Rui Nunes quer propositadamente dificultar a compreensão do miolo para facilitar a noção dos limites e dos vícios do nosso ponto de vista, fez aquilo que devia fazer.
A nós, porém, parece-nos que a ideia fundamental, por muito bem concretizada que esteja, é errada. Por muito que sejamos sensíveis a tudo aquilo que já enumeramos e que não julguemos melhor a alternativa da ficção levezinha e ingénua, não nos parece nem útil nem interessante usar a ficção para denunciar os mecanismos que a criam.
Quando T. S. Eliot publicou a Terra Devastada, Chesterton escreveu, numa espécie de crítica sem referir o livro, um belíssimo ensaio em defesa da rima. Eliot queixou-se aos amigos de que Chesterton o tinha lido apressadamente, porque de outra forma teria percebido que estavam muito mais próximos do que Chesterton julgava.
A História consagrou a Terra Devastada e o ensaio de Chesterton nada pode contra Eliot; no entanto, parece-nos útil fazer o mesmo exercício a respeito deste livro de Rui Nunes. Já não é a rima, mas é o sentido ou o romanesco que Rui Nunes abandona, e é isso que, a despeito da respeitável plêiade que o condena, me parece útil defender.
Em primeiro lugar, parece-nos que só o sentido ou a racionalidade é capaz de se destruir a si mesma. Isto é, uma obra pode ser aberta até um certo ponto, mas precisa de balizas. É o próprio Eco que o diz: um dicionário pode ter uma ordenação imprevisível de acordo com os pressupostos romanescos, mas não passa por isso a ser uma obra de arte. É possível deixar uma dúvida e a ficção alimentar essa dúvida; mas quando a dúvida abarca o todo, a obra de arte passa a ser apenas uma muleta. A verdade é que o texto de Rui Nunes só nos dá a ideia de que o fundamental é a denúncia das ideias tradicionais de sentido e de romanesco porque já o lemos noutros sítios. A obra, por si, é insuficiente; serve como émulo de Foucault e de Gasset, mas a verdadeira força está naqueles que usaram o sentido das palavras para o desmerecerem; naqueles que, com todo o sentido, explicaram a falta dele, não naqueles que o mostraram.
Pode também acontecer que o livro comungue de uma ideia interessante e anti-decadente que não é de rejeitar. Bourget explicava que a decadência literária consistia na literatura em que cada frase valia por si só; neste sentido, o livro de Rui Nunes não vale sequer por si só; vale por estar inserido em toda uma tradição de denúncia da narrativa e dos nossos mecanismos de interpretação.
O que é estranho na ficção deste género, porém, é que aquilo que podia ser uma ideia interessante – a ideia de que uma obra não está sozinha, de que é parte de um corpo que não é sequer exclusivo do indivíduo que a escreve – é subvertido no concreto. Isto porque a transformação do principal, não naquilo que está escrito, mas naquilo que a forma como está escrito mostra, torna quase irrelevante o conteúdo do livro. As várias passagens tornam-se, assim, ilhas, ganhando o sentido decadente que, no geral, rejeitam. Cada passagem é lida como um texto independente, com relações vagas com as outras passagens do mesmo livro, mas de tal maneira que o livro quase podia ser composto por estas ou por outras palavras completamente diferentes. Este tipo de escrita é feito de tal forma que todo o livro parece quase desnecessário para a compreensão do fundamental do livro. A ideia de que aquilo que estamos a ler não serve para percebermos o que estamos a ler, mas sim para percebermos um sentido maior que é o da nossa limitação compreensiva, torna os pensamentos interessantes – e há muitos, Rui Nunes tem uma cabeça filosófica – irrelevantes.
Por fim, não nos parece que o descobrimento dos nossos mecanismos de pensar force a ideia de que eles são arbitrários ou maus. A ideia de que, por descobrirmos que o nosso cérebro exige à leitura uma estrutura romanesca, descobrimos uma prisão só tem interesse se o que está lá fora for melhor. Rui Nunes, como a arte contemporânea, descobriu as paredes do pensamento. No entanto, é uma assunção algo precipitada gritar pela libertação. Afinal, uma prisão de facto tem paredes, mas uma casa também. Antes de pensar em partir as paredes, convinha espreitar lá para fora a ver se de facto há vantagem em sair. Aquilo que Rui Nunes nos dá é útil para quem está confortavelmente sentado em casa, julgando que o seu é todo o mundo que existe; mas aquilo que escreve, também, já não é a angústia de estar preso, como em Kafka. Rui Nunes decidiu soltar-se das narrativas, do romanesco, do sentido e da ordem natural do pensamento. A questão é que, passada a euforia da libertação, é difícil ficarmos contentes com o que sobra. E isso, de facto, Rui Nunes ainda não nos deu. O romanesco não é interessante, mas não basta destrui-lo, é preciso alternativa. Não nos contentamos com a destruição do que é mau, também precisamos do que é bom.