Começamos na acção, e logo qual: “O meu pai quis matar a minha mãe num domingo de Junho, ao início da tarde” (p. 11). Com isto, espera-se uma janela aberta para o território da família – a violência, os laços quebrados, o trauma, os pilares da vida transformados em ruínas. Nas primeiras páginas, Annie Ernaux mete-nos neste cenário de violência, e o leitor sente-se lá pelo que parece ser a estratégia narrativa – uma prosa que vai ao pormenor, que anula a distância entre leitor e texto. Exemplo disso é a menção a “um vestido dos que se lavam facilmente” (p. 11), um pormenor que poderia parecer escusado, mas que compõe o cenário ao compor a memória.
A narradora, anos, décadas depois, rememora aquele dia. Recorda que a “mãe estava de mau humor” e que a discussão com o “pai, iniciada por ela mal se sentara, continuou durante toda a refeição” (p. 11). Na sua vida, aquele momento torna-se inaugural. Há um antes e um depois: “Antes, existe apenas o deslizar dos dias, e datas escritas sobre o quadro da escola e nos cadernos.” Depois, há o resto da vida. A cena de violência é bruta, mas peca pela rapidez e por se tirar logo o leitor da cena. Ou seja, o que se fazia adivinhar nas primeiras páginas depressa perece. Num momento, temos o homem a agarrar a mulher pelos ombros, ou pelo pescoço, ante o olhar da filha de ambos. Na outra mão agarrava um podão de rachar lenha. A criança, ali estática, não se lembra “de mais nada a não ser de soluços, gritos” (p. 12). Especialmente traumática é a fronteira entre o horror e o amor: o pai, que a adorava, tentara matar a mãe, que a adorava.
O problema é que isto, por contundente que seja, morre cedo. A partir daí, Annie Ernaux entra numa prosa quase desconexa, composta por cenas soltas, ficando o leitor sem saber se há ali sequer o intuito de compor um todo orgânico. As primeiras páginas, que inicialmente parecem o mote para o romance, depressa se perdem em parágrafos soltos. A meio da leitura, vão ao longe. Finda a leitura, parecem coisa de outro livro. É que a autora francesa vai fazendo aqui, como já fez noutros livros, uma incursão na memória que não se extrapola, ou seja, que não tenta agarrar o leitor através de um fio. A memória compõe o romance, incluindo os buracos, e deixando a sensação de buraco a quem lê estas páginas. Como a informação dada parece aleatória, o leitor sente a discricionariedade, sendo-lhe difícil mergulhar no enredo ou na vida das personagens; sendo-lhe difícil, por isso, ligar-se por alguma relação empática à narradora que tenta seduzi-lo.
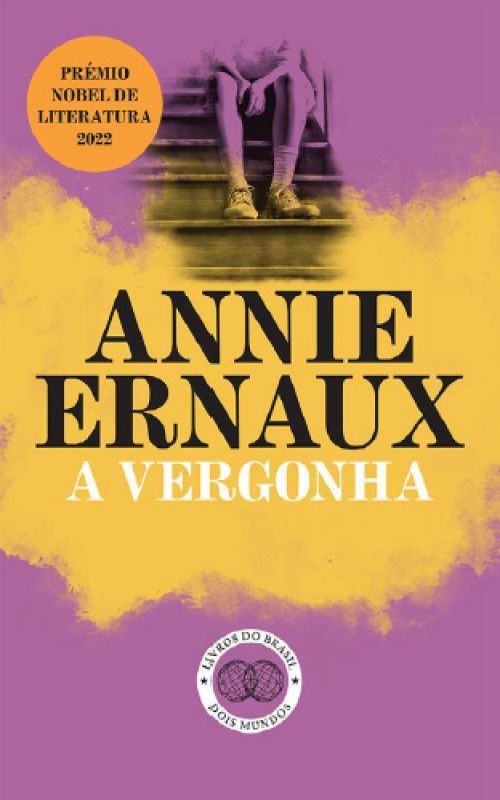
Título: “A vergonha”
Autora: Annie Ernaux
Tradução: Maria Etelvina Santos
Editora: Livros do Brasil
Páginas: 96
O principal problema será o da própria estratégia narrativa. Ao invés de criar uma coisa fora de si, Annie Ernaux olhou para dentro. O problema é que o que existe dentro, se não passar por um processo de transformação, tem pouco potencial para ganhar vida cá fora. E a autora, ao pegar num acontecimento da sua vida ocorrido em 1952 (e descrito em 1997), usou a sua memória, que só a si interessa, para dar ao leitor um texto que não tem imbuídas em si estratégias de manipulação satisfatórias. O que dar, quando dar, tudo isto parece não ter despertado interesse durante o processo de escrita, que resultou em pouco mais do que um registo diarístico de episódios. Como os episódios são curtos, toda a leitura sabe a resumo, a protótipo de prosa longa, a ideia a ser desenvolvida. O leitor nem fica em cena nem é arrebanhado por uma prosa que o deixe lá dentro. É que, mal se vê numa situação, Annie Ernaux puxa-o para outra, e a narradora começa cedo a existir como coisa ao longe.
Poderá haver o argumento de que, entre os fios parcamente ligados, existe uma intenção analítica, através da qual a narradora tenta mostrar de que forma, na sua vida, x levou a y, ou o justificou, mas a sua intenção sóbria derivou em pouco mais do que terreno árido, não deixando espaço de divagação ou de confronto para o leitor. O texto, quase analítico, parece despojado de gorduras, mas também de efeitos, existindo como coisa seca incapaz de dar espaço a coisa fértil. Para mais, o próprio intuito de criar ligações também parece cair por terra. Como tudo é aflorado, o leitor fica com a ideia de que as ligações casuísticas são aquelas como poderiam ser outras quaisquer.
A própria ideia de vergonha, que dá título ao livro, acaba por derivar em pouco. Sendo um assunto denso, seria, a priori, mais do que suficiente para erguer um romance, e aqui Ernaux tenta erguê-lo partindo da sensação da infância, que mistura noções de família com preconceitos de classe: estando numa terra pequena, onde todos se conhecem e sabem da violência, há a vergonha de lidar com esse olhar e a ideia de que, noutras classes, a vida se passa de outra forma. E o texto vai viajando, de forma titubeante, sem cimento, entre temas que parecem metidos a pontapé, numa tentativa de dar densidade ao texto: dessa ideia de vergonha, a narradora parte para cogitações sobre a vida na sua escola católica e as suas imposições morais.
Taco a taco, mosaico a mosaico, o projecto literário de Annie Ernaux vai sabendo a coisa pouca – a coisa sua e pouco mais. É certo que a autora francesa cria frases fulminantes e que, não raras vezes, tenta partir do lugar do eu como ponto de convergência da sociedade inteira, mas, para o leitor, ainda que lhe cheguem os laivos dessa sociedade inteira, é o foco no eu que prevalece – e isso, para quem lê, acaba por saber sempre a território reduzido e confinado. A ideia de mostrar o pessoal como político tem múltiplas valências, claro, e merece a tentativa de uma radiografia, mas numa análise quer-se também o pormenor.
A autora escreve de acordo com a antiga ortografia
















