A pré-campanha está aí e os portugueses começam a ouvir os candidatos, à procura de propostas e alternativas. Mas como estão as elites portuguesas a olhar para as escolhas que terão de ser feitas?
O Observador pediu a 18 personalidades influentes, dos mais variados setores e atividades – e das mais diversas faixas etárias – que respondessem a quatro perguntas decisivas para o futuro coletivo do país: o que vai estar em causa nas legislativas; Que fatores irão determinar a sua escolha individual? Que políticas económicas e sociais são necessárias?; De que perfil precisamos na Presidência da Republica?
Depois do enquadramento, dividimos as respostas em quatro blocos, juntando quatro/cinco personalidades em cada um. Aqui está o último deles – podendo consultar todas as outras respostas, clicando no fim deste Especial.
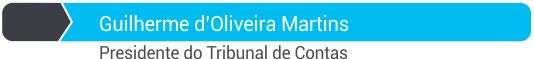
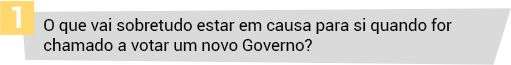
Em Democracia está sempre em causa o princípio constitucional da limitação de poderes e da atualização periódica da legitimidade do voto. Poderá parecer óbvio, mas não é. Eis por que razão o debate político tem de existir a partir de ideias e de programas. É tempo de mobilizar os cidadãos em torno do bem comum e do interesse geral.
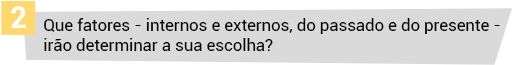
As escolhas (e não tanto a motivação pessoal) são neste momento condicionadas por três ordens de factores:
- A incerteza internacional, que aconselha uma preocupação com a estabilidade e a clareza das soluções;
- A consolidação da União Europeia, com mais União Política, reforço da componente económica do Euro e maior coesão económica e social;
- O reforço da qualidade da democracia em Portugal, com motivação dos cidadãos (com atenção aos jovens) e aperfeiçoamento dos instrumentos de participação política, de um modo responsável e sem cedência aos populismos.
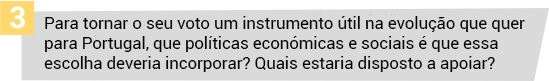
Como titular de um órgão de soberania e Presidente de um Tribunal Superior, apenas posso afirmar que os compromissos europeus devem ser respeitados, o Tratado Orçamental deve ser aplicado como subsidiário dos Tratados europeus, pondo-se a tónica num trajeto no sentido do equilíbrio orçamental e da redução da dívida pública. Daí a importância dos saldos correntes primários, do combate ao desperdício, da prevenção da corrupção e da avaliação rigorosa dos investimentos criadores de riqueza e de emprego. A Educação, a Ciência e a Cultura como promotores da exigência e da qualidade têm de ser prioritários.
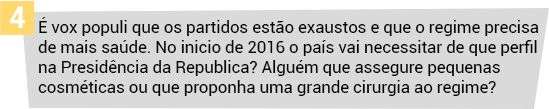
A Democracia e a Constituição têm instrumentos suficientes para garantir respostas adequadas às crises que sofremos. Veja-se como o povo português tem respondido positivamente às dificuldades. Temos de atrair os melhores e combater a mediocridade.
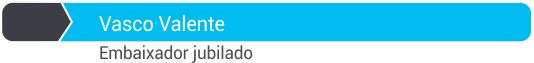
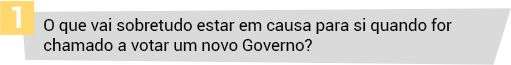
Embora as sondagens valham o que valem, as indicações que nos vão dando mostram que será muito difícil a qualquer dos principais partidos ou coligações que neste momento se anunciam como viáveis ou prováveis obterem uma maioria absoluta que lhes garanta um mandato sólido para a legislatura — e lhes permita enfrentarem com determinação e com equilíbrio questões reconhecidamente complexas.
Dentre estas citaria a consolidação orçamental, o problema da dívida, a criação de emprego, a dinamização sustentada da economia, a reforma do Estado nas suas várias vertentes e a reavaliação de sistemas essenciais para o futuro dos portugueses, como os da Educação, da Segurança Social e o da Saúde. E, claro, a reforma da Administração Pública, de modo a que se possa tornar numa estrutura dotada dos meios adequados para poder atrair os mais capazes e cumprir a sua missão de forma eficiente.
Sem uma boa Administração, sem funcionários capazes e motivados, o Estado não funciona e o país consequentemente ressente-se disso, como é por demais evidente. Como eleitor, o que espero é que, tendo em conta a dimensão do desafio e as profundas implicações que o resultado que vier a ser alcançado terá para as futuras gerações, haja boa vontade e bom senso para procurar após o ato eleitoral uma plataforma de entendimento que as permita conseguir. Impõe-se então, quanto a mim, um acordo de regime de que o Estado democrático sairá consolidado, não apenas porque refletirá o sentimento, se não mesmo o voto, duma larga maioria de portugueses, como também porque dará ao eleitorado o sinal de que a classe política assume de forma responsável o mandato que lhe foi confiado nas urnas. A democracia representativa precisa de ser valorizada não apenas através de declarações, mas sobretudo por boas práticas.
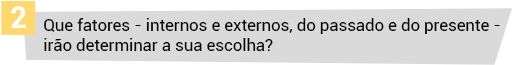
Embora eu não seja propriamente um floating voter, naturalmente que me sentirei confortado se vir que serão apresentados ao eleitorado programas sérios e realistas que ulteriores ações não desmintam e que nos permitam a seu tempo sair duma vez para sempre da crise financeira em que vivemos desde há tantas décadas, embora nalguns momentos tenhamos erradamente pensado que havíamos deixado a fase de penúria.
Nós somos um país pequeno, com poucos recursos e, tirando curtos períodos, sobretudo em situações de crise, em estado de necessidade e à beira do abismo, não nos temos infelizmente sabido administrar. Veja-se a forma como uma parte dos fundos que vieram da Europa foram aplicados. Principiámos com muito rigor, quando começaram a chegar em 1988, fomos até durante alguns anos apontados pela Comissão Europeia como exemplo de organização e de critério na seleção de projetos e na sua execução, mas à medida que o tempo foi passando o facilitismo começou a prevalecer.
Nada aprendemos com a delapidação dos lucros do comércio das especiarias da Índia ou do ouro e diamantes do Brasil, vamos sempre enfadonhamente repetindo os mesmos erros. Dos 3 “D” cunhados por Medeiros Ferreira ainda antes do 25 de Abril – Democratizar, Descolonizar e Desenvolver – este último tem sido o que mais problemas nos tem criado, precisamente, no meu entender, pela nossa dificuldade em, depois de concebermos um plano, sermos capazes de o levar rigorosamente até ao fim.
O Governo que sair das próximas eleições terá uma tarefa imensa, pelo que, mesmo com estabilidade política, não poderá no espaço duma legislatura fazer tudo aquilo que é preciso para recuperarmos da presente fase e entrarmos num ritmo de desenvolvimento aceitável. Terá que, com rigor, começar por estabelecer prioridades e calendarizar objetivos para depois avançar. O caderno de encargos é muito grande porque, se é verdade que o pior já passou, não o é menos que a maior parte das nossas fragilidades se mantêm.
É uma ilusão pensar, ou levar os portugueses a pensar, que dobrámos o Cabo das Tormentas (e se escolho esta imagem é porque quem viveu naquelas paragens, ou leu a História Trágico-Marítima, sabe bem quão traiçoeiro é por ali o mar, cheio de recifes à beira da costa…). O doente foi estabilizado com conhecidos custos colaterais, mas não está curado. A crise em que vivemos é profunda, os estragos provocados no nosso tecido económico e social pelo programa da troika foram grandes, tiveram grave impacto não só nas empresas, sobretudo as mais pequenas, como custos sociais brutais, a que um Governo responsável não poderá deixar de acudir. O esforço de saneamento financeiro, de consolidação orçamental, terá de ser prosseguido, mas num quadro muito apertado.
Essa crise não nos afeta só a nós, mas também alguns dos nossos principais parceiros no exterior, não apenas na União Europeia, mas também, por exemplo, Angola e o Brasil. Depois, porque, paralelamente, um novo Governo, se quiser verdadeiramente modernizar o país, terá de se empenhar a fundo na reforma do Estado, de modo a não só adaptar este aos tempos que correm, como mantê-lo, depois, ajustado a um Mundo que todos os dias muda.
Uma tarefa de reestruturação e de modernização crucial para o nosso futuro que, para ser bem feita, terá de ser bem pensada, criteriosamente aplicada e sintonizada com uma realidade em constante alteração e que, claro, terá um preço, o que implica determinação e vontade política. Basta olhar-se para o que se passa com a Saúde, com a Educação, com a Segurança Social, para só citar áreas mais próximas dos cidadãos, para se perceber que muito ainda há a repensar e muito caminho a percorrer. Mas a situação não é melhor, por exemplo, nas chamadas áreas de soberania do Estado, aonde a falta de pessoal e as carências orçamentais com que se debatem a Justiça, a Defesa, a Segurança Interna e, last but not least, os Negócios Estrangeiros são por demais evidentes e põem em risco a própria capacidade do Estado em exercer as suas responsabilidades, a nível interno e no plano externo.
Relacionado com este último ponto, não posso deixar de suscitar a questão da nossa participação na União Europeia no médio e longo prazo. Pode ser que eu esteja enganado, mas dentro dalgum tempo nós poderemos vir a ser confrontados com uma nova proposta de reforma das instituições europeias, visando consagrar e até mesmo, quem sabe, desenvolver num novo Tratado algumas maldades que visam colocar firme e definitivamente o governo da Europa nas mãos dum diretório, marginalizando definitivamente a Comissão e enterrando o método comunitário em benefício do intergovernamental (expressão esta ela própria enganadora, pois essa tal intergovernamentalidade ficaria confinada nem sequer a meia dúzia…).
Não tenhamos ilusões, a Europa em vias de integração e solidária de Delors, Kohl e Mitterrand a que aderimos em 1985 já não existe, o sonho que partilhámos esfumou-se já há alguns anos, na maioria da nova classe dirigente europeia há apenas espaço para números, não para a imaginação. Portugal precisa duma política europeia ativa e coerente, assente no conhecimento lúcido não apenas do terreno que pisa, mas também de quais são os seus interesses estratégicos e a melhor forma de os prosseguir. Fizemos isso numa Comunidade a 12, numa União a 15, não há nenhuma razão pela qual não o possamos fazer dentro duma UE a 28, com tantas contradições e divisões e onde me parece que pouco sobra do espírito comunitário que lá conheci. Pergunto-me se alguns dos dissabores que tivemos com a troika não poderiam ter sido atenuados se, no devido tempo, tivéssemos sido mais ativos diplomaticamente, concertando discretamente posições ou estabelecendo pontes com outros Estados-Membros na mesma situação ou lá perto.
Há aqui algum trabalho a fazer, como de resto no campo da política externa, aonde receio estejamos a perder visibilidade, talvez, penso eu, por a estarmos a confundir com diplomacia económica, apenas uma das vertentes da atividade diplomática do Estado. Termos uma imagem externa de credibilidade, de presença ativa no plano internacional, inclusivamente no campo das operações de paz, aonde as nossas Forças Armadas e militarizadas tanto têm contribuído também para a nossa boa imagem, é indispensável se quisermos estar entre os que são ouvidos. Não ser ouvido no Mundo de hoje é como não existir.
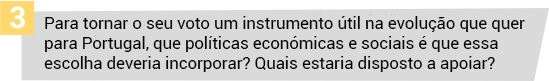
Boa parte ficou atrás respondida, a resposta está ali implícita. Mas uma coisa para mim é certa, há coisas que não podem ser deixadas ficar como estão, têm de mudar para melhor. Já vimos aonde nos levaram nos últimos anos algumas reformas feitas a correr, para a estatística, sem preocupação de avaliar antes o seu provável e muitas vezes previsível impacto. Perdeu-se tempo e dinheiro e causaram-se alguns estragos evitáveis com menos voluntarismo, menos dogmatismo e menos precipitação. E é também altura de enterrarmos definitivamente o “é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma”.
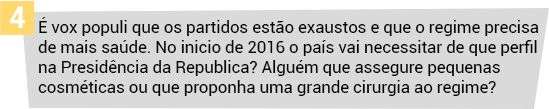
Uma cirurgia que não mate o paciente, por esquecer o estado frágil em que se encontra. Não há dúvida que ao fim de 40 anos em que o Mundo mudou tanto, muitíssimo mais, de resto, do que poderíamos nessa altura imaginar, as instituições precisam de ser revitalizadas, de modo a que os cidadãos se sintam mais próximos delas, em vez de lhes serem indiferentes, o que, de resto, não é exclusivo de Portugal, preocupa também outros países.
Mas há que ter consciência da situação em que vivemos e de que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, o ótimo é inimigo do bom. Eu veria com bons olhos que o próximo Presidente encorajasse ativamente o Governo e os restantes atores da nossa vida política a lançarem-se decisivamente no caminho das reformas que são essenciais para o nosso futuro, através da negociação dum acordo de regime que fixasse objetivos e um calendário realista. Mas também aqui não devemos ter ilusões: se o que queremos fazer é reformar bem as instituições, com critério e com coerência, haverá que procurar consensos nem sempre fáceis de conseguir, sobretudo em matérias mais sensíveis para os partidos e para a classe política (estou a pensar, por exemplo, na redução do número de deputados, na revisão da Lei Eleitoral, na revisão do mapa administrativo do país) e isso implicará dar tempo de maturação às propostas que forem postas em cima da mesa e prever meios para as implementar.
Creio que foi Eça que disse, mas não tenho a certeza, que “uma má República é fértil em leis”, mas posso testemunhar que sofremos muito desse mal. Nem sempre ter uma imaginação fértil e uma pena rápida é uma boa coisa. Dentro dos seus poderes constitucionais, o Presidente da República, sempre preservando o seu dever moderador, pode aconselhar em matéria de prioridades, sensibilizar os portugueses para a importância do que está em jogo e ajudar a que, uma vez encetada a tarefa, não se perca o rumo, a disponibilidade e a determinação de todos com vista a conseguirmos preparar-nos para um futuro em que teremos de entrar de olhos abertos, se quisermos sobreviver.
Creio, ainda, que passados 40 anos sobre a sua adoção, e embora não constitua decerto um instrumento de bloqueio, haverá que reler a Constituição, escrita nas circunstâncias que conhecemos, para a adaptar à sociedade em que vivemos, bem diferente na sua realidade e nas suas aspirações de 1975-1976. Só assim se manterá viva e evitará o destino do mausoléu. Também aqui a tarefa não será fácil, será necessário um acordo o mais vasto possível, pois é aconselhável, a meu ver, que a lei fundamental do país seja o mais consensual possível.
O papel do Presidente da República neste capítulo pode ser também determinante, dadas as funções em que está investido e que não são meramente cerimoniais, tendo em conta a legitimidade que lhe é conferida pela sua eleição por sufrágio direto e a sua responsabilidade em assegurar o regular funcionamento das instituições. Como o poderá ser o dos media, que aqui encontrarão espaço para ajudar políticos e opinião pública neste trabalho de reflexão, privilegiando o debate de ideias e arredando emoções.

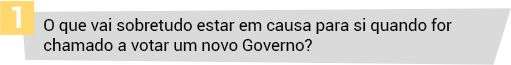
Nas próximas eleições, mais do que nunca, vai estar em causa o futuro do nosso país. Depois de um período de austeridade severa, dramático para uma percentagem importante da população, perante uma evolução demográfica devastadora e um entorno internacional extraordinariamente complexo, a par de uma verdadeira revolução económica promovida pela conectividade e globalização, o desafio de qualquer governo será magnífico, mas, sobretudo, exigirá uma superação ao nível da capacidade de liderança, da competência individual e coletiva, bem como coragem e verticalidade. Em síntese, vai estar em causa a capacidade de promover política de alto nível, sentido de Estado e renovação. Sim, capacidade de ousar pensar as coisas como elas jamais foram e encontrar novas soluções para os problemas de sempre.
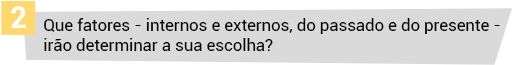
Em termos de política interna, é importante uma definição clara da visão que se defende para o país, concretamente o seu modelo económico e social a curto, médio e longo prazo. Partindo de um retrato exato e rigoroso do estado em que o país se encontra, quero saber, no contexto dessa visão, o que falta fazer, em que fase estão as reformas estruturais que nos comprometemos a fazer junto dos nossos parceiros europeus e, tendo em conta o atual enquadramento económico, como se pensa preparar para o futuro o país e o nosso modelo de estado social, sabendo, por exemplo, que em 2040 haverá três milhões de portugueses com mais de 65 anos, dos quais um milhão estará na faixa etária acima dos 80. Este é, aliás, um ponto fundamental do debate. Hoje, já todos concluímos que o Estado social em Portugal, tal como o conhecemos, é insustentável. Então, qual a estratégia e que escolhas terão de ser feitas para o tornar sustentável?
Gostaria de assistir a uma elevação do debate político. O discurso de “sol na eira e a chuva no nabal” é inaceitável. A política é uma função nobre de serviço público, que tem sido sistematicamente vilipendiada por taticismos de baixo nível, tocando, não raras as vezes, a falta de caráter e de educação. O que espero dos políticos portugueses é que nos apresentem um projeto consistente nas suas vertentes social e económica e que seja mobilizador dos cidadãos portugueses (Yes, we can!). Um projeto que se baseie na realidade económica do país, não em ficções ou desideratos estéreis. Que trace uma estratégia clara e métricas concretas de medição do sucesso.
Já em termos externos, julgo ser fundamental saber como pretende o próximo Governo português posicionar-se em relação à Europa e que alianças preconiza, em particular em termos de relações económicas.
Como é que Portugal se deve posicionar relativamente aos grandes temas políticos da atualidade europeia – a crise na Ucrânia, as ameaças do autoproclamado Estado Islâmico, o recrudescimento dos fundamentalismos religiosos e dos nacionalismos radicais na Europa, os fluxos migratórios provenientes de África, entre outros. Como cidadã europeia, estou preocupada com o que está a passar-se na Europa e à volta dela. Quero saber, por isso, que política externa europeia é que o próximo Governo vai defender e como estará alinhado com os nossos parceiros europeus, em termos políticos e económicos.
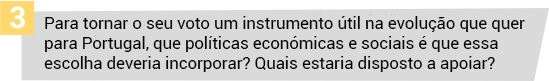
Identifico-me, claramente, com um Governo que tenha a capacidade de juntar o que há de melhor no setor público e no setor privado para conseguir a melhor eficiência da economia nacional. Que não caia na demagogia da dicotomia público-privado, mas que tenha a capacidade de agregar os dois setores num objetivo comum de reconstrução do país. Esta ideia é particularmente importante em setores como a saúde e a educação.
Apoio um Governo que defenda uma função pública de altíssimo nível, capaz de ter um papel regulador dos agentes económicos nos vários setores da economia. É fundamental ter um Estado que se relacione de forma séria com a população e com os vários agentes económicos. Que seja exemplar, que respeite e seja respeitado. Isto significa menos funcionários, mais qualificados e mais bem pagos nas funções de verdadeira soberania do Estado. Um governo capaz de promover de forma séria a economia e os agentes económicos criadores de riqueza e emprego. Que utilize de forma eficaz os instrumentos à sua disposição, desde logo uma política fiscal séria, estável e competitiva.
Por outro lado, identifico-me também com um Governo que defenda os princípios sociais da Europa. Que honre, com rigor e exigência, os compromissos orçamentais que assumimos perante os nossos parceiros europeus. Mas que, ao mesmo tempo, lute por uma maior solidariedade dentro da Europa. Isto porque, apesar de a União Europeia estar construída sobre enormes desigualdades entre os Estados-membros, ela só faz sentido se, efetivamente, existir como um todo coerente – em que cada um cumpra a sua parte e contribua com aquilo que é o seu talento e capacidade, para que, a partir daí, possa exigir a solidariedade dos outros. Senão, isto não é um projeto europeu.
De qualquer modo, quero saber se o próximo Governo vai encarar tudo isto como um tema meramente económico – e nessa perspetiva bastar-nos-ia a união monetária – ou se vai defender um projeto europeu mais abrangente.
Eu apoiaria um Governo que defendesse para a Europa uma verdadeira união política, económica e fiscal, i.e. um modelo mais próximo do federalismo. Porque entendo que essa é a única resposta possível ao que está em jogo neste momento. Estamos a viver um período difícil, em que podem estar em causa os próprios fundamentos da Europa. São estes que devem ser defendidos, unindo forças em torno daquilo em que os europeus sempre acreditaram e que serviu de alicerce à construção da União Europeia.
Falo do modelo social europeu, dos princípios da solidariedade, da igualdade, do respeito pela liberdade, pelo multiculturalismo e pela diferença. No limite, é a própria democracia que pode estar em causa e isso é, afinal, tão ou mais importante como garantir o futuro do euro ou cumprir metas orçamentais.
O meu voto, certamente, irá para quem defender este projeto político europeu comum, integrado, solidário e mobilizador. Para quem conseguir defendê-lo na Europa. Para quem seja uma voz que fale diferente, capaz de fazer ver aos nossos parceiros que este é um tema de sobrevivência dos próprios fundamentos da Europa. Que, pelo menos, tente!
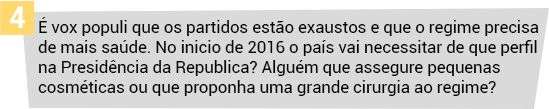
Se a pergunta pressupõe a necessidade ou não de uma alteração constitucional do nosso atual regime político, respondo que não. Não vejo que haja razões para aumentar os poderes do Presidente da República; a nossa democracia, assente num sistema político semipresidencialista, tem funcionado de forma muito equilibrada.
Entendo, de qualquer modo, que o próximo Presidente deve estar alinhado com os grandes princípios nacionais e europeus. Deve ser uma voz de moderação e de construção desses princípios. E, tendo de intervir, deve fazê-lo com elevação e sentido de serviço a Portugal, cumprindo um papel de moderador e agregador de todos os poderes de soberania.

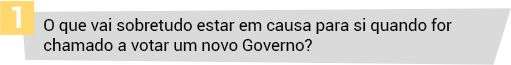
Vai estar em causa a atitude dos portugueses face à política austeritária, a avaliação por parte dos eleitores do que foi feito e a sua opinião em relação a uma continuidade da mesma política. Para uma parte dos votantes, mais próxima da atual maioria, essa política é uma necessidade e seria perigoso ou ilusório tentar sair do rumo seguido. Para a outra parte, mais à esquerda, essa política é evitável ou é demasiado injusta para continuar a ser implementada.
Ao fim e ao cabo, em termos mais analíticos e reflexivos, esta opção simples do eleitorado corresponde também a uma opção mais complexa entre a visão tecnocrática hoje predominante na Europa do euro, a ideia de que não há alternativa às políticas de ajustamento seguidas, quando muito alguma modulação dessas políticas, e a visão mais radicalmente democrática, que considera que tem de ser o povo a escolher e a formar alternativas, recusando a aceitação acrítica das imposições tecnocráticas.
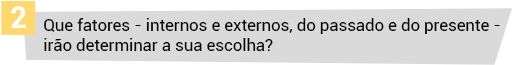
Muitos fatores, internos e externos, vão pesar nestas escolhas essenciais.
Em Portugal, a grande incógnita é o posicionamento do PS. A posição da maioria é clara. Poderia, neste campo, haver lugar para dissensão entre PSD e CDS, mas isso será anulado por uma coligação pré-eleitoral. Assim, as diferenças entre os dois partidos não terão um papel relevante na campanha. Do lado da esquerda é também clara a posição do PCP, BE e Livre, com a única diferença da disposição do último para uma coligação ao centro. Só o PS é instável. Por vezes alinha com o discurso anti-austeritário e anti-tecnocrático, outras vezes critica-o.
Como acabará o PS? Provavelmente, atendendo ao seu ADN e à sua liderança atual, a tendência seria manter-se próximo da política austeritária, seguindo o velho princípio de “piscar à esquerda e virar à direita”. Isso é também o que acontece na Europa, com os partidos do centro-esquerda presos na armadilha do seu apoio inicial ao euro, a toda a sua arquitetura institucional e ao próprio tratado orçamental.
Mas entre nós a questão será decidida em termos práticos e não teóricos. Ou seja, tudo dependerá do resultado das eleições e da política de alianças pós-eleitorais. Se o PS conseguir crescer eleitoralmente e formar uma maioria com Marinho Pinto e o Livre, poderá infletir um pouco à esquerda e aproximar-se da oposição às políticas predominantes na Europa. Se, pelo contrário, só puder formar uma maioria de Governo ou de apoio parlamentar à direita, acabará por ter de apoiar um Governo austeritário, de bloco central ou algo parecido (por exemplo um Governo tecnocrático com apoio do PS, PSD e CDS).
Em qualquer dos casos, a campanha será dura, com as interferências dos casos Sócrates e Passos Coelho. A evolução na Europa poderá ser decisiva. Se as coisas correrem mal na Grécia, como os Governos de Portugal e Espanha querem que aconteça, então isso será um trunfo eleitoral para a maioria. Se a situação da Grécia melhorar, o trunfo eleitoral será da oposição anti-austeritária. O PS, mais uma vez, inflectirá o discurso, num sentido ou no outro, consoante o que acontecer na Grécia ao longo dos próximos meses.
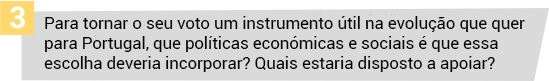
O próximo Governo deverá desejavelmente tomar decisões muito relevantes quanto à gestão e negociação da dívida pública. Mas deverá sobretudo recomeçar a fazer política nacional, o que parece ter sido interrompido pela urgência da assistência externa, ou pela incapacidade da atual maioria.
Ou seja, o próximo Governo deverá fazer logo no início do mandato as reformas do Estado que os partidos definirem nos programas eleitorais. A grande questão é que o Estado não foi reformado nem minimizado, diminuiu do lado social e aumentou do lado da dívida, tornou-se em muitos domínios inoperante pela escassez de recursos, tornou-se cada vez mais ineficiente devido ao reforço dos controles orçamentais pelo poder central, está hoje menos ao serviço da sociedade e também não está ao serviço do crescimento económico.
O meu receio é que os partidos não estejam preparados para estas reformas. Pode bem repetir-se o que aconteceu na atual legislatura. Por falta de preparação e competência do atual Governo as reformas foram sendo adiadas, substituídas por cortes, até se tornarem inviáveis por se ter avançado demasiado no tempo da legislatura. Qualquer partido que assuma o Governo em Portugal deveria estar preparado para começar a trabalhar no próprio dia da tomada de posse. Mas não é isso que acontece e, por essa razão, os timings próprios das reformas são perdidos.
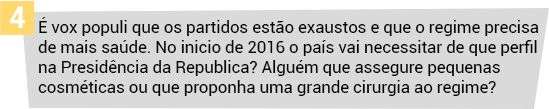
O PR não pode mudar o regime. Ele jura obediência à Constituição na qual o regime está juridicamente definido. É aos partidos políticos que cabe a revisão da Constituição e, antes de mais, a reflexão sobre a necessidade de fazê-lo e a inscrição disso mesmo na sua agenda política.
No entanto, creio que os partidos não irão fazê-lo sem um choque externo. Ou seja, apenas um evento catastrófico, como seria o incumprimento de Portugal das suas obrigações financeiras, ou a saída forçada do euro, poderiam exercer a pressão suficiente para uma mudança de regime, por exemplo num sentido mais presidencialista. De outra forma, sem choque externo, a mudança não acontecerá. O regime está bloqueado pela dificuldade de diálogo entre os partidos. Note-se que nem uma mudança como a da lei eleitoral, que não é mudança de regime, se conseguiu fazer até agora.
Dito isto, o próximo PR poderá ter um papel relevante. A grande questão será a de corrigir os erros do atual PR. Este apagou-se no apoio à maioria de Governo, contribuindo precisamente para o contrário daquilo que diz querer propiciar, ou seja, o diálogo entre os partidos. Na verdade, ao colocar-se de uma forma demasiado evidente do lado da maioria, o PR atual deixou de estar acima dos partidos e tornou inviável o seu papel de mediador.
O novo PR deveria, desejavelmente, ter um discurso próprio e não colado a nenhum Governo ou fação. Creio que seria mais desejável, por isso mesmo, alguém com um perfil cultural e académico, mais do que um perfil tecnocrático ou estritamente político. Em todo o caso, não se deve pensar que o próximo PR poderá mudar o regime ou fazer uma “cirurgia radical”. Ele poderá, na melhor das hipóteses, ajudar a desbloquear aspetos do atual regime que o atual Presidente acabou por agravar (malgré-lui).

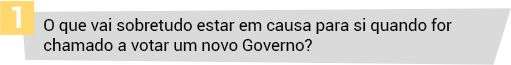
É de senso comum dizer que um Governo que faz um ajustamento económico – doloroso nos seus efeitos imediatos – perde as eleições seguintes. Mesmo que tenha iniciado um rumo sustentável cujos resultados tardarão a chegar, pois que os desequilíbrios eram e são enormes e a conjuntura europeia não ajudou.
Para além destas dificuldades, o Governo ao optar por tentar preservar o apoio do PS, nomeadamente para votar o “Tratado orçamental”, desistiu de, como aliás afirmou desde o início, analisar a situação económico-financeira a que Portugal chegou e as responsabilidades do governo de José Sócrates nesse descalabro.
As próximas eleições legislativas serão a primeira ocasião para testar se os portugueses acham que se seguiu uma política desagradável mas indispensável, dada a situação de pré-bancarrota em que o PS, e também os governos anteriores, deixaram o País ou se, pelo contrário, a submissão à política imposta pelas circunstâncias e pelos credores cerceou hipóteses de crescimento e de diminuição percentual do peso da dívida. No fundo, se havia e/ou haverá políticas alternativas.
Sou da opinião que a tarefa de reequilibrar económica e financeiramente o País era e é tarefa para mais de uma década e que o Governo vai ser avaliado a meio do percurso.
O que estará portanto em causa é se o reajustamento futuro se fará com o mesmo rumo ou se, com mudança de Governo, vamos perder parte importante do que já se fez.
E esta incerteza, que já estamos a viver, terá consequências importantes e muito negativas no investimento indispensável para desenvolver o setor exportador, criar novos postos de trabalho, aproveitar melhor a formação com que os jovens chegam ao mundo do trabalho e sustentar de forma mais saudável o mercado interno. E falo de investimento nacional e de investimento estrangeiro.
Mas esta incerteza é muito ampliada pela posição taticista do PS ao evitar falar claramente sobre as políticas concretas que seguirá se for governo.
O que estará portanto em causa é se o reajustamento futuro se fará com o mesmo rumo ou se, com mudança de governo, vamos perder parte importante do que já se fez.
Para além desta alternativa principal – a coligação, com atraso incompreensível, ou o PS – , estará também em causa a composição da Assembleia da República. De facto, se uma coligação entre novos partidos de protesto e a comunicação social, desejosa de ter um Syriza português, ganhar grande dimensão eleitoral o sistema político português pode tornar-se ingovernável. Desde logo por se tornar inviável qualquer revisão da Constituição, mas também por decisões orçamentais indispensáveis na área das políticas sociais carecerem, na prática, de ter na Assembleia da República uma maioria equivalente à de revisão constitucional.
Outros países europeus, que terão eleições antes de nós, também correm o risco de ingovernabilidade. A redução do peso dos partidos do mainstream e o aparecimento de partidos radicais à esquerda e à direita, unidos estes últimos por crescente e justificada desconfiança em relação às instâncias europeias vão significar que teremos de navegar em águas muito agitadas e que será muito difícil politicamente que a União Europeia se reforme, desde logo no que diz respeito ao Euro e à coordenação das políticas económicas e financeiras.
Acredito também pouco numa grande visão do governo alemão e o CDU vai perdendo força regionalmente na sequência da decapitação da concorrência interna praticada pela chanceler Merkel.
Portanto, para além de hipóteses de grandes mudanças a nível governamental, estas eleições vão ter consequências quanto à governabilidade do sistema político e este teria que estar coeso quanto às questões europeias, o que já foi feito no passado. Mas não sei se ainda será, pois que desconheço o que António Costa pensa sobre o assunto.
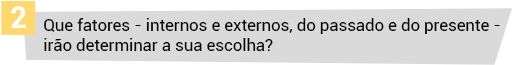
Reconhecendo embora que PS e PSD são muito parecidos quanto à visão sobre a arquitetura do sistema político, forma de seleção dos dirigentes, pouca independência face aos interesses económicos apostados em se subtrair à concorrência e tendência para “colonizar” a administração pública e se sujeitar aos “lobbies” da funções pública, acho que a atual liderança do PSD tem conseguido ser mais independente, isto é, mais representativa dos eleitores e até dos contribuintes. Apesar de, por dificuldades criadas pelo Tribunal Constitucional, ter feito o tal enorme aumento de impostos, parece disposto a baixá-los, ao contrário do PS que logo que pôde renegou o acordo sobre o IRC.
O CDS tem tido um percurso misterioso nestes aspetos, embora por maior independência face ao poder local pudesse ter sido bem mais reformista. Uma posição difícil face à lei eleitoral – uma das reformas mais necessárias, e o facto de não se estar “lixando” para as eleições não explicam tudo. E todavia o CDS se apostasse numa agenda mais moderna e ousada poderia ser parte importante, quase diria decisiva, da proposta duma coligação renovada.
Mas continuamos à espera.
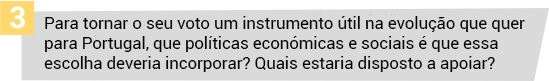
Estaria disposto a apoiar quase tudo o que significasse mudança…
Portugal deve voltar a ter objetivos estratégicos, passada que está a fase dos cuidados intensivos, porque foi isso que nós vivemos, mesmo que por pudor ninguém o reconhecesse.
E que interesses estratégicos:
- Desde logo maior capacidade de selecionar os setores e áreas da sua geografia e economia que quer desenvolver, deixando de confiar esse papel à Comissão Europeia por um lado e, internamente, a uma multiplicidade de estruturas públicas centrais, regionais e municipais que se especializaram em delapidar fundos comunitários através da distribuição mais politizada de recursos que existe na União Europeia. É fator de desperdício, compadrio e corrupção quanto à forma, e de bloqueio quanto às novas atividades;
- Criar alianças diversificadas com países europeus e não-europeus para desenvolver e potenciar vantagens competitivas próprias. São exemplo disso o relacionamento com o outro lado do Atlântico, o Reino Unido e os países escandinavos, com destaque para a Noruega no que diz respeito ao Mar;
- Reduzir a dependência em relação à política continental da França e da Alemanha e condicioná-la à negociação dos nossos interesses articuláveis com os deles;
- Contribuir para a permanência do Reino Unido na UE, pois que é o maior potenciador de abertura e modernização de que tanto precisamos;
- Utilizar a tão falada diplomacia económica como instrumento estratégico e não a circunscrever a um super-AICEP;
Ter afirmação estratégica visará uma utilização mais valorizada das nossas capacidades e é, também por isso, pré-condição para o nosso crescimento, para maior capacidade de intervenção internacional e para melhoria das nossas condições de vida.
Sem essa afirmação e capacidade efetiva de pouco servirá, por exemplo, a dimensão da nossa área marítima.
Mas ter afirmação estratégica implica permanência de políticas, coisa que não existe.
E não existirá enquanto não houver um clima de entendimento entre os partidos que defendem os mesmos valores que, resumidamente, são os do chamado mundo ocidental – governos representativos, supremacia da lei, economia de mercado e livre iniciativa e uma sociedade civil forte.
Uma aliança longa quanto aos objetivos estratégicos e de duas legislaturas quanto à política orçamental são indispensáveis em relação à previsibilidade e sucesso da política económica e como condição de atração de investimento estrangeiro para um País completamente descapitalizado.
Tal exercício conferiria credibilidade às políticas governamentais, pelas garantias da sua continuidade e diminuiria a tão negativa luta assassina a que há anos assistimos pelos lugares à mesa do Orçamento.
Dispenso-me de referir que enquanto não for diminuída a voracidade fiscal do Estado não há iniciativa privada liberta dos interesses dos políticos, nem sociedade civil digna desse nome, nem novas atividades que substituam as antigas, nem forma de terminar com os compadrios entre governo e setores protegidos, como temos recentemente visto em toda a sua extensão.
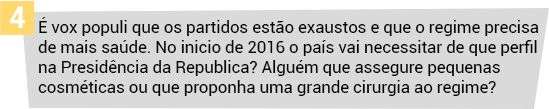
No nosso sistema político atual, só por acaso se pode contar com a indispensável colaboração entre Governo e Presidência da República.
A luta entre estes dois órgãos tem sido uma constante da vida constitucional portuguesa, sem que tal tenha ao menos evitado todas as decisões de que agora pagamos os desnecessários custos.
O atual Presidente da República queixava-se da governação de Sócrates mas agarrando-se à mais restritiva visão desse papel sustentou o Governo até ser reeleito e depois dificultou a vida do atual no programa de ajustamento até ver que não tinha alternativa.
Já Jorge Sampaio tinha criticado Guterres por não aproveitar a ótima conjuntura internacional para fazer reformas estruturais.
Teríamos estado pior sem essas venerandas figuras? Duvido. Portugal teria vantagens em ter um sistema mais simples e mais claro para os eleitores, que é preciso atrair para uma cidadania mais responsável.
Há riscos? Há sempre. Defendo, a bem da clareza do voto e do mandato, um sistema mais presidencial e também um governo menos legislativo, remetendo esse papel à sua sede própria, a Assembleia Legislativa.
Iria até ao ponto de defender que o Presidente fosse eleito com o objetivo anunciado de alterar a Constituição como sua primeira missão e de chefiar o Governo.
Podemos, em alternativa, continuar como temos vivido, com uma política errada e errática de governos fracos travados por qualquer interesse particular, mascarado atrás de opções ideológicas.
Esta Constituição foi redigida a olhar para o passado da ditadura e a querer garantir que nunca mais houvesse autoridade, mesmo que democraticamente eleita.
Não me parece que sem alterar o sistema de governação possamos ambicionar mais do que o empobrecimento progressivo em que entrámos no virar do Milénio.
Portanto precisamos de um cirurgião.





















