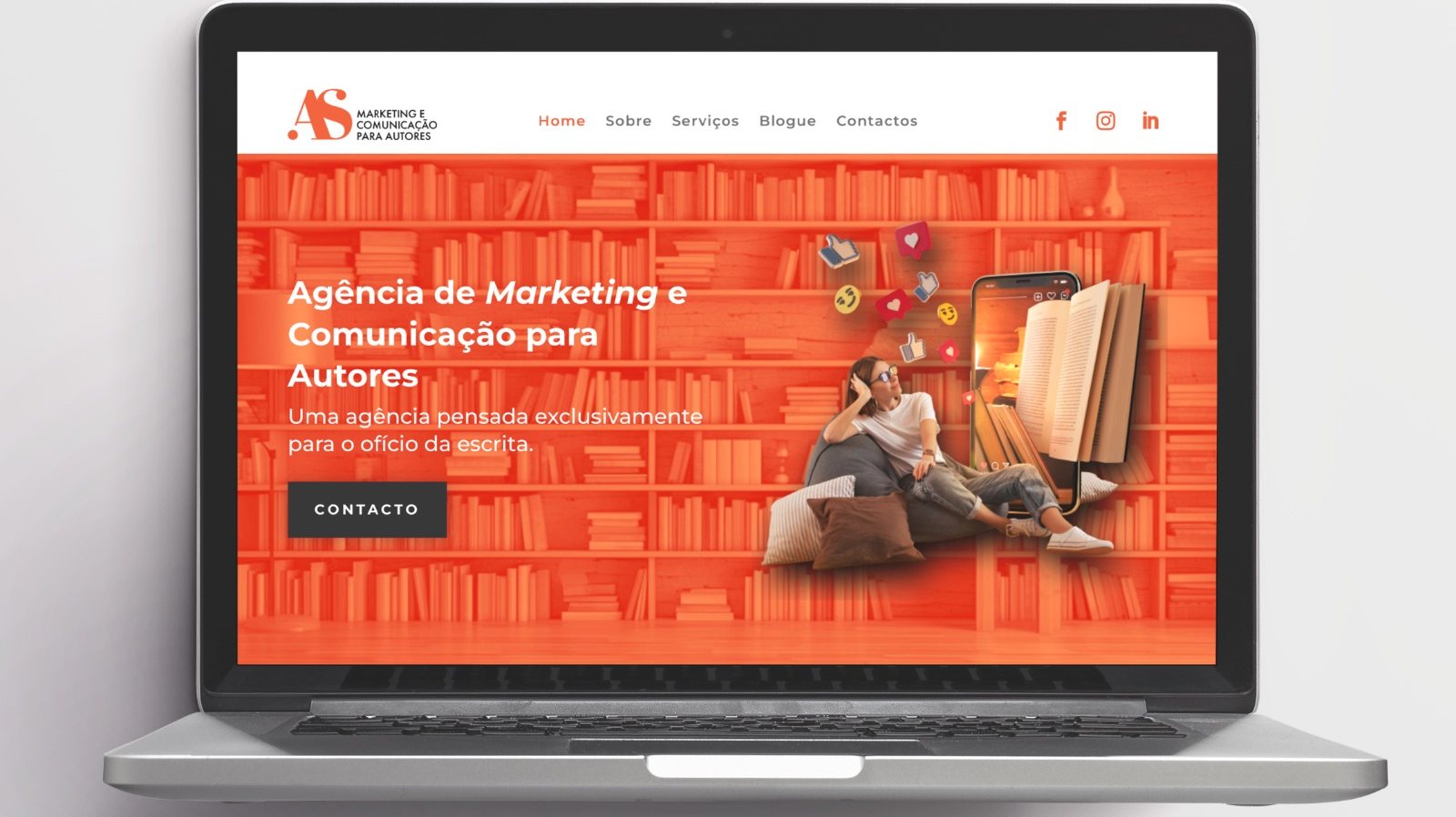[este artigo foi originalmente publicado a 6 de junho de 2016 e recuperado a propósito da morte de João Gilberto, a 6 de julho de 2019]
É o melhor historiador do século XX brasileiro e nem sequer é historiador. As biografias de Ruy Castro, entre as quais a do dramaturgo Nelson Rodrigues e de Carmen Miranda, levam o leitor das ruas de Belo Horizonte no início do século XX às redacções dos jornais populares, dos botecos do Rio aos estádios de futebol onde Garrincha passeou o seu génio, sempre com a história do Brasil como pano de fundo. Chega de Saudade (Tinta-da-China), as histórias das pessoas que fizeram a Bossa Nova, foi o seu primeiro livro. Publicado originalmente em 1990, chegou finalmente a Portugal em junho de 2016. Esta é a entrevista de Bruno Vieira Amaral.
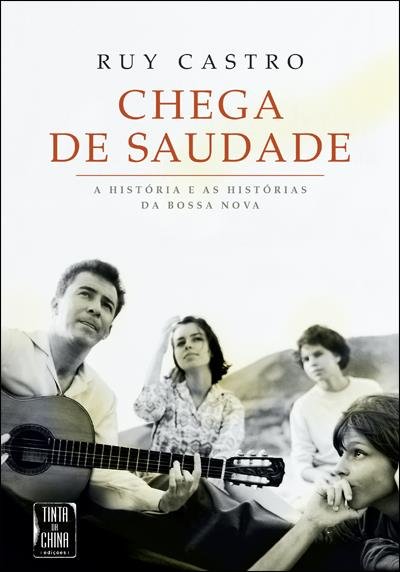
Comecemos pelo nome e a coisa. Quem é que inventou o termo Bossa Nova e, afinal, o que é que era isso de Bossa Nova?
A expressão Bossa Nova existia naquela época, nos anos 50, não tinha a ver com música, definia qualquer coisa nova, diferente. Por exemplo, um penteado feminino novo podia ser uma bossa nova, uma maneira diferente de fazer qualquer coisa podia ser uma bossa nova. Quando essa expressão foi usada pela primeira vez referindo-se à música não se referia a nenhum género musical, mas sim a uma maneira nova de tocar o samba. Apareceu pela primeira vez num cartaz feito à mão para anunciar um espectáculo que ia ser feito num grupo universitário completamente amador, modesto, um grupo hebraico. O mais importante é que a cantora que ia participar, Sylvia Telles, já era relativamente conhecida, já tinha gravado discos. O cartaz dizia “Hoje Sylvia Telles e um grupo Bossa Nova”. Não um grupo de Bossa Nova, que ainda não existia. Foi ali que começou. Em seguida, Tom Jobim escreveu na contracapa do LP Chega de Saudade, de João Gilberto, “um baiano bossa nova”. Era um adjectivo, não um substantivo. Aí o Ronaldo Bôscoli e um jornalista chamado Moisés Fuchs, que fazia parte do grupo universitário hebraico, perceberam o potencial promocional da coisa, uma maneira rápida de definir aquele tipo de música que não se parecia muito com o que se fazia antes. Embora fosse basicamente o samba, era um samba ritmicamente mais simplificado, embora segundo eles fosse harmonicamente mais complexo. Era uma bossa nova.

A contra-capa de “Chega de Saudade”, de João Gilberto
O livro [Chega de Saudade] começa em 1948, acompanhando João Gilberto em Juazeiro, sua terra natal, no ano em que o Ruy nasceu.
Por acaso.
Quais as recordações de infância e da adolescência que guardava em relação à música daquela época, à Bossa Nova?
Na minha infância não havia Bossa Nova, evidentemente. Considerando-se que tenha nascido em 1958, com João Gilberto gravando Chega de Saudade, eu já tinha dez anos, o que no meu caso já não considero de infância mas de pré-maturidade [risos]. Cresci numa casa cheia de discos, muita música. Meu pai gostava de tocar violão e cantava. Minha mãe também gostava muito de música. Os discos da época eram os de 78 rotações. Havia centenas lá em casa. Havia um aparelho enorme, moderno para a época, com altifalantes de doze polegadas, e aquela quantidade enorme de discos que eram tocados todos os dias, normalmente à noite. Os meus pais tinham gostos musicais muito diferentes. O meu pai gostava da música mais tradicional, os grandes cantores, as grandes vozes, Francisco Alves, Carlos Galhardo. Também gostava das vozes pequenas, mas só do Mário Reis e da Carmen Miranda. E só gostava de música brasileira. Já a minha mãe tinha um gosto absolutamente ecléctico. Gostava de todos os ritmos. Tinha discos de boleros cubanos e mexicanos, tangos argentinos, fados, canções francesas, valsas vienenses, também cantores americanos como Doris Day, Bing Crosby, Frank Sinatra e as Big Bands. Só não tinha discos de jazz, que era uma coisa mais sofisticada. Essa variedade rítmica não era privilégio nem da minha família nem de ninguém no Brasil, era do mundo inteiro. Normalmente todas as famílias gostavam da música de outros países.
Havia uma influência entre países.
Sim, cada país tinha a sua música. E todas elas eram conhecidas. Algumas foram sucessos gigantescos fora do seu país de origem. Nos anos 20, por exemplo, a importância do tango na música universal foi impressionante. Se pegar no famoso “Saint Louis Blues”, americano, de W. C. Handy, aquilo é um tango. A música francesa teve uma grande influência. Cantores franceses como Jean Sablon ou Charles Trenet eram muito conhecidos no Brasil. Eu cresci ouvindo essa música. Os cantores brasileiros de que a minha gostava mais eram os mais modernos e suaves, como Dick Farney, Lúcio Alves, também gostava muito da Dolores Duran, Elizeth Cardoso. Então eu cresci ouvindo tudo, embora não gostasse de tudo, e conhecendo tudo, o que é importante. O gosto você vai apurar muitos anos depois. Ouvia tudo com grande interesse. E também a influência do cinema na música foi muito importante. Não só nos filmes musicais. A música clássica formou uma grande parte dos compositores americanos de cinema.
Até com muitos compositores que tinham ido da Europa, como Korngold.
Korngold, Max Steiner e muitos outros. Tiveram de sair da Europa por questões políticas e puderam implantar a música clássica no acompanhamento de uma coisa absolutamente vulgar que era o cinema. Nos filmes da Warner e da RKO a ordem era para ter música o filme inteiro. Você pega no “King Kong” ou naqueles faroestes do Errol Flynn na Warner ou nos filmes noir de Humphrey Bogart, os da Warner, o filme dura uma hora e meia e é uma hora e meia de música. É impressionante. Haja música para encher aquela coisa toda! Claro que eles usavam os clichés da música erudita, mas o facto é que você está com dez aninhos, vendo aqueles filmes e a música está entrando pelos ouvidos.
É uma formação inconsciente.
É claro. Sendo que nos filmes musicais eles começavam de repente a cantar e isso via-se com grande naturalidade. Aliás, nunca entendi porque há pessoas que não gostam de musicais porque dizem que o cara de repente pára de falar e começa a cantar. Meu amigo, ele faz isso porque se trata de um musical. Se fosse um western ele sairia e montaria a cavalo. [risos].
O início da Bossa Nova também está de certa forma ligado ao cinema, com a banda sonora de Tom Jobim e Vinicius de Moraes para o filme “Orfeu Negro” [de Marcel Camus].
Mais ou menos. Ainda não é a bossa nova, mas já é uma bossa nova. É uma coisa que não está no livro – porque se trata de uma interpretação da minha parte e penso que as minhas interpretações e ilações não cabem num texto como esse – mas a minha convicção é que se não tivesse havido a bossa nova do João Gilberto naquela época teria havido uma bossa nova de qualquer maneira. As coisas estavam caminhando para que houvesse uma redefinição musical no final dos anos 50. Por ter sido o João Gilberto ela tem essa característica de samba, ele era um homem de samba. Se fosse o Tom Jobim, seria mais de canção. Se fosse o Newton Mendonça seria uma coisa mais erudita. Se fosse pelo João Donato seria uma coisa caribenha. Se fosse o Johnny Alf seria mais jazzística. Por sorte, acho, as coisas confluíram mais para essa linha do samba.
Pode-se então dizer, sem margem para dúvidas, que a paternidade da bossa é de João Gilberto. Há sempre muita gente a reclamar para si os louros, mas neste caso é inquestionável?
O que define a bossa nova não é a maneira de cantar não é nada, é o violão de João Gilberto.
É aquele 1”59 que diz que mudou tudo, na gravação do LP de Elizeth Cardoso, “Canção do Amor Demais”, em que João Gilberto participou mas em que não foi creditado.
Não é creditado porque ele praticamente não existia naqueles meses antes do “Chega de Saudade”. Para o grande público não queria dizer nada.
Mas para os outros músicos?
Já era muito conhecido.
Pode-se dizer que como há os realizadores de realizadores e os escritores de escritores, João Gilberto era acima de tudo um músico de músicos?
Não era uma coisa assim tão estabelecida porque ele ainda não tinha feito nada para provar que podia ser essa pessoa. Mas era conhecido no meio. Por exemplo, o Badeco, o violão do grupo Os Cariocas, era amigo dele, sabia o que ele estava fazendo, até porque entre o disco da Elizeth e o disco de João Gilberto teve uma gravação do “Chega de Saudade” pel’Os Cariocas, que só foi conhecida depois. O Badeco se empolgou com aquele violão no LP de Elizeth, que ele sabia que era o de João Gilberto e convenceu o Severino a gravarem o “Chega de Saudade”. Por sorte, João Gilberto também fez o violão da gravação d’Os Cariocas, também sem crédito. Até que um mês ou dois depois fez o seu próprio disco.
Que também não foi um estouro ou foi?
Foi. Num intervalo de quatro ou cinco meses todo o mundo sabia que aquilo existia.
Parece no entanto que o impacto dele junto dos outro músicos foi sempre maior do que junto do público. Ficou famosa aquela frase de Oswaldo Gurzoni [diretor de vendas da editora Odeon em São Paulo], que depois se soube que não era dele.
“É essa merda que o Rio nos manda!” Mas aí estamos falando de um homem do mercado, um distribuidor, um vendedor. Esse pessoal da área comercial é o menos musical que existe. Ele não entendeu aquilo. Para ele o que vendia discos era a grande voz.
No início, João Gilberto também se inseria na linha dos grandes cantores românticos e há um momento em que passa de Orlando Silva para Chet Baker.
Essa influência do Chet Baker é completamente sobrevalorizada. Eu demonstro no livro que nos anos 50 e 51 ouvia-se nas lojas Murray cantores americanos com aquele tipo de voz mais baixa, mais contida. O Chet Baker não foi o primeiro Chet Baker da história. Trinta anos antes do Chet Baker já existia o Chet Baker. Ele só teve essa coisa toda porque era drogado, bonitinho. Mas não teve essa importância. Passou a ter porque as pessoas deram essa importância. Mas antes dele houve Gene Austin, Jack Smith que eram cantores que na década de 20, início dos anos 30, eram mais contidos que o Chet Baker. Isso de cantar com a voz mais reduzida é uma tendência que se cristalizou na música americana e mundial depois da II Guerra. Era inevitável. O Nat King Cole Trio, que começou antes da guerra e ficou famoso depois da guerra, influenciou e definiu a maneira de cantar de inúmeros grupos americanos que se formaram inclusive com a mesma instrumentação desse trio, piano, violão e contrabaixo, e seguiam a maneira de cantar suave como era a do Nat King Cole. João Gilberto cantava daquela maneira mais romântica, com vibratos e etc. porque era o que lhe exigiam. Ele não era um artista independente. Cantava junto com outro grupo, Os Garotos da Lua, embora esse grupo copiasse o Page Cavanaugh Trio – gravaram músicas como o “All of Me”, em português, seguindo a orquestração original – eles eram contratados por uma emissora de rádio, tinham de cantar carnaval, esse tipo de coisas.
Não era um exercício pessoal. Então quando é que João Gilberto assume esse estilo mais pessoal?
É entre 1953 e 1956, quando ele voltou ao Rio. Aí aconteceu alguma coisa na cabeça dele que o transformou, na sua maneira de cantar e também de tocar violão. Ele não era conhecido como violonista, ele era a voz dos Garotos da Lua. Esse período dos anos 50, em que se consolidou essa maneira mais reduzida de cantar, é que gerou o Chet Baker, e também o João Gilberto. Não há essa ligação directa entre Chet Baker e João Gilberto, na minha opinião.

Ruy Castro é autor de títulos essenciais na história da literatura brasileira
Enquanto estava a investigar e a escrever nunca teve a tentação de desistir da história da bossa nova e fazer a biografia de alguma destas figuras, mesmo as secundárias, como Sylvia Telles, Dolores Duran, até antecessores como Dick Farney?
Não. A intenção sempre foi a história da Bossa Nova. Fui também o meu primeiro livro. Eu tinha a ideia de contar a história das pessoas que fizeram a Bossa Nova. Desde o começo essa foi a meta que me propus. Num país com uma música popular tão rica como a brasileira, os livros sobre música brasileira eram muito chatos. Ensaísticos, de análise da letra ou da tendência política, enfim, uma chatice total, inclusive sobre bossa nova, que falavam sobre estrutura harmónica e coisas totalmente fora do alcance do grande público. Não havia nada. De onde veio essa música? Quem fez? Isso é que me interessava. O que havia até então eram uns fascículos da editora Abril, que vinham com um disquinho e um encarte. Sabia-se que a bossa nova tinha começado quando João Gilberto gravou o “Chega de Saudade”, isso nunca foi questionado, e então eu lia aquele fascículo para aprender alguma coisa e lá dizia que a 10 de junho de 1958, João Gilberto gravou “Chega de Saudade”. Óptimo. Depois continuava: “Naquele ano, o presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek, que estava fazendo a indústria automóvel” e então davam uma aula de história do Brasil numa das páginas enormes do fascículo e, entretanto, João Gilberto já estava esquecido. O que eu queria saber era o que tinha acontecido depois. Ele gravou e o que é que aconteceu? Não diziam. Era uma total falta de capacidade de investigação e de reconstituição do que realmente interessava.
Na altura em que decidiu escrever o livro, disse que a Bossa Nova também estava esquecida.
Completamente. Eu comecei a trabalhar no livro em Fevereiro de 1988. A Bossa Nova estava completamente esquecida, abandonada e sepultada. Já em 68, nos dois ou três anos anteriores, era uma coisa muito problemática, já não se usava muita a expressão. Embora fosse praticada, amada, mas não pela maioria.
A própria expressão tornara-se o que se costuma dizer dos actores “veneno de bilheteira”?
Sim, completamente. Até tinham tentado mudar para MPBM, Música Popular Brasileira Moderna, principalmente nos discos de samba jazz. O Armando Pittigliani tentou impor essa sigla na Philips, também não pegou. Depois nos festivais da canção pegou essa sigla abominável de MPB. Na altura a palavra bossa era veneno e era para ser evitada. Sendo que nesse período a maioria dos grandes nomes da bossa nova, excepto um, tinham negado a bossa nova. A Nara Leão negou a bossa nova, o João Gilberto negou a bossa nova, o João Gilberto disse que não fazia bossa nova, “eu faço samba”, vários. Menos um. Houve um que sempre usou a expressão e até a forma de a usar demonstrava um carinho enorme. Foi o Tom Jobim. A época em que decidi escrever o livro, foi a de transição no Brasil do LP para o CD. Os LP de bossa nova estavam todos, todos, esgotados e não reeditados. E ainda não tinham chegado ao CD. É engraçado porque o CD começou com reedições. Era caro, tinha de começar por produtos destinados a pessoas com maior poder de compra, mais velhas. Seria normal que houvesse um repertório de bossa nova nas primeiras fornadas de CD. Tinha umas antologias, mas nada mais. Era um período em que mesmo que quisesse ouvir bossa nova não conseguia.
Voltando à fase em que a bossa nova foi renegada por aqueles que a fizeram, ainda há pouco dizia que num livro destes não há lugar para interpretações, mas nota-se a sua irritação em relação ao período em que Nara Leão renega a bossa nova, dizendo que era “música de apartamento”, e toda a gente tinha de fazer canção de protesto. Isso ainda o irrita?
A politização da música popular é, de facto, uma coisa que me irrita. Eu não gostaria que essa irritação tivesse passado para o texto. Os músicos sabem que a música não é de esquerda nem de direita. Quem acha isso são os letristas, o pessoal do chamado “conteúdo”. Os letristas que foram incorporados nessa bossa nova mais de esquerda não eram letristas profissionais, eram pessoal do teatro, o Guarnieri e outros. O próprio Vinicius, que era um homem de posições políticas inquestionáveis, nunca deixou que isso contaminasse as suas letras.
Creio que se revê na frase do Roberto Menescal: “música não foi feita para alertar coisa nenhuma.” Mas naquela altura em que o Brasil vivia uma fase conturbada do ponto de vista político, cantar o sol e o mar não era uma forma de alheamento?
Aquilo não se limitava ao sol e o mar. A bossa nova estava entrando num período extraordinário de incorporação de outras temáticas. Principalmente nas coisas do Baden Powell com o Vinicius, os afro-sambas. Havia uma incorporação de elementos folclóricos que poderia ter resultado numa coisa riquíssima, que foi infelizmente sufocada por essa coisa da canção de pseudo-protesto.
Uma das críticas que também se fazia nessa altura à bossa nova era de não ser autêntica, autenticamente brasileira, e ter muita influência exterior.
Essa é uma discussão na realidade limitada ao José Ramos Tinhorão, que era um crítico importante na época, e que foi incorporada por um ou outro músico, entre os quais a Nara e o Carlinhos Lyra, autor do famoso Influência do Jazz, né?, de 1962, né? [risos] Era a ideia de que o jazz estava tomando conta do samba e influenciando negativamente então precisamos de nos livrar do jazz, não permitir que o jazz invada as nossas praias. Precisamos impedir que a bossa nova seja tocada no Estados Unidos, Carlinhos Lyra diria isso, temos de impedir que a bossa nova saia do Rio, seja aprendida pelos americanos porque se não eles vão aprender e fazer melhor do que nós. Isso é o que você entende de Influência do Jazz. Mas na vida real não foi isso que aconteceu. Carlinhos Lyra foi tocar Influência do Jazz no Carnegie Hall. Ele foi tocar lá! Umas semanas depois Tom Jobim e João Gilberto gravaram com Stan Getz, o LP Getz/Gilberto, então imagina, isso era um absurdo [risos]. Poucos depois foi Paul Winter, saxofonista americano, que foi para o Rio e gravou com Carlinhos Lyra. E este foi morar nos Estados Unidos e trabalhou com Stan Getz, foi o primeiro a ser influenciado pelo jazz, ou seja, posso levar a sério uma acusação dessas?

Stan Getz e João Gilberto
Outra crítica era a de que a bossa não era uma música do povo, era feita por uns meninos bem, de um certo estrato social, que ignorava as raízes da música brasileira, era uma coisa demasiado sofisticada, sim.
Era sofisticada, sim, mas será que é um grande pecado? Tem de ser simplório a vida inteira? [risos]. O que é a raiz da música brasileira? Tom Jobim dizia que a raiz do Tinhorão era a do jequitibá. A base da música brasileira não é só o samba. O Tom e o Vinicius foram criados nos anos 20 e nos anos 30 em famílias com grande formação musical. As tias deles tocavam piano, declamavam poesia. Eles cresceram ouvindo canções, modinhas, valsas, valsas brasileiras. A música brasileira dos anos 10 é riquíssima, melodicamente. A música brasileira não era só o que vinha do morro, nem o samba veio do morro, entendeu? O samba nasceu no asfalto e subiu o morro, isso é sabido. Essa acusação de que a bossa não tinha raízes populares era inteiramente falsa e só demonstra ignorância de quem fazia essa acusação.
Na altura em que o livro foi publicado no Brasil muitas das figuras que aparecem ainda estavam vivas. Qual foi a reacção geral?
Os músicos em geral não são muito dados à leitura. Ao contrário dos actores. Dois anos depois saiu O Anjo Pornográfico [a biografia de Nelson Rodrigues] e a adesão foi imediata e monumental porque os actores estão habituados a ler. Os músicos são um pouco mais lentos [risos]. Mas eu tive uma adesão, digamos assim, que só não foi total porque tive dois adversários muito fortes que foram o Sérgio Ricardo – que se sentiu pessoalmente ofendido por algumas coisas que contei dele e que ele talvez gostaria que não contassem – e o Caetano Veloso. Veja bem. Antes do meu livro, havia um livro sobre bossa nova, uma colectânea de artigos todos muito técnicos, que era O Balanço da Bossa, do Augusto de Campos, que era uma espécie de mentor intelectual do Caetano. Dois artigos na Folha de São Paulo usaram por acaso a mesma frase “Chega de Saudade desautoriza O Balanço da Bossa”, ou seja, se ler este não precisa de ler o outro. O Caetano se sentiu na obrigação de defender o outro livro, mas em vez disso preferiu atacar o Chega de Saudade, dizendo que era um livro cafajeste.
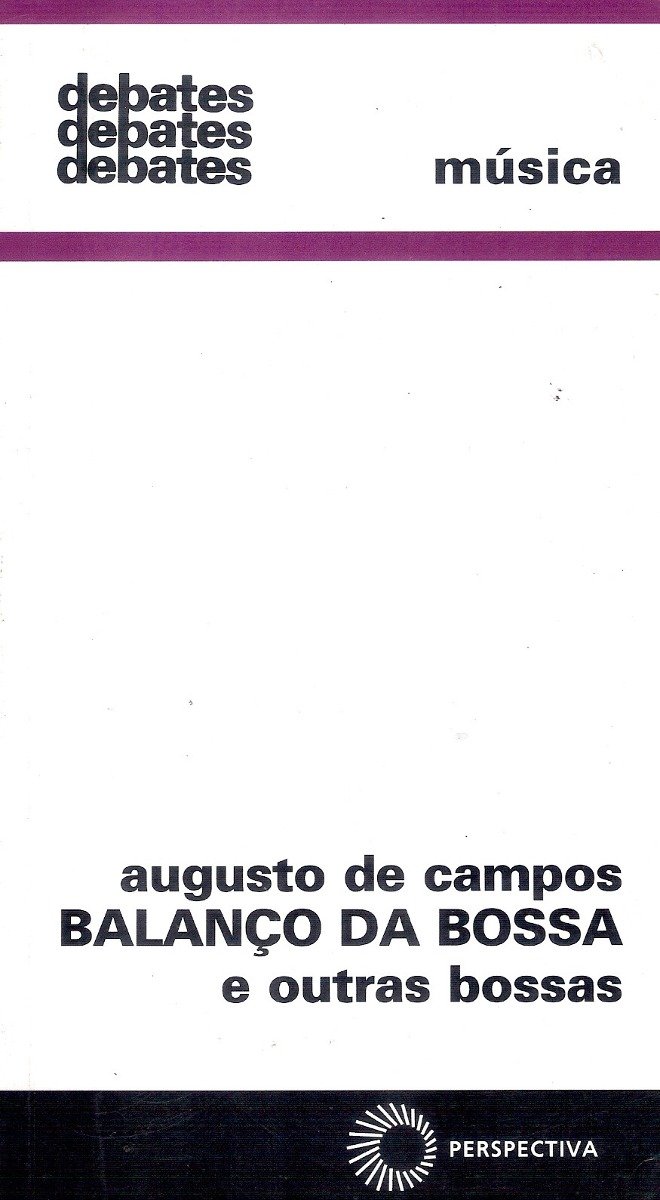
O livro de Augusto de Campos
E o que é que argumentava?
Não argumentava muito, livro cafajeste talvez porque falava da vida das pessoas que fizeram a bossa.
Essa é uma questão delicada. Pode-se dispensar a colaboração dos herdeiros para escrever uma biografia?
Não, eles têm acesso aos documentos, têm fotos muito íntimas, histórias. É preciso ter uma colaboração.
Como é que gere o interesse do biógrafo, que é o de aceder à informação, e o interesse dos herdeiros, que é muitas vezes o de não deixar que certas coisas se saibam?
Estamos fazendo uma digressão em relação à recepção do livro, mas então já voltámos. Eu costumo esperar entre seis meses a um ano até informar os herdeiros de que estou a fazer um livro sobre o seu familiar. Nos casos do Nelson Rodrigues, da Carmen Miranda e do Garrincha, principalmente, já estava a trabalhar nos livros quando lhes comuniquei. E como já sabiam disso porque tinha saído nos jornais e como já conheciam o meu trabalho nunca ninguém colocou a menor restrição a nada. O que acontece é que por vezes os herdeiros não sabem nada sobre o seu parente ilustre. E se souberem muito vão saber muito sobre o que a pessoa fazia dentro de casa. A família do Nelson Rodrigues conhecia-o muito dentro de casa, mas sabia pouco sobre ele nas redacções dos jornais ou no Maracanã ou nas ruas ou na casa dos amigos ou na casa das namoradas dele. Ou seja, sabiam muito pouco. Aprenderam com o livro. Com o Chega de Saudade nunca tinha sido feita a história das pessoas que fizeram um movimento musical, com tantos pormenores sobre a vida pessoal no que essa vida particular se relacionava com a criação. Foi uma novidade. Mais ainda: a riqueza de detalhes levou as pessoas a perguntar onde é que o autor tinha ido buscar essas informações todas. Como é que eu sabia que um sujeito tinha coçado o nariz antes de falar? E a resposta é óbvia: sei porque falei com pessoas que estavam lá e viram. Daí a quantidade enorme de informantes a quem agradeço no final do livro. Então as reacções negativas foram apenas aquelas duas. Com o Sérgio nunca me recompus, não por falta de vontade da minha parte. Com o Caetano, conta como foi [Ruy Castro pede à mulher, Heloísa, que conte a história]:
“Eles se encontraram num show no Canecão e o Caetano quando o viu abriu os braços e disse: “Rapaz!” [risos]
Então ficou tudo sanado?
Claro. Caetano é um homem inteligente. Sabe que o livro é bom. [risos].
Esse limite da relevância da vida privada para a criação é o único que se impõe a si próprio?
Na investigação eu tenho conhecimento de muita coisa pessoal e íntima. E acho que só interessa se tiver a ver com a criação. Nesse caso não há limites. Agora no caso do Garrincha, que era jogador de futebol, como fazer? Havia duas coisas delicadas em relação à investigação e que não eram nada secretas, aliás, eram tão públicas que as pessoas me encontravam na rua e sabiam que eu estava fazendo o livro me perguntavam se eu ia contar que ele era filho da irmã dele. Isso seria um facto muito grave. Fui oito vezes à cidadezinha onde ele nasceu, encontrei pessoas de famílias que já estavam lá desde o início do século, antes da chegada da família do Garrincha, e muitas pessoas ainda se lembravam de ver a mãe do Garrincha grávida. Aquela história era falsa. Eu esclareci isso no livro. A outra história era a de que Garrincha tinha estuprado a filha de Elza Soares. Eu tenho um desmentido da própria Elza Soares, entre outros. Esses mitos todos, o biógrafo tem o dever de os enfrentar, não pode fugir deles. Agora suponha que tinha sido verdade, qualquer uma dessas situações, eu teria publicado. Era importante para compreender o futebol dele? Não. Mas o futebol representava 10% das preocupações dele, portanto ocupa uns 10% do livro.

Manuel Francisco dos Santos: Garrincha
As pessoas mentem muito?
Não mentem, não, surpreendentemente. O que fazem às vezes é aumentar um pouco a sua participação na história para parecerem mais importantes. Depois há as versões conflituantes, como no caso do Nelson Rodrigues em que havia de um lado a viúva de Nelson com os filhos – dona Elza e Joffre e Nelsinho – do outro lado, as irmãs de Nelson, que odiavam essa parte de cá. Não só odiando Elza, mas todas as mulheres de todos os irmãos Rodrigues e seus descendentes. Aquelas irmãs Rodrigues, que eram umas cinco, tinham uma coisa assim incestuosa, para elas todos os irmãos Rodrigues eram lindos, geniais e impecáveis.
O próprio Nelson tinha essa admiração pelos irmãos.
Tinha, sim. Era uma família rodriguiana no sentido total do termo, em que todos eram meio apaixonados entre si. Os irmãos talvez tivessem uma visão mais crítica das irmãs. Há várias peças do Nelson em que sempre tem aquelas tias solteironas, neuróticas, que não dormem para não sonhar com sexo, quase todas virgens com noventa anos, todas eram as irmãs. O Nelson se baseava nas irmãs para fazer aquelas tias. [risos] Então eu ia para casa de dona Elza para conversar com ela e ouvia um relato x e da parte da tarde ia falar com o outro lado e ouvia um relato y do mesmo facto. E os dois acusando o outro lado de mentir.
Como é que desempatava?
No começo desempatava valendo-me de informações de pessoas que frequentavam e que tinham conhecimento dos factos. Ao fim de um tempo, comecei a desempatar por conta própria. Já sabia como era. Então quando o livro saiu, os dois lados ficaram contra mim.
Quer dizer que fez um bom trabalho.
É a frase de Oscar Wilde: “quando os críticos discordam, o artista está de acordo consigo mesmo”. Aí aconteceu uma coisa extraordinária. O livro ficou pronto, fui buscar exemplares a São Paulo, voltei para o Rio e deixei um livro para cada facção. Deve ter sido uma quinta-feira. No domingo, o Joffre me liga e diz: “A mamãe está puta com você porque você contou que o papai arranjou uma namorada que tinha sido namorada de infância”. E eu falei: “Jofre, mas eu não tenho culpa se seu pai prevarica. Quem prevaricou foi ele, não fui eu. Eu só contei”. Na segunda-feira de manhã, o Jornal do Brasil sai com uma página inteira com as irmãs me esculhambando, dizendo que eu tinha favorecido a viúva e os filhos. Ao ler isso, o lado de dona Elza ficou do meu lado. Ela deve ter pensado se as irmãs não gostaram, ele deve estar certo. [risos] Eu lamentei porque gostava muito das irmãs, mas ficaram de mal comigo.
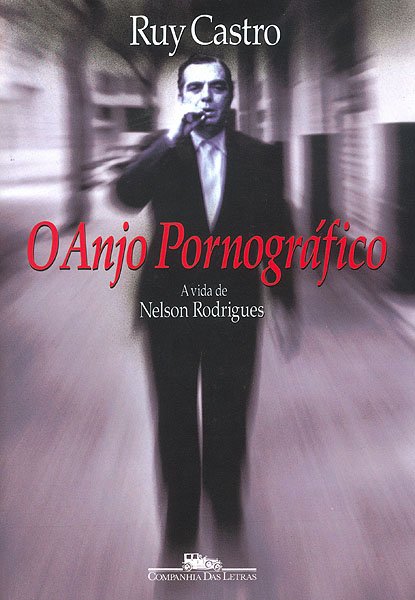
“O Anjo Pornográfico”, livro de Ruy Castro sobre Nelson Rodrigues
Quais os critérios para escolher uma figura para escrever a biografia? É uma decisão séria, quase como um casamento porque já sabe que vai passar anos a conviver com aquela pessoa.
A escolha nunca se baseia só no nome da pessoa. O nome aparece de repente e depois penso numa série de factores que me levam a decidir se aquela é uma boa ideia. O contexto, a época, os acontecimentos, as pessoas em redor daquela figura. Porque você não biografa só aquela pessoa, mas o grupo em que ela se insere, um outro grupo mais remoto, a população da cidade onde ele vive, o país. E eu tenho de me interessar por isso tudo. Por exemplo, eu jamais seria capaz de biografar a Leila Diniz [actriz brasileira que morreu em 1972 num acidente de viação] porque ela estava cercada de pessoas de que eu não gosto, conheci quase todas e não me interessam. No caso da Bossa Nova, Nelson Rodrigues, Garrincha, havia uma série de factores que me interessavam. Então depois de escolher, olho para as minhas estantes e vejo se tenho alguma coisa para começar a investigação. E ou tenho uma quantidade enorme de livros, recortes de jornais, ou tenho todos os discos, ou todos os filmes que é como se eu já estivesse me preparando para biografar aquela pessoa há décadas. É uma personagem que já está incorporada em mim e de quem já tenho muito material para começar.
Nos casos de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues também tinha a motivação de fazer justiça a estas figuras, ou seja, de as mostrar para além da superfície: Carmen com as frutas na cabeça ou Nelson Rodrigues como o reacionário?
Não há essa motivação explícita, mas há a motivação abrangente de mostrar que há um personagem muito mais rico e complexo e maior do que se imagina. Talvez o que me motiva mais profundamente é mostrar a grandeza dessa pessoa como artista. No caso de Carmen Miranda, eu contaminei todas as pessoas em volta com a paixão pela música que ela gravou no Brasil. No caso de Nelson Rodrigues também é impressionante porque quando o livro saiu em 1992 ele estava esquecido. De vez em quando faziam uns espectáculos em São Paulo, principalmente o Antunes Filho, que tinha uma visão errada do Nelson Rodrigues. Como paulista ele não entende o humor carioca do Nelson, que tinha esse lado, e outro de tragédia grega. Antunes Filho se concentrava na tragédia. Eu disse ao Sábato Magaldi: “olha, o Antunes quer transformar o Nelson num grego, eliminar a parte carioca, mas ele não sabe que os gregos também eram cariocas. Faziam espectáculos no meio da rua, todo o mundo na maior esculhambação”. [risos]
Ao ler os seus livros é fácil apaixonarmo-nos por aquelas figuras. Alguma vez se sente tentado a poupar o leitor a algum pormenor desagradável sobre a figura?
Não, não. No caso do Nelson Rodrigues, estão lá todos os defeitos, a vaidade, os exageros, as brigas pessoais. O meu dever como biógrafo é se a figura está num pedestal tirá-la de lá, achar todos os defeitos dela. Eu nunca poderia biografar uma pessoa que eu deteste porque a minha obrigação seria procurar as suas qualidades.

Ruy Castro em Lisboa
Os seus livros são retratos do século XX. Acha que pode ser acusado de glamourização do passado? Sei que não gosta que o chamem de nostálgico.
Olha, o que me interessa no passado não é o glamour. Eu me interesso pelo passado porque é um país diferente que vou visitar pela primeira vez. Não tenho uma visão pré-concebida sobre esta ou aquela época. Passei a minha vida cercado de pessoas muito velhas, aprendi muitas coisas antes de pensar em estudá-las. Se há um certo glamour nessa visão do passado é porque eu herdei essa visão dos mais velhos. Significa que talvez não estivessem muito erradas.
Sempre disse que não quer fazer biografias de pessoas que ainda estão vivas. Daqui a cem anos que figuras actuais acha que vão merecer uma biografia?
No caso de brasileiros, seria muito importante uma biografia do Roberto Marinho, do Pelé e agora do Lula.
Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor, e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015