Título: Projectar a Ordem. Cinema do Povo e Propaganda Salazarista, 1935-54
Autora: Maria do Carmo Piçarra
Editora: Os Pássaros
Páginas: 420, ilustradas
Preço: 17 €
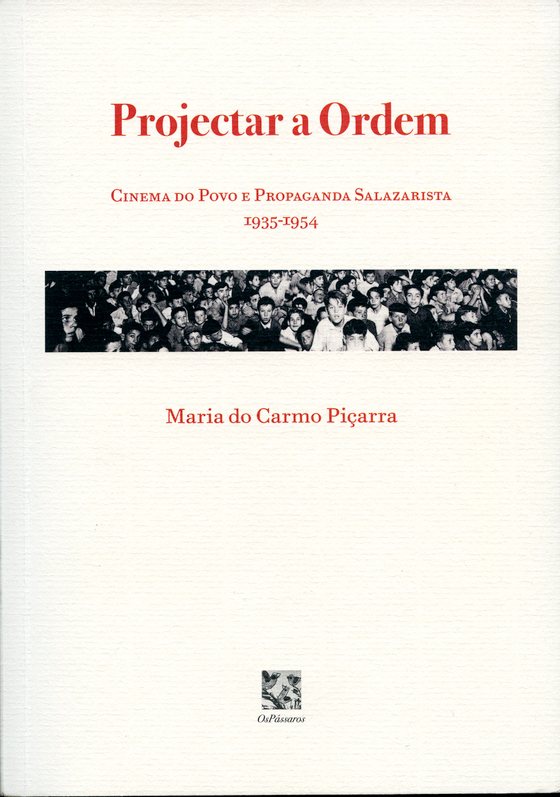
A capa de “Projectar a Ordem. Cinema do Povo e Propaganda Salazarista”, de Maria do Carmo Piçarra (Os Pássaros)
António Ferro e o seu trabalho no Secretariado de Propaganda Nacional continuam a ser objecto de inquérito, algo parecido com um fascínio às avessas, ou contrariado, como se óbvio reconhecimento do seu arrojo ou audácia estética se contrabalançasse a par e passo, num sobe e desce incessante, com repúdio ideológico ao seu elogio do Estado Novo, esse monstro sujo e repelente que de súbito se ergueu do lago paradisíaco da Primeira República de tão saudosa memória… Fascínio tanto mais contrariado quanto os protagonistas dessa inclusão do cinema na engrenagem salazarista foram os que mais cedo e melhor entenderam o cinema como a grande arte do século: o próprio Ferro, com a sua conferência “As grandes trágicas do silêncio” (1917) e o seu livro de reportagens em Hollywood (1931); mas também António Lopes Ribeiro, com a sua viagem à Rússia de Eisenstein em 1929 narrada aos leitores do Diário de Lisboa; e Leitão de Barros, com a sua peregrinação aos estúdios berlinenses da RKO, na vanguarda estética e técnica europeia. E como se não bastasse, muito ao contrário da literatura e das artes plásticas, onde alcançou evidente predominância durante largos anos, a influência neo-realista no cinema feito em Portugal foi mínima, e mesmo essa mínima foi alavancada por realizadores afectos ao regime: Leitão de Barros com Ala-Arriba! filmado na Nazaré, no mesmo ano 1942 em que Lopes Ribeiro ajudou bastante Manoel de Oliveira a fazer Aniki-Bobó no Porto. As coisas são o que são…
A gargantas de hoje continua a ser difícil de engolir que, há quase cem anos, artistas a serviço dum autoritarismo de direita tivessem colhido directamente num autoritarismo de esquerda (pelo qual, parece, continuam fascinadas e iludidas) as grandes lições de como seduzir — ou domesticar — pela formidável arte gráfica e pela novidade dos “milagres do cinema” (p. 30) uma população analfabeta, ou muito perto de o ser, com propaganda e doutrina espalhada a todos os recantos de país por um Estado revigorado e omnipresente. E muita gente ainda não quis ver — embora entre olhos abertos adentro — que a estética neo-realista foi autorizada e até bem acolhida em encomendas públicas e exposições oficiais de grande e pequena dimensão, como ar do tempo consentido, sem mais, ou que arquitectos e decoradores modernistas de talento mas claramente desafectos ao regime — alguns deles com ficha na polícia política, ou que já haviam sido presos — trabalharam para o Estado, na metrópole, ilhas e colónias (Arménio Losa é um exemplo). Rolando Sá Nogueira, Maria Keil, Júlio Pomar e Alice Jorge, por exemplo, assinaram painéis cerâmicos nas escadarias da Avenida Infante Santo, em Lisboa — uma muito destacada obra urbanística dos anos 1950 — e, que conste, sem melindre para uma e outra parte.
Neta de Leitão de Barros: “Durante muitos anos não quis saber da memória do meu avô”
A revista Vértice publicou-se mensalmente de 1942-45 até depois de 1974, com matriz ideológica e estética que não deixava ou deixa dúvidas a ninguém, e História da Literatura Portuguesa de Óscar Lopes e António José Saraiva, lançada em 1955, tornou-se livro oficioso do ensino secundário quando os seus autores há muito tinham sido reconhecidos como militantes comunistas e um deles vivia exilado nos Países-Baixos (o outro seria membro do comité central do PCP de 1976 a 1996, quando a surdez o impediu de continuar). Enquanto desenhava contra o regime na primeira página do vigiadíssimo Portugal Livre, jornal de oposicionistas exilados no Brasil, e de ser fotógrafo-capista das Memórias do capitão Sarmento Pimentel, altamente desafectas a Salazar, Fernando Lemos — muito apreciado naquele país — foi contratado pela TAP para conceber enormes tapeçarias murais em decoração das agências paulista e carioca da nossa companhia aérea “de bandeira” e trabalhou com Manuel Lapa (SPN), e outros, nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo.
A história cultural portuguesa precisa de revisitações objectivas, e personagens complexas esperam ainda biografias de grande alcance. António Pedro (1909-66) tem sido escandalosamente evitado, e foi o insólito desinteresse historiográfico pela figura central de José Leitão de Barros (1896-1967) a inspirar um livro quase superficial, de duas netas suas (ed. Bizâncio, 2019), com as consequências inerentes. Também Rita Ferro procurou ultrapassar esse bloqueio, dedicando a seu avô António uma biografia romanceada (Dom Quixote, 2016), cujo subtítulo “Um Homem por Amar” é bem explícito.
Maria do Carmo Piçarra conhece bem o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, donde colheu materiais para outros livros e trabalhos académicos. Sabe, por exemplo, que “o Cinema Ambulante do SPN/SNI [com projecções ao ar livre] ajudou a suprir a escassez de salas de cinema” (p. 57), tanto quanto — mas não o diz, apesar de o modelo ser o mesmo… — as saudosas bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir de 1958, viriam a suprir a falta de bibliotecas nas cidades pequenas, vilas e aldeias, por sugestão de um escritor independente, Branquinho da Fonseca. Levar o cinema de ficção ou documentário a escolas infantis também foi uma boa ideia, que ainda frutifica. Filmes de “instrução agrícola” também foram exibidos em povoações rurais, a pedido destas (p. 94), e nos últimos anos deu-se apoio a campanhas de alfabetização de adultos.
A própria inclusão (uma palavra nobre nos dias de hoje…) territorial e social que António Ferro pôs em marcha com a itinerância dos dois camiões cinematográficos do SPN e sessões gratuitas, seria amplificada — e a autora também não o refere — por audições musicais e palestras culturais de indiscutível qualidade que ele promoveu enquanto diretor da Emissora Nacional, tudo isso obedecendo a um projecto ou plano cultural articulado e dinâmico com raízes firmadas no Modernismo, como percebe quem leia os discursos do director do Secretariado ao longo de duas décadas, compilados em livrinhos temáticos. É sabido que essa acção audaciosa e moderna — sublinho: moderna — enfrentou obstáculos e adversários internos (incluindo a reticência e a forretice do ditador; v. pp. 39, 42, 52, 183, 212, 324, 387), mas persistiu com garbo e lucidez formidável, sem comparação à sua altura até hoje.
O livro tem como dedicatória “Para os cineclubes e cineclubistas. Para os criadores do Cinema Novo. || Através dos filmes, rasgaram o olhar e desenharam a liberdade por vir”. Fica por explicar que tais associações de cinéfilos foram basicamente fenómenos de grandes centros urbanos (com excepção de Olhão, Santarém e Portalegre, creio) e os cineastas ditos novos a mera importação provinciana de francesismos em moda, por parte de uma média-alta burguesia armada ao pingarelho.
Entre abundantes noticiário e propaganda de ideologia e obras públicas, produzido pelo próprio SPN, e discursos laudatórios a Carmona e Salazar, nos primeiros anos foram exibidos por “localidades não equipadas” do país continental, “mesmo ao pé da porta de todos”, “até às aldeias mais sertanejas”, “ao bom povo destas serranias” (cit., pp. 221, 247, 285), A Revolução de Maio de Lopes Ribeiro — visualmente inspirado num filme de 1935 da alemã Leni Riefenstahl, visionado em sessão muito restrita, sugere Piçarra (p. 134) —, A Canção da Terra de Jorge Brum da Costa, “um dos mais interessantes filmes da época e do seu realizador” (p. 174), e As Pupilas do Senhor Reitor de Leitão de Barros. A Revolução de Maio, aparatosamente estreado no Tivoli de Lisboa em Junho de 1937, passeara com o Cinema Ambulante antes disso e levaria ainda 8000 ao Palácio de Cristal, do Porto, em Novembro de 1938 (v. foto p. 243). Estreado em 1942, Aniki-Bobó foi mostrado aos recantos do país ao longo de 1945. O Pátio das Cantigas de Francisco Ribeiro, o gracioso Ribeirinho, também de 1942, viajou tanto e foi tantas vezes projectado em 1947, que a cópia utilizada se degradou consideravelmente…

António Silva e Vasco Santana em “O Pátio das Cantigas”, filme de 1942, realizador por Francisco Ribeiro
Legionários e filiados da Mocidade Portuguesa, todos fardados, distinguiam-se das plateias em praças (precisavam de se fazer notados, certamente) ou, por imperativos meteorológicos, em amplos recintos cobertos, a que muitos ocorriam motivados pela curiosidade. “A quantidade de espectadores é impressionante: 242 270 pessoas” em 1944 (p. 304) e no ano seguinte 259 950 espectadores (p. 318), e apenas para uma das unidades móveis. As coisas nem sempre corriam bem, longe disso: por atraso no horário, avaria de equipamentos (“constantes”, diz a autora à p. 294), projecção de cópias deterioradas ou de bobines trocadas, erosão das condições de viagem e trabalho, mas também por desaguisados entre os três elementos de cada equipa móvel ou conflitos de autoridade entre algum destes e os parceiros locais, mas o maior percalço foi o desabamento do edifício em que em Freamunde (Paços de Ferreira), a 27 de Novembro de 1938, se realizava uma sessão que acabou em tragédia (pp. 248-60) e obrigou a reforçar os protocolos de segurança. Devido à guerra, em 1942 e anos seguintes o racionamento de combustíveis afectou a itinerância dos cinemas ambulantes, levando-os mesmo à imobilidade em certos distritos e ao consequente cancelamento de sessões, gerando protestos locais (p. 298).
A meio deste caminho, foi a disputa entre géneros cinematográficos a determinar de algum modo o futuro desta campanha de levar filmes onde não havia onde projectá-los. Ferro dava preferência a filmes-documentário “expressivos e educativos” — elogiando, em particular, a trilogia dedicada aos pescadores da Nazaré — e a filmes históricos de adaptação literária, enquanto Lopes Ribeiro fazia o jogo dos seus interesses particulares de realizador e produtor autónomo (apostando até num “cinema ibérico”…), e Manuel Félix Ribeiro (1906-82, que viria a ser primeiro director da Cinemateca Portuguesa, fundada em 1948) programava o Cinema Ambulante privilegiando o gosto popular de comédias urbanas ou filmes regionais como Um Homem do Ribatejo de Henrique Campos (em que Eunice Muñoz se estreou), que muito sintomaticamente preferiu em 1946 a Camões de Leitão de Barros.
Nesse sentido, parece poder dizer-se que António Ferro perdeu algures o controlo ou a linha de rumo desta parte tão significativa do seu magistério cultural, depois de ter pugnado pelo incremento da produção cinematográfica feita por portugueses e pelo acesso de todos à grande arte do seu tempo.
















