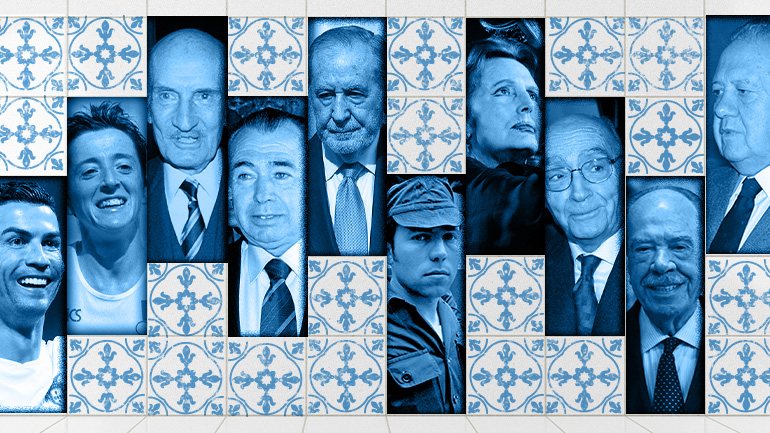Índice
Índice
Ouvido o disco às cegas, só música a tocar sem mais informação, ainda adivinharíamos que era ele, David Santos, o autor dos ritmos e das canções — ouvimos uma melancolia desacelerada nas canções e um tom poético que é dele, Noiserv, reconhecível à distância e independente do idioma e das melodias recém-criadas. Mas Uma Palavra Começada por N, o novo álbum que o músico português edita com o seu nome artístico — com o qual anda a desvendar canções há 15 anos — é novo, efetivamente novo.
Conhecido pelo universo onírico e emotivo da sua música — desapressada, mais reflexiva do que inquieta —, Noiserv já tinha editado três álbuns completos (a que se somam dois mini-álbuns, ou EPs) antes deste novo Uma Palavra Começada por N, que chegou às lojas e plataformas digitais na última sexta-feira, depois de as canções terem vindo a ser reveladas uma a uma, ao longo de 11 meses.
Em entrevista ao Observador, o músico explicou o porquê de ter feito agora um álbum novo todo ele em português, depois de vários discos cantados em inglês e um álbum anterior a este predominantemente instrumental e ao piano, mas em que o idioma já se intrometia. E falou sobre como viveu o período de confinamento, como vê as dificuldades da internacionalização dos artistas portugueses, como vê o online e o digital na indústria da música — agora que os espectáculos presenciais desaceleraram — e como passou de engenheiro eletrotécnico fã dos Radiohead e do disco OK Computer a músico profissional.
Sobre a paralisação dos concertos e as dificuldades de um músico em contexto de pandemia, respondeu lembrando as suas escolhas de vida: “Fiquei com uns 15 concertos cancelados entre março e julho. É um desastre, verdadeiramente. Mas e então? Tirei engenharia, ainda trabalhei uns anos como engenheiro, fui eu que escolhi ter uma vida que acho que comparativamente à que tinha é muito melhor, muito mais reconfortante, muito mais emotiva, muito mais viva. Tem esta consequência de se de repente as coisas pararem… mas foi o que escolhi fazer.”
“Se estiver meio entupido da cabeça, não consigo fazer nada”
Quiseste que a entrevista acontecesse num café e restaurante em São Bento, em Lisboa. Que importância tem este sítio e porque estamos aqui?
Uma das donas é uma amiga minha de há muito tempo. Quando me pediram um sítio que pudesse ter a ver com alguma inspiração… não sou uma pessoa que se inspire muito em sítios, inspiro-me mais nas pessoas à minha volta. Portanto neste caso só havia duas hipóteses: ou relacionado com o estúdio ou relacionado com alguma pessoa que esteja próxima de mim. A escolha de ser aqui foi maioritariamente por isso. Há quanto tempo venho aqui? [pergunta mais alto, em direção ao balcão: ‘Há quanto tempo é que isto abriu, Daniela?’ Daniela responde: ‘Faz em novembro dois anos.’] É desde o início.
Acontece-te teres ideias ou escreveres palavras, frases, versos, em sítios públicos? Ou normalmente acontece mais quando estás em casa e te dedicas e predispões a isso?
Acho que acontece as duas coisas. Maioritariamente as coisas surgem mais quando estou em casa ou no estúdio, com o foco de compor. O que acontece em sítios destes é poder estar a ter uma conversa e na conversa poder haver uma frase. Quando há uma frase qualquer que ache boa costumo escrever nas notas do telefone. Já aconteceu algumas dessas frases depois poderem, não sendo o tema de uma música, fazerem parte de uma letra. Há frases que acho bonitas e tenho uma lista de frases bonitas. Quando digo bonitas, quero dizer: que me digam alguma coisa metaforicamente.
Nos períodos em que estou muito imerso a escrever músicas, posso estar quase diariamente à procura desses momentos. Quando não estou à procura e acontecem, guardo. Já me aconteceu ir às notas do telemóvel ver e pensar: ‘esta frase é gira, gostava de usar isto eventualmente porque faz sentido com o tema desta música’.

▲ "Parece que os discos são velhos no dia em que saem. Parece que escolhemos dois ou três singles e de repente o disco é só duas ou três músicas que passaram ou não na rádio"
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Normalmente as tuas canções têm sons muito específicos, camadas, palavras, muitos ‘barulhinhos’ — sendo que este disco tem especificidades. Há algum método habitual que tenhas para fazer nascer as canções, algum instrumento no qual normalmente comeces?
Tirando uma ou outra mais estranha, as músicas começam todas ou na guitarra ou no piano. E muitas começam na guitarra, que é o instrumento que tenho em casa mais próximo. Há sempre um rascunho de 20 ou 30 segundos que depois gravo nas gravações de áudio do telefone. Mais tarde, quando vou ouvir as coisas que fiz, pego nesses rascunhos todos e acabo por passar à fase seguinte que é tornar aquilo eventualmente uma música maior. E aí o processo é praticamente sempre o mesmo, gravo um bocadinho e depois sem um grande limite de tempo definido ando à procura de sons que acho que encaixem bem em cima daquele som. Quando encontro um que acho que se calhar encaixa bem, esse depois criativamente leva-me para outro. E esse outro se calhar já pode ser o refrão.
É um caminho que pode demorar um dia como pode demorar dois meses. É uma construção em que não sei onde vou chegar no final, ando para ali às voltas. Quase nunca me acontece ter logo a estrutura toda no tal instrumento primário, que é a guitarra ou o piano, e depois fazer só arranjos. Quase nunca é assim. Tenho um bocadinho primeiro, mas depois toda a estrutura vai acontecendo e vai-se criando em simultâneo, com várias coisas.
O estúdio fica em tua casa?
Fica em Lisboa mas não na minha casa. Fica numa loja perto de minha casa.
Há pessoas que precisam de se refugiar — por exemplo em residências ou em locais mais recônditos — para se inspirar, isolar-se e compor. No teu caso acontece naquele espaço, é possível ali?
Sim, sim. Até acho que às vezes o isolamento total quase corta-me mais do que me dá alguma coisa.
Sentiste isso na quarentena?
Na quarentena não consegui fazer nada de especial. O que me inspira é estar bem disposto. A música pode ser triste, mas tenho de estar com uma boa disposição para pegar na guitarra e aquilo me soar bem. Se estiver meio entupido da cabeça, não consigo fazer nada. Acho que essa boa disposição — ou essa abertura emotiva para gostar de uma coisa que fiz — acontece quando passo um dia bom com pessoas, quando tenho essas experiências. A quarentena fez com que isso tudo se reduzisse a muito menos ou quase nada, portanto houve ali quase um lapso de inspiração.
Voltando à questão do refúgio, neste disco fiz uma coisa um bocadinho diferente: depois de ter esses tais rascunhos fiz um género de uma residência, não para fazer mais músicas mas para durante cinco dias ouvir aqueles rascunhos e os poder eventualmente escolher. Não fiz nada de novo, mas serviu para filtrar o que já tinha feito. O surgir das coisas não me acontece numa semana, esses rascunhos que falava surgem se calhar ao longo de um ano e meio. E depois quando tenho um conjunto de rascunhos suficientes que me levem a pensar que posso fazer um disco é que passo para a fase seguinte.
[“Picotado”:]
Tinha essa dúvida: se as canções deste disco foram-se construindo ao longo de mais tempo ou foram condensadas num período em que pensaste ‘tenho mesmo de fazer um disco’?
Acho que a parte de arranjos e finalizar as músicas foi condensada. Aqueles primeiros bocadinhos de piano ou guitarra foram espalhados no tempo, desde se calhar 2016 — desde o último disco que tinha lançado. A partir daí, fui gravando as pequenas coisas que fui fazendo e de que gostei.
Aquilo foi somando, somando, até chegar a uma altura, talvez ao fim de dois anos de um disco, em que começo a sentir que já era bom ter uma outra música nova no concerto. É quando começo a pensar: já tenho tantos rascunhos, será que isto já dá para fazer um disco, será que isto já tem alguma base para ser um disco? Foi nesse momento que fiz a tal residência de cinco dias em Montemor-o-Novo, no Espaço do Tempo. Ali consegui realmente passar desses 20 ou 30 bocadinhos que tinha para 12 ou 13. Depois já em casa e no estúdio, peguei em cada um e trabalhei-os, tornando-os maiores ou mais pequenos.
Este disco foi revelado de uma maneira diferente: foste descortinando os temas ao longo do tempo, canção a canção. Porquê essa estratégia, porquê fazer isso agora com este disco?
Acho que existiram vários motivos. O primeiro foi sentir que hoje em dia parece que os discos são velhos no dia em que saem. Parece que escolhemos dois ou três singles e de repente o disco é só duas ou três músicas que passaram ou não na rádio. Sinto que muitas vezes acontece o resto do disco só ser descoberto por quem comprou, e mesmo assim… Isso fez-me pensar: de que forma é que cada uma das músicas pode viver da mesma forma? Claro que algumas poderão ser mais orelhudas ou mais rápidas a chegar às pessoas, mas porque é que não podem ter todas o mesmo tempo, o mesmo destaque?
Aí o impacto já depende só das reações das pessoas — não é o autor que decide quais destaca mais.
Não depende da maneira como se apresenta as canções, exato Juntamente com isto, houve quase uma definição do conceito de todo o disco. Comecei a perceber que queria que o disco vivesse como um todo, então os próprios videoclips poderiam ser um só. Queria fazer vídeos para todas as músicas para que elas se unissem de uma forma que as minhas canções nunca se tinham unido antes. Isso tudo fez-me pensar nisto, de ir apresentando canção a canção.
Chega outubro, tinha o disco mais ou menos acabado e pensei: posso lançar em fevereiro, mas gosto mais de lançar os discos em setembro. Lançando em setembro, faltavam 11 meses. Tirando o primeiro tema do disco, que é mais uma introdução, são dez canções. Então, começando a mostrar o disco em dezembro, tinha precisamente dez meses até ao dia em que o disco sai. Aí pensei: posso dar um mês a cada música e cada música vai ter um vídeo. Cheguei a discutir com a equipa de promoção lançar um vídeo por semana ou um vídeo por dia durante uma semana, mas isso não dava tempo a cada canção. Assim, é uma escolha das pessoas ouvir mais esta ou aquela, mas quem me seguisse todos os meses tinha sempre uma canção nova para ouvir. Quis também ir lançando os temas com uma ordem diferente da que está agora no alinhamento do disco.
“Pensava: até que ponto é válido fazer outro disco?”
Numa entrevista recente, dizias que este disco não tem tanto aquela linguagem das caixinhas, dos brinquedos, dos ‘plim-plins’ que te ficou associada — e que era um disco de sons mais adultos, sem que isso fosse melhor ou pior. Quanto da ideia de ires criando universos musicais diferentes a cada disco, mesmo que com a tua marca, é um plano consciente para não te repetires?
Mais do que um plano, é um objetivo: desafiar-me sempre a fazer alguma coisa diferente. Pegar num teclado dos anos 80 e fazer um loop de cinco minutos de ‘plim-plins’, como se costuma dizer, parecia-me fácil. Não é que não dê trabalho perceber como esses sons se tornam uma música, mas era uma coisa que já facilmente conseguia fazer. Até no disco de 2016 em que fui para o piano, fui para fugir disso. Pensei que iria fazer um disco igual ao anterior se não me provocasse a ser diferente. O piano foi esse corte, o gatilho para a minha cabeça ir para outro sítio qualquer.
No seguimento do anterior, este disco é mais uma tentativa de explorar coisas que não tinha ainda explorado. O disco que lancei em 2013 tinha esses elementos mais infantis, sem qualquer prejuízo para eles. Aqui tive vontade de procurar outras coisas, se calhar perdi muito mais tempo com algumas coisas. Todas as músicas têm introduções, existem introduções de texturas que os outros discos não tinham tanto. Se calhar aqui perdi uns três dias para fazer a entrada de uma música e no início se calhar não fazia isso. Acho que tive um cuidado maior com cada som e não só com a sobreposição dos sons.
Esse disco anterior, de 2016, já era muito distinto dos antecessores — era predominantemente instrumental, muito ancorado no piano. Já dominavas totalmente a linguagem que tinhas mostrado antes? Corrias o risco de fazer só mais uma variação da mesma estética?
Não sei, mas o desafio era fazer diferente. Até a questão de cantar em português e não em inglês teve a ver com isso. O disco de piano tinha sido uma experiência com o português e agora este era um novo desafio: temas em português mas com loops. No próximo disco que venha a seguir, ainda não perdi tempo para pensar qual será o desafio diferente mas acredito que de alguma coisa me lembrarei.
A aprendizagem, o desafio, é também o que me dá gosto nos discos. Este álbum tem uma vertente rítmica muito mais forte e perdi mesmo muito tempo à procura não só de instrumentos virtuais, de caixas de ritmos antigas, de caixas de ritmos novas, mas de sintetizadores mais estranhos. Queria sons diferentes. Houve uma procura grande por esse sítio que não conhecia, não porque domine totalmente o outro mas porque o que me dá mais gozo é fazer o que nunca fiz. Acho que se percebe que há uma identidade, que é a mesma pessoa a fazer, mas há uma busca por um caminho que ainda não tinha feito.
Ainda nessa entrevista, dizias: “Este disco, como todos os discos, acaba por refletir muito o meu estado de espírito quando estava a escrever as músicas”. Assim sendo, o que diz o tom deste disco — o facto de ter um tom sóbrio, adulto, com menos elementos infantis — do período em que escreveste as canções?
As texturas pode ter a ver com uma tentativa de explorar cada som de uma maneira mais intensa e não achar que um ‘plim’ pode ser suficiente. Se for para ser aquela nota, quero que tenha uma textura um bocadinho diferente. Mas o período em que escrevi acaba por se refletir mais na temática das canções, nas próprias letras. Nesse aspeto, nem todas as músicas falam da mesma coisa mas há quatro ou cinco que têm uma temática mais ou menos constante, que vive um bocadinho do dilema do que é fazer um quarto disco sem que seja objetivamente isso. Quando falo no problema do quarto disco, é o dilema do que sentes que as pessoas esperam que venhas a fazer, de que forma é que te queres desafiar para não fazer igual, de que forma é que isso pode ou não desiludir os outros ou desiludir-te a ti…
Costuma-se dizer que o que é complicado na música é aparecer e o que acho que é verdadeiramente complicado é continuar. Claro que aparecer também é difícil e vive de muitas variáveis que não controlas, se se cria ou não um mini-hype em torno de ti, por exemplo. Mas conseguires que disco após disco as pessoas continuem a gostar e a seguir-te, sabendo que uma novidade tem sempre mais peso do que um artista antigo, acho que é das coisas mais difíceis. Canções novas como a “Sempre Rente ao Chão”, a própria “Neutro”, a “Parou”, há muitas músicas que falam do dilema de perceberes onde estás ou não estás, o que vais ou não fazer, como lidas com o insucesso ou com o sucesso que tens. Acho que há muito essa temática porque na minha cabeça tinha essa preocupação: será que vou conseguir ou não fazer um outro disco? Posso conseguir fazer, posso querer fazer, mas até que ponto é válido fazer?
[“Neutro”:]
Acho que essas questões estão muito presentes. Depois também há umas abordagens mais filosóficas ou mais metafóricas sobre o sítio em que estamos ou não estamos, sobre como nos compreendemos ou não nos compreendemos. Há uma canção, a “Neste Andar”, que fala na ideia de: se te focares muito em perceber o que estás aqui a fazer, parece que te perdes numa coisa que não vais conseguir perceber. Depois a “27 metros de salto” já é outra coisa, já fala de como lidar com as mudanças da tua vida, com o tempo que não consegues esperar para que as coisas se ajustem. Acho que não há uma temática só, mas a energia que estava no disco era sobre essa dúvida do que é um quarto disco e a dificuldade que isso pode ter ou não.
Antes de começares a escrever letras, já tinhas na cabeça que querias cantar sobre alguns temas? Por exemplo, a dificuldade em gerir e responder a expectativas — próprias e alheias?
Acho que há uma coisa que pode parecer conversa de chacha, mas não é: as primeiras frases que canto nas canções, nunca as tinha escrito. Estou a tocar guitarra e começo a dizer coisas soltas — e às vezes há uma frase que me faz sentido. Isto pode parecer daquelas conversas das energias, não sou nada disso. Mas essas frases que me surgem falam sempre destas questões. Em cada disco, quando havia um tema, aparecia assim. Por exemplo, no meu segundo disco, Almost Visible Orchestra, o ponto central era: se este disco correr mal não faz mal, há muito tempo pela frente para fazer outros discos. E agora claramente o tema não era esse. Quando estou a cantar, as indecisões e os medos aparecem logo nessas primeiras frases nas quais não pensei muito. Há um trabalho grande na letra que é posterior, em que penso em como continuar determinada ideia depois de já ter as duas ou três frases de base. Mas normalmente o tema de cada música surge nessa tal primeira frase que cantei do nada.
“A ideia de cantar em inglês ser boa para a internacionalização é errada”
Começaste a cantar mais em português no disco anterior a este novo álbum. Aqui é uma coisa claramente reforçada. O que te fez ter vontade de começar a escrever e cantar em português?
Acho que nunca tinha colocado a hipótese até 2008 ou 2009, quando o Miguel Gonçalves Mendes convidou-me para fazer a banda sonora do [filme] José e Pilar. Além de muitas músicas instrumentais, disse-me: David, tens de fazer uma música cantada em português que fale um bocadinho do teu entendimento deste filme sobre o Saramago. Pensei: nunca fiz canções em português, não sei sequer se vou conseguir, pode ficar esquisito, não sei como pode ficar. Na altura fiz a música e ela depois tornou-se muito maior do que aquilo que tinha pensado. Comecei a cantar o tema nos concertos e quando editei o disco de 2013 em França quiseram pôr essa canção como faixa extra, porque sentiram isto e aquilo. A partir daí surgiu essa vontade. Comecei a pensar: um dia ainda vou fazer um disco mais em português. Não o queria fazer por achar que era isso que as pessoas gostavam, as pessoas também gostam do inglês, mas porque o desafio para essa primeira canção foi engraçado.
No último disco, foi mais ou menos pensada a ideia de introduzir ali algo em português. Queria fazer um disco em piano e sabia que maioritariamente ia ser instrumental. Pareceu-me ideal para experimentar o português sem uma grande pressão porque sabia que tendo duas, três ou quatro músicas cantadas e sendo o resto tudo instrumental, não havia grande questão.
Porque as canções cantadas e as letras não iam ser os pontos mais escrutinados do disco?
Não, a letra podia ser questionada. Não ia ser questionado é serem tão poucas as músicas cantadas. O disco por si só ia ser instrumental, tinha era a benesse de ter uma ou duas músicas cantadas. Quando comecei a pensar neste disco, parecia que o facto de ter feito a experiência naquele e de ter gostado do resultado final me davam já aptidão para fazer um disco todo em português, para fazer o que ainda não tinha feito. O que era isso? Era sair do piano, ir voltar a trabalhar com os loops todos e nos loops todos cantar já em português. Essa parte sabia à partida que era o que queria fazer.
Depois quando começaram a sair os primeiros rascunhos, as tais coisas gravadas no telefone, ainda fui fazendo coisas em inglês em paralelo com o que fazia em português. Sinto que há melodias que pedem o uso do português e outras que pedem o uso do inglês. Para este disco comecei a filtrar e a guardar só aquelas em português porque queria fazer à partida tudo em português e com loops, que era uma coisa que ainda não tinha feito. Isso foi consciente, tudo o resto foi acontecendo.
Se ao longo do disco foste-te questionando sobre a validade de fazer um disco novo e onde podias encontrar um caminho novo com ele, há respostas que encontraste para o que será o futuro depois deste disco? Por exemplo, quanto à escrita em português ou em inglês?
Ainda não pensei em nada. Como fazer um disco é uma coisa que me absorve mesmo muito, desligo totalmente de tudo o que acontece a seguir. Quer dizer, vou compondo outras músicas para bandas sonoras, para peças de teatro, para outros projetos que tenho, mas enquanto Noiserv tenho um período depois dos discos de quase um ano em que não faço nada novo. Até me forço a não pegar na guitarra e a não fazer porque gosto criativamente de gastar as energias em pensar em como vou desconstruir esta música para tocar isto sozinho, ao vivo e com os loops. Neste momento não faço a mais pequena ideia do que poderá ser um próximo disco. Não tenho nada a decisão fixada de que tenha de ser em português, não faço a mínima ideia.
Na música portuguesa houve, até dada altura, uma ideia de que os músicos portugueses cantando em inglês poderiam ter mais hipóteses de projeção internacional.
De terem um projeto maior lá fora, pois.
No teu percurso enquanto Noiserv já tocaste em muitos países. Não tiveste receio de que cantar em português pudesse ser uma desvantagem? Foi um assunto em que pensaste?
Não pensei muito, pensei sempre no que me fazia sentido enquanto projeto Noiserv. Na questão da internacionalização, a pior coisa que fiz — que não foi má, foi o que foi — foi: tinha um disco lançado em França e disseram-me que o próximo disco tinha de sair dali a três anos. Disse-lhes que era impossível, porque o disco em Portugal já tinha sido lançado há dois anos e tinha de lançar um disco novo. Disse-lhes até: vou lançar um disco todo em piano e com umas músicas em português. Disseram-me que não podia ser, porque estavam a habituar as pessoas a isto dos loops. Respondi-lhes que podiam não lançar esse disco [de 2016] lá, mas que para o caminho de Noiserv em Portugal fazia sentido que houvesse um disco novo e para a minha criatividade fazia sentido que o disco cortasse com a ideia do ‘homem orquestra’, para eu próprio não me cansar.
A questão da internacionalização… aos Estados Unidos nunca fui muito, mas na Europa não sei se não é até melhor cantares em português. Os únicos artistas portugueses que são verdadeiramente internacionais são os do fado — tirando uns Moonspell, que, não sendo um nicho, é um tipo muito específico de música com o seu público muito específico, que não leva atrás o indie.
Não faz parte do universo pop-rock, da canção mais ou menos pop.
Claro, é dentro daquele registo e daquele formato que tem um público muito específico. Fora isso e fora o hype que tiveram os Buraka Som Sistema, que também era uma coisa à parte, os únicos artistas que chegaram realmente lá fora são de fado. E as pessoas quando vão ver é porque querem ouvir aquela música cantada naquela língua. Se a pessoa quiser pensar numa verdadeira internacionalização, até devia era pensar em como é que consegue justificar que a sua música é muito portuguesa e que é cantada em português. Mas nunca pensei muito nisso. Acho que a ideia de cantar em inglês ser boa para a internacionalização é errada.
Pessoalmente, isto pode ser um pensamento pequeno mas acho que quando começas de uma maneira independente no teu país nunca te podes esquecer do país em que estás. Houve uma altura, um ano, em que tive muitos concertos em França, 40 e tal. Perguntavam-me: porque não vais morar para França uns tempos? Não queria fazer isso porque a minha cena era aqui. Tudo o resto era incrível quando acontecia mas não queria perder o caminho que vinha a fazer em Portugal.
A tua realização na música não depende de ter sucesso fora de Portugal, portanto?
Não. Quando olho para trás… já fiz tantas coisas e já toquei em tantos sítios fora que acho incrível, porque nunca pensei que fosse acontecer. Mas aconteceu tudo com o foco de: há um caminho feito aqui, há concertos feitos aqui, há cidades onde sei que as pessoas vão mais e há cidades mais pequenas onde quero tocar sempre. Nunca quis deixar isso de fora em prol de uma carreira lá fora, do sonho americano. Não, o sonho de ser músico é viver todos os dias da música. O sonho não é viver da música cá fora ou lá dentro, mas se és daqui o projeto tem de estar sustentado aqui para que depois lá fora seja possível que as coisas vão acontecendo.
A Covid-19 na música: “Nada é como dantes. Claro que os valores dos concertos são mais baixos”
Neste período recente deste um concerto sozinho, que foi transmitido online, a partir da Lourinhã, no Forte do Paimouco. Foi certamente uma experiência diferente de dar um concerto com público. Como te sentiste?
As salas estão com a limitação que se conhece. Acho que nos concertos online tanto as pessoas que veem através de streaming como as pessoas que tocam estão ainda a apalpar um bocadinho o terreno, a perceber qual é esta nova realidade e se isto é verdadeiramente uma nova realidade ou se estamos todos à espera que isto volte ao que era. Tenho tido a sorte de fazer vários desafios. Também fiz concertos por Zoom e concertos no Instagram, que são muito discutíveis pela qualidade que se consegue garantir a quem ouve. Nesse caso da Lourinhã, o município onde ia ter um concerto inserido num festival viu que não seria possível os concertos acontecerem e decidiu escolher sítios emblemáticos para os artistas fazerem concertos online, bem filmados e bem gravados.
Acho que andámos todos a tentar perceber de que maneira positiva podíamos enfrentar uma coisa que é má. Felizmente tenho tido a sorte de ter muitos convites. Claro que às vezes é estranho. E o momento mais estranho de todos de um concerto nesta nova era, quando não acontece nas salas e é virtual, é parar de tocar e não haver nem aplausos nem pessoas à vista. Não é que só procure isso, mas ao fim da cada música ao vivo sinto alguma validação não tanto nos aplausos mas mais nos olhos das pessoas. É aí que percebo se estão a gostar ou não, se o concerto está a ser chato, se já falei de mais ou não. Faço isso olhando para os olhos das pessoas que me estão a ver e ouvir. De repente não há nada. E esse não haver nada é quase uma aprendizagem que se tem de fazer a partir do zero.
Não terá havido algum otimismo na forma como se olhou para esta solução do online? Estava tudo a tentar perceber o que podia ser o futuro, mas considerar-se que o online poderia ser “A” solução para o futuro da música comporta riscos. Escreveste aliás sobre isso nas redes sociais, acerca da possível banalização da experiência de ouvir música para o espectador, para o comprador de bilhetes e discos.
Sim. Acho que o ser humano é muito adaptável. Se calhar nos anos 60 ninguém ouvia música sem ser num gira-discos e com boas colunas. De repente, 40 anos depois, podes ouvir música numa coluna mono de cinco centímetros e não questionas aquilo que antigamente era inquestionável. Há esse risco: a ideia de que um concerto ser no Instagram, numa coisinha pequenina cheia de grão e com atrasos e barulhos, sem a intensidade da presença também, possa tornar-se “O” caminho. Essa era a parte mais bonita do espectáculo que se estava a estragar.
Depois há outros pontos, a vida dos próprios artistas e das pessoas: o online e o digital são muito promíscuos porque quase tudo é gratuito. De repente, parecia que um músico que não queria fazer concertos online estava a ser parvo quando muitos se calhar estavam só a tentar explicar: calma lá, se viver só dos concertos no Instagram vou ter de ir trabalhar para outro sítio. Não tem mal nenhum se isso acontecer, mas não me vou estar a rir enquanto acontece. Acho que há um bocadinho esse dilema e acho que no arranque eram tantas as iniciativas online que se achou que o online talvez fosse suficiente. Achei sempre que não. Era importante que todos os artistas — não só músicos — encontrassem formas até de entreter as pessoas que estavam em casa. Se para alguma coisa a música e o teatro servem é para preencher espaços vazios. Acho que a música e as artes tiveram um papel importante, mas era preciso salvaguardar a ideia de que há melhor do que isto, de que a aparelhagem com colunas grandes está nas salas de espectáculo e que tudo isso deveria continuar quando as coisas melhorassem.
[“Eram 27 Metros de Salto”:]
Estás a lançar um álbum novo e tens muitas datas marcadas para concertos ao vivo, em salas. Por isso, estás em posição privilegiada para responder: a vida de um músico neste contexto pós-pandemia é muito diferente? Qual é o impacto para a vida de um artista apresentar um disco neste contexto e atuar em salas com menos lotação?
Acho que há muitas diferenças, mesmo. Para quem toca há duas formas de os concertos acontecerem. Ou se toca com uma percentagem de bilheteira ou se toca com um cachê fixo pago pelo teatro, pela sala de espectáculos em causa. Se tocares com uma percentagem de bilheteira, sendo a bilheteira à volta de 50% [da capacidade máxima da sala] claro que o valor que vais receber é sempre metade. Aí, é preciso moldar tudo o que está à volta a essa nova realidade — toda a equipa, técnicos disto e daquilo, tudo.
Depois, por tudo aquilo que foi adiado começou a haver muito menos espaço e muito menos vagas nos teatros municipais. Claro que nada é como antes, claro que os valores dos concertos serão mais baixos e claro que a procura de concertos será menor. Alguns municípios não têm capacidade de investir e até podem ter medo que as pessoas não vão. Há salas que tinham se calhar 80 lugares e que agora têm 40 — e com 40 não conseguem garantir nada, portanto se calhar as coisas deixam de acontecer. A própria dinâmica de venda de discos nos locais dos concertos é uma coisa que supostamente agora também não pode acontecer. Economicamente falando, é uma realidade muito mais complicada. Agora a pessoa ficar-se a queixar e não fazer ainda é mais complicado.
Isso foi um desafio na forma como planeaste tudo o que aí vem? Os concertos, por exemplo?
Tenho uma sorte neste disco: o álbum está feito desde outubro e toda a promoção está a ser pensada desde essa altura. A própria marcação de concertos está a ser feita quase com um ano de antecedência. Ter já 13 datas — e ter dez concertos marcados em outubro — não foi algo conseguido numa semana, é um trabalho que anda a ser feito já quase desde antes da Covid-19.
Fiquei com uns 15 concertos cancelados entre março e julho, a maioria em festivais que não vão acontecer. É um desastre, verdadeiramente. Mas e então? É que também há uma outra leitura disto: tirei engenharia [eletrotécnica], ainda trabalhei uns anos como engenheiro, fui eu que escolhi ter uma vida que acho que comparativamente à que tinha é muito melhor, é muito mais reconfortante, muito mais emotiva, muito mais viva. Tem esta consequência de se de repente as coisas pararem… mas foi o que escolhi fazer. Ainda acredito que na base fui eu que escolhi este sítio.
“O OK Computer é a grande revolução. Afinal uma banda não é 2 guitarras, 1 baixo e 1 bateria?”
É interessante mencionares a engenharia porque há um detalhe curioso no teu percurso. Começas a interessar-te por música desde cedo, também contagiado pelo gosto musical dos teus pais — e pelas cassetes que ouvias nas longas viagens para o Algarve. Em nenhum momento da tua infância ou adolescência pareceu-te plausível vires a ser músico profissional?
Acho que não.
A forma como se via o indie e a música independente nos anos 90 teve algum papel nisso?
Não sei. Acho que qualquer miúdo novo que quer ser músico mas que não tem qualquer elemento da família que seja músico não tem bem a noção do que é isso. Claro que há miúdos que se apaixonam por uma coisa e outros por outra, eu claramente estava apaixonado pela música, mas… podes pensar um dia ser músico, mas acho que é uma ideia muito pouco objetiva, não acreditas. Não é uma coisa com o qual ficasse triste, só não era uma verdadeira possibilidade, não me acontecia imaginar-me entrar numa sala de 2.000 pessoas ao som de aplausos. Nem chegas a pensar que não vai acontecer — não pensas sequer se vai ou não acontecer.
Não parecia uma hipótese de carreira?
Acho que tu nem pensas que poderia ser um caminho de carreira, acho que isso só acontecia depois [de fazeres música e teres público]. As coisas mais sérias que tive de música foram já depois, na faculdade, aos 18, 19 e 20 anos. Havia pessoas que davam concertos mais cedo, mas no meu caso o primeiro que dei foi aos 17 — e ainda foi uma daquelas coisas clássicas, um concerto na escola. Quando era miúdo tinha um gosto grande mas não sabia bem como é que isso se poderia refletir na minha vida. Acho que é depois aos 21, 22 e 23 anos que isso começa a passar-me mais pela cabeça. De repente é uma bola de neve, as coisas começam a acontecer e quando gostas deixas-te ir e lutas por aquilo como não lutas quase por mais nada.

▲ "Antigamente, ser músico em Portugal era sinónimo de a tua música ser provavelmente má. Em 2005 era um bocado assim e hoje em dia não é assim"
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Há uma outra coisa que achei surpreendente no teu percurso. Segues engenharia também porque eras muito bom aluno a matemática — e as disciplinas a que tinhas pior nota, 4 numa escala de 0 a 5, eram português e inglês. Mas acabas por seguir um caminho de artista, de músico que trabalha com a língua e com a palavra, curiosamente tanto em inglês como em português. Parece meio paradoxal.
E uma das coisas que mais gosto tanto em português como em inglês é metáforas, segundos e terceiros sentidos, que é aquilo que teria a poesia e que teriam alguns dos livros que lia em miúdo. Não sei porque é que foi assim. Pode também ter a ver com os professores. Não estou a dizer que tive maus professores de inglês ou português, mas tive professores muito bons de física, por exemplo. O meu professor de física do liceu — andei no liceu [hoje escola secundária] Dona Filipa Lencastre — foi o melhor professor que tive na vida, incluindo faculdade e tudo. Foi ele que se calhar, sem saber, deu-me este gozo todo de resolução de problemas, que atravessa também a minha composição de músicas.
Se calhar o foco maior na física e na matemática fez com que o foco não fosse para outro lado, não sei explicar muito bem. A matemática, ainda assim, está muito presente, nesta questão dos loops e na maneira de tocar — e na convicção de que se tiver uma ideia, nada é verdadeiramente impossível de fazer. Isso vem do Instituto Superior Técnico. Acabei o curso em 2005, há 15 anos, e não me lembro detalhadamente de nada do que tenha dado, mas o que te ensinam em todas as disciplinas é que tudo o que imagines ser possível fazer, consegues. É isso que tu aprendes, é isso que interiorizas.
Depois da licenciatura ainda fazes dois anos de mestrado, tens uma bolsa de investigação e trabalhas na área durante dois anos. Lembras-te do momento exato em que te apercebeste que a ideia de ir tendo essa vida dupla — ir fazendo aquilo e paralelamente ir fazendo música — não era a melhor solução, que podias mudar de vida e investir na música a 100%?
Sim. Acho que são muito importantes as pessoas todas que vais encontrando no teu percurso. Quando estava a trabalhar, a minha chefe na Siemens era uma pessoa que me dava alguma flexibilidade de horário quando tinha concertos às sextas-feiras, por exemplo. Fui tendo pessoas que não me foram cortando as pernas. Depois na altura em que quis fazer o primeiro disco, pensei: vou tentar ficar em part-time para ter tempo para fazer um álbum. Ela disse-me que part-time não dava porque era contra as regras da empresa, portanto iam pôr uma pessoa a substituir-me. Como havia coisas que só eu é que tinha aprendido a fazer, ficava três ou quatro meses a fazer o part-time e explica que era por isso. Aí já houve uma ajuda para ter mais tempo.
Fui fazer o mestrado com o professor que me tinha acompanhado no trabalho de fim de curso e ele já sabia que eu era músico. E quando vou para a bolsa de investigação, o meu chefe de equipa teve um papel importantíssimo também porque disse-me: David, tens de fazer isto, fazes quando quiseres. Ou seja: as coisas tinham de ficar feitas até dia X, mas quando as fazia não lhe interessava. Se não estivesse lá todos os dias e se no dia X estivesse feito, não havia problema. Às vezes as pessoas não são assim. Levei a bolsa até ao fim e quando acabou houve a hipótese de pedir uma nova bolsa. Só tive de tomar uma decisão nesse momento e aí já era mais fácil, porque tinha muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e já não estava a ter tempo para as duas coisas. Acho que o momento de decisão foi em 2012, quando a bolsa podia ser renovada. Ainda me inscrevi para renovar e aquilo ainda foi aceite, mas pensei: não pode ser, se já estou entupido… disse que não dava, pedi para congelar e percebi que havia muitas coisas que queria fazer e que até era possível.
Se há muitos anos não tivesses descoberto os Radiohead, era possível que fizesses música muito diferente? Podias fazer por exemplo música mais na onda dos Pearl Jam e do grunge, que foram estéticas de que também gostaste?
Acho que sim. Acho que os Radiohead são a grande revolução [enquanto ouvinte] pela altura em que os descubro. O disco Ok Computer acho que é de 1997 ou 1998 [é de 1997]. Devo tê-lo ouvido só com 17 anos [em 1999]. Nessa altura tinha as minhas bandas e as referências eram essas, os Nirvana, os Pearl Jam, os Soundgarden. De repente, ao ouvir aquilo houve um clique qualquer. Acho que a importância dos Radiohead também é muito a importância daquela altura e daquele disco, se calhar se fosse mais velho e aos 17 tivesse ouvido o The Bends os Radiohead teriam sido muito mais irrelevantes para mim. Foi também aquele disco. Não foi o mais diferente que fizeram porque a partir dali foi em escala, mas foi o disco de viragem deles. Houve esse clique: então mas afinal uma banda não é duas guitarras, um baixo e uma bateria? O que são estes plim-plins, estes ruídos? Pedais de efeitos e delays, fazia lá eu ideia o que era isso…
Lembrei-me que quando entrei na Siemens passava as horas de almoço num site que tinha os nomes dos pedais usados pelos Radiohead. ‘Ah, isto é o pedal que o gajo usa para fazer aquela introdução’… aquilo foi toda uma descoberta. Se essa descoberta não tivesse acontecido, o caminho teria sido outro — qual seria não sei. Foram muito importantes porque houve ali uma abertura da minha parte a uma realidade nova que não conhecia e de que gostava. Por aí, acaba por moldar depois o que se faz.
Há um outro momento relevante no teu percurso: uma participação no festival Termómetro Unplugged. O horizonte que vias para o teu futuro e para o que podias fazer na música mudou entre o momento em que te candidataste e o momento em que participaste?
Acho que no momento em que ligaram a dizer que fui selecionado para tocar houve um clique qualquer. De repente pensas: as três músicas que gravei no quarto, numa mesa de mistura digital — uma workstation —, interessaram a mais alguém? Na família não tinha nenhum músico. Aquele foi o primeiro clique: houve outra pessoa e mais, houve júris de um festival que ainda por cima era conhecido que ouviram e acharam que isto valia a pena. Começas a pensar que coisa é esta e o que pode acontecer.
[“Mas”:]
Se calhar também foi importante o primeiro concerto não ser em Lisboa e ser no Porto. Fui com o meu pai e com a minha mãe de carro. Lembro-me de pouca coisa do concerto em si porque estava muito nervoso, mas foi uma primeira experiência mais a sério: tinha de fazer ensaios em casa — toquei para a minha avó, depois para o meu pai e para os amigos do meu pai — para ir dar um concerto. Aquilo depois aconteceu, não passei a eliminatória mas houve logo três ou quatro reações não só de bandas que estavam lá mas de uma ou outra pessoa no público. Disseram-me que se tinham emocionado com a minha música. Acho que isso tocou num ponto qualquer.
Fez-te levar aquilo mais a sério?
Não é bem mais a sério. O que aconteceu foi que de repente quis que mais pessoas pudessem ouvir aquelas coisas. Entrei num loop de concursos de bandas, que era a forma que existia na altura de nos mostrarmos. Participei em muitos concursos, estive até numas quatro versões de um concurso que havia em Carcavelos — não me recordo do nome. Em cada eliminatória tinha pessoas à frente que não me conheciam e que me estavam a conhecer. Fazia uns cartões e dava às pessoas. Era um ‘passa a palavra’, a ideia de que mais pessoas poderiam conhecer a minha música.
Depois, fui tendo sorte nas coisas: começou a aparecer a era digital e apareceu o Tiago Sousa, pianista, que fez a [editora digital] Merzbau, na altura com o Benjamim e a banda dele, os Jesus the Misunderstood. O Tiago era amigo da minha namorada da altura, ouviu três músicas músicas e disse-me: podíamos editar isto na Merzbau. Explicou-me que era uma editora com a ideia de pôr as músicas livres na internet, para as pessoas ouvirem. Desafiou-me a fazer uns concertos que não eram já os concursos de banda e teve um papel importantíssimo, porque depois é ele que me diz: David, tens de fazer um disco, é preciso um disco para dares um salto. Aí penso: um disco meu, ter um disco nas lojas que é meu?
Muda tudo.
Muda tudo. E entras num loop de coisas novas. O concerto de lançamento desse disco no Cinema São Jorge esgotou. A sala tinha lotação de 200 pessoas e estavam muitos amigos, muitas pessoas. O próprio nome Noiserv [se trocada a ordem do “e” e do “r”, é a palavra “version” invertida], lembro-me de escrever no Google ou no Yahoo, não sei qual era o navegador da altura, e não encontrava resultados. Pensei: qualquer pessoa que escreva sobre mim, vou encontrar. Tinha no início o fascínio de mais pessoas irem conhecendo a minha música.
Na revisão da história da música portuguesa — e do ‘boom’ da música independente com a FlorCaveira, Amor Fúria e outros projetos — , o legado da Merzbau deveria ser mais recordado?
Acho que como tudo na vida as coisas criativas têm de ter hypes e acho que a Merzbau e o Tiago Sousa nunca tiveram o hype merecido para o que fizeram na altura. Na Merzbau estava o Luís, agora Benjamim, estava eu, estava o B Fachada. São três pessoas que ainda estão no ativo. E estava o Tiago Sousa que era ‘o olheiro’. Acho que a Merzbau nunca teve hype talvez por ter sido a primeira coisa [do estilo], até na exploração do que é a música digital. Foi a primeira net label [editora digital] em Portugal. Houve muitas coisas ali que não foram valorizadas porque isto dos hypes não se controla.
De repente, quando aparece a Flor Caveira, há história para contar: uma coisa que mistura rock e igreja… a Merzbau não teve hype, se calhar porque éramos miúdos. O Luís tinha 20 anos, eu tinha 24, o Tiago devia ter uns 25. Éramos novos. hoje as coisas são diferentes, os miúdos começam a tocar mais cedo.
Tens estado próximo de uma geração mais nova — por exemplo, trabalhaste nos vídeos das canções deste disco com a Casota Collective e colaboraste com os First Breath After Coma para um concerto no festival Bons Sons. Vendo as ambições que bandas como os First Breath After Coma e projetos como a Surma, em Leiria, têm e a forma como trabalham, notas muitas diferenças face ao teu tempo?
Parece-me que tudo acontece muito mais cedo. De repente tens bandas e projetos — como o casos desses dois, Surma e First Breath After Coma — que chegam a um nível de reconhecimento que muitos de nós só chegámos quase aos 30 anos. Acho que isso resulta também de um caminho que todos fizeram e de uma mudança grande que houve na música portuguesa. Antigamente, ser músico em Portugal era sinónimo de a tua música ser provavelmente má. Em 2005 era um bocado assim e hoje em dia não é assim.
As pessoas enchem o Bons Sons, por exemplo. Há muito mais música a acontecer, também resulta disso, mas se há um novo projeto português há muito mais atenção. Os hypes não existiam muito em torno de coisas portuguesas. Não é queixume, era mesmo assim. Até as próprias digressões europeias e concertos fora que eles têm feito… na altura não era assim. Não é que seja fácil, mas parecia mais difícil.