Quando decidiu fazer uma investigação sobre o sexismo nas universidades portuguesas, Maria do Mar Pereira, atualmente professora associada no Departamento de Sociologia da Universidade de Warwick (Reino Unido) e diretora do Centre for the Study of Women and Gender, achava que sabia o que a esperava.

Tinha estudado numa instituição portuguesa e tinha assistido e vivido situações, implícitas e explícitas, de sexismo. Mas o que encontrou foi bem mais complexo e profundo do que aquilo de que estava à espera. Foram várias as pessoas que entrevistou e que lhe relataram episódios, não só de sexismo, como de assédio sexual. Sem contar com o que assistiu quando se “infiltrou” em congressos, eventos e reuniões universitárias. Tudo isto em contexto académico, tanto entre estudantes, como entre docentes, e de professores para com as alunas, mas sempre nos bastidores e de forma oculta.
Todas essas experiências estão relatadas no livro “Power, Knowledge and Feminist Scholarship: an Ethnography of Academia”, publicado em março pela editora britânica Routledge. A obra, que é uma extensão da tese de doutoramento da investigadora, está nomeada para três prémios internacionais e foi apresentada na quinta-feira, no simpósio “Sexismo nas Universidades Portuguesas”, no Centro de Cultura e Intervenção Feminista.
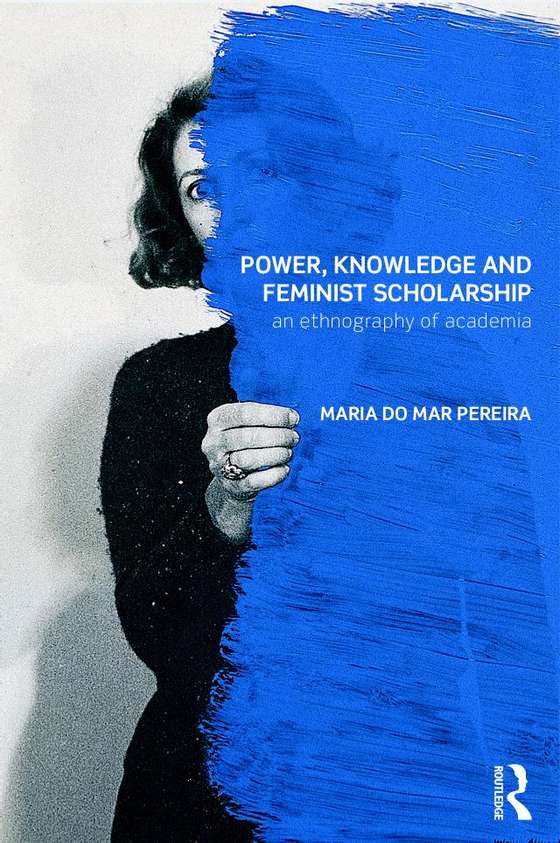
Como surgiu esta ideia de estudar o sexismo no contexto específico das universidades portuguesas?
Veio muito diretamente da minha experiência pessoal. Eu estava a estudar sociologia numa universidade em Lisboa e desde o primeiro dia de aulas que senti várias formas de sexismo, umas vezes explícitas outras vezes implícitas, tanto entre estudantes como com docentes.
Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Na minha ingenuidade, achava que a universidade ia ser o espaço social em que não haveria sexismo, porque as pessoas seriam mais educadas e estariam mais informadas e mais sensibilizadas com estas questões. Foi um grande choque descobrir que a universidade, este espaço de suposta neutralidade, de inclusão, de racionalidade, era quase tão mau quanto a escola secundária, quanto os media, quanto estes outros espaços a que eu estava habituada.
Mas houve algum episódio em concreto onde tenha sentido esse sexismo?
Muitos, mas lembro-me de um que me afetou muito. Foi numa reunião do conselho pedagógico da universidade, e eu representava estudantes da minha licenciatura. Estava-se a falar de um plano para avaliar a satisfação dos estudantes naquela universidade e pensava-se fazer um inquérito.
Eu, como aluna de sociologia que tinha aprendido a desenhar um bom inquérito, estava a ouvir a discussão e a certa altura disse: “Estou a ver o plano do inquérito e está tudo no masculino”. E disse que seria muito fácil pôr o documento numa linguagem mais inclusiva, que não estivesse a assumir que o estudante e o professor são homens — até porque num curso de sociologia em Portugal, como deve imaginar, não é essa a maioria. Disse isto numa sala cheia de cientistas sociais e os representantes de docentes que lá estavam riram-se ostensivamente na minha cara.
Fiquei completamente estarrecida. Depois disto, alguém na reunião ainda disse: “Mais alguém tem mais uma sugestão, mas uma sugestão a sério? Uma sugestão pertinente?”. O que me chocou mais foi o facto de naquela instituição, que é suposto ser um espaço de debate, de abertura e acima de tudo de questionamento do conhecimento, nem sequer ter havido uma conversa sobre o que eu disse.
Isto acontecia em muitas outras dimensões da vida. Lembro-me de dizer alguma coisa sobre questões de género nas aulas e responderem-me que isso não era ciência, que não era pertinente. Se estas pessoas, que profissionalmente têm a função de questionar estes assuntos, não as questionam, como é que podemos esperar que o resto da sociedade questione este tipo de estereótipos e de ideias?
Por que motivo não questionam estes estereótipos?
Porque a socialização de género é de facto uma coisa muito forte na vida das pessoas. Desde que nascem, as pessoas estão expostas a determinadas ideias, de que a masculinidade e feminilidade são coisas naturais e biológicas, e que não há nada a questionar. As pessoas da academia são socializadas da mesma forma que todas as outras pessoas, portanto têm os mesmo estereótipos que os outros.
Outra razão muito forte — e daí eu querer fazer este estudo — é que o estudo de género não tem sido tão desenvolvido na academia portuguesa, nem tão lecionado nas universidades, como noutros países. É uma área científica como outra qualquer e se as pessoas não são expostas a ela, não sabem fazê-la sozinhas.
Por exemplo, no meu departamento [de sociologia] em Inglaterra, é obrigatório para toda a gente que faz um curso de sociologia, e de outras ciências sociais, fazer uma cadeira só sobre género no primeiro ano. Em Portugal, uma pessoa pode fazer uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento em qualquer área das ciências sociais e nunca ter que pensar sobre as questões de género a fundo. Criam-se estas lacunas nas ciências sociais e nas humanidades em Portugal, que são muito graves e que não existem noutros países.
Como é que passou deste confronto com a realidade nas universidades portuguesas a fazer este estudo, que depois se traduziu num livro?
Eu quis compreender como é que era possível estes estereótipos estarem tão enraizados num espaço onde supostamente se pensa de uma maneira diferente.
Na altura, cheguei à conclusão que, feliz ou infelizmente, não seria possível fazer este estudo sobre Portugal numa instituição portuguesa. Se eu estivesse associada a uma instituição, as tricas entre universidades são de tal forma que, às vezes, a circulação de conhecimento não se faz de forma muito aberta. Há rivalidade e também alguma competitividade. Senti que, para fazer o doutoramento, faria mais sentido emigrar e receber orientação de pessoas especializadas nesta área lá fora — fui mesmo para um departamento de estudos de género.
Consegui financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia para fazer este estudo e, em 2006, fui para Inglaterra. Aprendi as teorias e os conceitos, regressei a Portugal e, durante um ano inteiro, a primeira vez entre 2008 e 2009 e depois entre 2015 e 2016, estive aqui como que infiltrada em diferentes instituições.
O que quer dizer com “infiltrada”?
Fui a universidades, de várias regiões do país, assistir a aulas de licenciatura, de mestrado e de doutoramento em ciências sociais e humanidades. Assisti também a conferências, congressos e defesas de doutoramentos, e consegui ter acesso a reuniões fechadas de organizações de congressos e de tomada de decisões sobre várias coisas. Todos os espaços em que se faz o trabalho académico em Portugal.
Entrevistei muitas pessoas que me contaram o que se passa no dia a dia das universidades, muitas delas coisas que não se observam publicamente e que estão a acontecer nos bastidores — o que se diz nas costas e nas reuniões. Eu própria, por ter estado nesses espaços, pude observar esse tipo de coisas.
O que observou?
Muita da minha informação mais rica não foi obtida nas sessões oficiais, onde as pessoas estão a palestrar, mas cá fora, quando estão a tomar café ou vão à casa de banho. O tipo de comentários que se fazem cá fora sobre o que acontece lá dentro diz muito sobre a mentalidade das pessoas nas universidades.
Por exemplo, observei um evento sobre questões de género, onde estavam alguns homens, considerados sumidades da instituição e que vinham fazer o acolhimento dos participantes. No evento, falavam de uma forma muito aberta e interessada nas questões de género, diziam que estavam muito contentes em ter este congresso e que este tema era muito interessante. Mas depois, vi essas mesmas pessoas, num grupinho cá fora, a dizer: “Estes temas não interessam para nada”. Um deles até olhou em volta e disse a outro: “Já percebi porque é que um sociólogo como nós tem interesse em vir a eventos sobre estes temas: é para ver as sociólogas”. E puseram-se todos a observar as mulheres que ali estavam. Estamos a falar de pessoas de renome no nosso país, com grande influência cientifica, académica e social.
Para eles, estas mulheres não estavam ali para produzir conhecimento, nem para inovar o conhecimento e a ciência em Portugal. Estavam ali porque são giras, mas o que elas tinham a dizer não interessava nada, cientificamente.
Isto é tudo feito nos bastidores…
Já não apanha praticamente ninguém que venha a público dizer que não interessa estudar as questões de género, ou que as mulheres cientistas fazem um trabalho menos interessante que os homens cientistas. Agora garanto-lhe que, nos bastidores, nas reuniões, há muita ‘piadinha’ sobre as mulheres cientistas. Se precisam de sexo ou não, se são giras ou não, se precisam de voltar para a cozinha ou não.
E há muito assédio sexual às estudantes. Tive uma situação em que o meu entrevistado, um cientista importante em Portugal, esteve grande parte da entrevista a olhar-me para o decote. E não, isto não acontece só comigo.
Muitas estudantes, quando vão aos gabinetes dos professores, para falar sobre os seus trabalhos ou sobre teses, têm experiências ou de assédio sexual implícito — olhar para o decote ou fazer comentários sobre a sua aparência — ou coisas mais explícitas — propostas sexuais.
Isso é uma situação recorrente em Portugal?
Há muitos casos em Portugal e, mais preocupante, é que estes casos acontecem com mais incidência com as estudantes e investigadoras emigrantes. Mulheres brasileiras, por exemplo, que vêm estudar para as universidades portuguesas e que são sujeitas a uma maior sexualização do que muitas mulheres portuguesas, por causa do estereótipo da mulher brasileira.
Durante as entrevistas, falei com uma estudante brasileira que estava numa situação muito vulnerável, porque o homem em causa era uma pessoa com um cargo muito elevado naquela universidade, e era orientador dela. Aliás, ele próprio tinha pedido para ficar a orientá-la porque já estava de olho na possibilidade de lhe fazer propostas sexuais, e de estar fechado com ela num gabinete. Contou-me que sempre que ia ao gabinete dele, ficava sempre uma amiga do lado de fora à espera, e a quem podia mandar uma mensagem para bater à porta, caso fosse necessário. Esta é a realidade em Portugal, e isto não é de ontem.
Aqui temos uma intersecção entre o racismo e o sexismo. Uma certa ideia do que é a mulher brasileira, que se interceta com o sexismo já existente, e que faz com que estas mulheres tenham uma experiência ainda pior de desvalorização da sua inteligência e de sexualização do seu corpo do que as mulheres portuguesas.
Isto depois também interceta com a homofobia. Outra situação que observei foi num congresso em que se discutia sexualidade. A ‘piadinha’ entre estudantes e docentes dessa instituição, enquanto estava a decorrer o congresso, era que os homens cientistas nesse dia tinham que andar de costas para a parede, não fosse um dos investigadores que ali estava a falar de sexualidade saltar-lhe para cima e tentar penetrá-lo por trás.
Ou seja, temos ali um congresso científico, onde está a ser apresentada investigação de ponta, ridicularizado com este tipo de piadas que reduzem as pessoas.
E tudo em contexto académico…
O problema é que, se isto acontecesse noutras áreas da sociedade portuguesa, as pessoas denunciariam ou falariam sobre estas questões. Mas o facto de acontecer na academia tem dois problemas muito grandes.
Primeiro, as pessoas vão para as universidades aprender os factos, a ciência. Quando numa aula lhes dizem: “Realmente há estereótipos de género, mas temos de admitir que as mulheres não são tão boas cientistas quanto os homens”, as estudantes e os estudantes tomam nota do que foi dito e aprendem aquilo como um facto. As pessoas têm uma maior tendência a aceitar como verdade aquilo que acontece na universidade, porque é dito por cientistas, que estudaram e que sabem os factos, e isto acaba por ter um efeito disseminador e legitimador muito grande destes estereótipos.
A segunda razão pela qual acho que é muito difícil denunciar e dar visibilidade a este tipo de situações é porque estas coisas são descritas como “só uma piada” ou “só uma brincadeira”…
Já diz o ditado, “a brincar se dizem muitas verdades”.
Exatamente. E há muita gente que usa a capa da ciência para legitimar as suas piadas sexistas que, se calhar, noutras áreas da sociedade não seriam aceites.
Eu assisti a situações de piadas homofóbicas, sexistas ou racistas muito graves e depois, quando alguém lhes diz: “Porque está a dizer isso? Não diga isso.” Essa pessoa responde: “Estou só a brincar. Sabe que eu sou sociólogo, não penso dessa maneira”.
Há estudos sociológicos que analisaram o papel social do humor, e que demonstraram que o humor é uma estratégia, consciente ou não, para as pessoas poderem dizer coisas em que acreditam, mas que sabem que não são socialmente aceitáveis, sem ter de sofrer uma penalização social. É a vantagem de dizer as coisas sem ter de assumir a responsabilidade pelo que está a dizer.
Porque é que isto está a acontecer nas universidades portuguesas, numa altura em que se fala cada vez mais das questões de género, nomeadamente da igualdade de género?
É preciso sublinhar uma coisa: o meio académico em Portugal é um espaço muito heterogéneo, em que há de tudo. Desde o sexismo mais explícito e bacoco, até pessoas que estão a fazer trabalho inovador, globalmente e internacionalmente, para combater estas questões.
Mas nota-se, de há uns anos para cá, alguma diferença na abordagem das questões de género nas universidades?
De facto estão a ocorrer muitas mudanças em Portugal. Há um novo Centro de Investigações de Estudo de Género na Universidade de Lisboa, um projeto pioneiro e com novos projetos de investigação financiados pela União Europeia. Utilizando financiamento externo, ou trabalhando à margem das universidades, há muita coisa que está a acontecer em Portugal, mais do que nunca.
As coisas de certa forma estão melhores, mas isto tem um outro efeito: quanto mais debate há sobre as questões de género em Portugal, mais se desenraíza a podridão que tem estado até agora invisível.
Se há um descrédito, ainda que não assumido, destas questões, porque são criados estes cursos de estudos de género? O que é que as universidades têm a ganhar com isso?
Dinheiro. As universidades perceberam que tinham aqui um ganho financeiro em apoiar esta área. Durante muitos anos, a marginalização e a repressão desta área foi muito mais explícita. Muitas universidades simplesmente não deixavam que se criassem cadeiras e cursos ligados ao género. Achavam que não era ciência e que não honrava a universidade. Nos anos 2000, o sistema universitário em Portugal mudou e as universidades, que dantes viviam de um financiamento muito mais direto do Estado, foram colocadas sobre grande pressão para tentar angariar dinheiro, ir buscar mais financiamento e obter mais propinas.
Chegaram à conclusão que precisavam de ter produtos para oferecer às pessoas que estão a tentar atrair para as universidades. Muitas pessoas que entrevistei explicaram que, durante anos, tentaram criar novas cadeiras, novos cursos e que isso sempre foi bloqueado. De repente, quando as universidades se viram obrigadas a criar novos produtos para arranjar mais dinheiro, foram bater à porta das pessoas a quem tinham bloqueado esses esforços.
Como havia poucos cursos na área das questões de género em Portugal, era um mercado que ainda não estava explorado. E as pessoas destas áreas produzem muitos artigos, livros e projetos. Portanto apoiá-las significaria trazer mais produtividade às universidades.
Até porque estas questões de género estão muito ‘na moda’.
Exatamente. O movimento feminista ganhou muita pujança em Portugal, portanto mais jovens quiseram aprender sobre estas questões. Com as redes sociais, as pessoas também começaram a descobrir que havia estes cursos noutros países e começaram a procurá-los. Além disso, houve muitas mudanças legislativas em Portugal, nomeadamente a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que fizeram com que estas questões de género estivessem na agenda e as pessoas ficassem mais sensibilizadas para elas.
É verdade que tudo isto ajuda ao desenvolvimento da área, mas toda a gente que entrevistei me disse que, na maior parte das instituições em Portugal, as questões de género são aceites na condição de que seja produtiva e produza ganhos financeiros. É um apoio condicionado. A partir do momento em que isto deixar de acontecer, a área desaparece e deixa de haver o apoio a estas questões.
Temos uma situação de aparente melhoria, mas que coloca as pessoas que trabalham nesta área sob uma grande pressão para serem sempre produtivas, para trazerem dinheiro para as universidades, para estarem sempre a recrutar estudantes, porque senão a área desaparece.
Mas esta desvalorização das questões de género é algo exclusivo de Portugal?
Não acontece em todos os países. Em Inglaterra, há muito mais formação, emprego e apoio para a investigação nesta área, e há um reconhecimento muito maior da sua centralidade científica e pedagógica. Independentemente de dar dinheiro ou não, porque consideram que as pessoas têm de aprender isto, tal como têm de aprender outras matérias, como métodos e estatística.
Muitas universidades acham mesmo que não é aceitável ter um departamento de ciências sociais sem pessoas que estudem género porque, se o género é um eixo que estrutura a vida em sociedade, como é que se pode ter um departamento de ciências sociais e humanidades em que não se estude género?
Mas Portugal não é o único país da Europa que é assim. Outros países do sul da Europa e da Europa de Leste têm problemas muito semelhantes. Portugal tem a desvantagem de ter uma estrutura académica em que a renovação é muito mais lenta do que noutros países.
Muitos dos departamentos de ciências sociais só foram criados depois do 25 de Abril, porque eram considerados temas revolucionários. Nessa altura, povoaram-se os departamentos com pessoas para dar aulas e esses docentes ainda não se reformaram. Como continuaram nesses cargos, não se contratam pessoas novas.
Na universidade onde dou aulas, em Inglaterra, todos os anos contratamos uma ou duas pessoas novas. Há renovação: as pessoas reformam-se, vão para outras universidades. Em Portugal isso não acontece, porque é um meio mais pequeno e porque os departamentos foram criados mais recentemente.
Há uns anos, também na minha universidade, em Inglaterra, decidiu-se que a cadeira de género deveria ser obrigatória e foram pessoas como eu, mais jovens, informadas nestas questões e que desempenham posições de poder nestas universidades, que conseguiram produzir estas mudanças.
Em Portugal, se são sempre os mesmos que estão nos cargos de poder — e é isso que acontece –, esta mudança é muito mais lenta e limitada, apesar de haver pessoas que estão a tentar produzir esta mudança.
Seria mais fácil combater o sexismo se fosse uma questão falada e abordada de uma forma mais aberta?
Sim. Quanto mais se falar sobre o sexismo, mais as pessoas se apercebem do que está a acontecer e percebem que não é normal estas coisas acontecerem nas universidades. As próprias pessoas nas universidades, e na sociedade em geral, ganham capacidade para perceber que estas “piadinhas” sexistas são problemáticas, se se falar sobre o assunto. Quanto mais expostas ao debate estiverem, mais recursos e ferramentas têm para reconhecer os problemas, intervir sobre eles e não se deixarem levar por essa cultura de gozo e discriminação.
Mas há que dizer que em Portugal, nos últimos meses, temos tido denúncias de sexismo extremamente flagrante entre estudantes. Não são coisas novas — sempre existiram –, mas são coisas que vêm a público agora, precisamente porque há mais debate e mais espaços, até nas redes sociais, para falar sobre isto.
Estou a falar, por exemplo, do vídeo de uma violação que ocorreu durante a Queima das Fitas, no Porto. Há muitos anos que se sabe que existem casos gravíssimos de assédio sexual, ou de violação, nas praxes e nas festas académicas. E ouvem-se desculpas como “Ah, mas foi nas praxes”, “mas ele estava bêbedo” ou “mas é assim que os homens se divertem quando estão juntos”. Mas quanto mais se diz que é inaceitável que as pessoas sejam apalpadas, assediadas e violadas, mais as pessoas reconhecem que é uma coisa inaceitável.
Outro caso, que ocorreu há semanas, durante um encontro nacional de dirigentes de associações de estudantes. As representantes da associação de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa foram sujeitas a um sexismo atroz, não só publicamente no espaço do encontro, mas também através de fotografias que lhes tiraram e que foram postas a circular na internet com legendas muito ofensivas.
Em Inglaterra, o órgão nacional que congrega todas as associações de estudantes do país publica, de dois em dois anos, estudos científicos sobre o sexismo e o assédio sexual em contexto estudantil, nas universidades. As próprias universidades também tentam criar gabinetes para dar apoio a estas questões. Há ainda workshops de sensibilização para a questão do consentimento sexual, em que os estudantes são convidados a participar. Fala-se destas questões em espaço universitário e as próprias universidades financiam este tipo de atividades.
Quando eu estudava na universidade em Portugal, fui apalpada e assediada por parte de estudantes e docentes, mas ocorreram outras situações. Por exemplo, ao entrar no meu carro junto à universidade, aparecer um homem, expôr o pénis e começar a masturbar-se junto ao veículo. Toda a gente sabia que havia homens junto à universidade que esperavam que as estudantes aparecessem para as abordar e fazer este tipo de coisas, mas a universidade não fazia nada porque não era alguém da universidade.
O problema em Portugal é duplo: a falta de sensibilização para o facto de que não é normal as pessoas atacarem a integridade física e sexual de alguém, e a inércia das universidades em fazer qualquer coisa.
Porque é que há esta inércia?
Porque estes temas são considerados menores e porque não têm dinheiro. As universidades vão orientar os fundos para coisas prioritárias e produtivas, e estas temáticas não são consideradas nem prioritárias nem produtivas.
Há muitas universidades em que, tanto a comunidade estudantil como a comunidade docente, são capazes de dizer que determinado professor assedia e apalpa as mulheres. As pessoas até se avisam umas às outras e dizem “não faças a cadeira dele”, ou “tem a certeza que não estás fechada no gabinete dele sozinha”. Toda a gente sabe, mas estes homens continuam a ter acesso direto a mulheres jovens, sem supervisão, sem limitação, porque são pessoas de renome na ciência em Portugal. E o discurso que se ouve é que são elas que têm de tapar o decote, e têm de se resguardar, para não tentarem este homem, ou que são as estudantes que estão a fazer de propósito para terem boa nota.
Temos esta desculpabilização do comportamento sexual predatório de muitos homens nas universidades, seja nas associações de estudantes, no corpo docente ou na população estudantil. E estes homens estão numa instituição em que têm acesso continuado a mulheres novas, que não sabem o que está a acontecer.
Em Inglaterra também têm sido denunciados vários casos em que as instituições não fizeram nada. Lá está, porque há esta equação nas universidades: a ciência tem de ser lucrativa e produtiva e esta estudante, daqui a uns anos, vai-se embora, enquanto que este professor todos os anos traz dinheiro para a universidade.
Quando começou este estudo já sabia que havia sexismo nas universidades portuguesas. Ao fim de dez anos de investigação, ficou surpreendida com o que encontrou?
Sim. As universidades em Portugal têm uma estrutura que permitem que estas coisas aconteçam de forma continuada e prolongada, sem que nada aconteça. Aí a pessoa tem que se confrontar com a ideia de que a universidade infelizmente não é aquilo que nós pensamos.
As pessoas pensam que, com o passar do tempo, as coisas se vão resolver, mas não. Nada vai mudar se estas questões do sexismo e do assédio sexual não forem debatidas; sem a intervenção do governo e das universidades para as questões de género obrigatórias nos planos curriculares; se não se criarem gabinetes de apoio que façam intervenção a nível do assédio sexual entre estudantes, e de docentes para estudantes.
Sem uma ação concertada direta, as coisas não vão mudar. É a única maneira de criar o tipo de universidade que devemos ter: uma universidade onde as pessoas são valorizadas pelas suas ideias e pelo seu potencial científico, e não pelo seu decote ou pela quantidade de dinheiro que trazem à instituição.

















