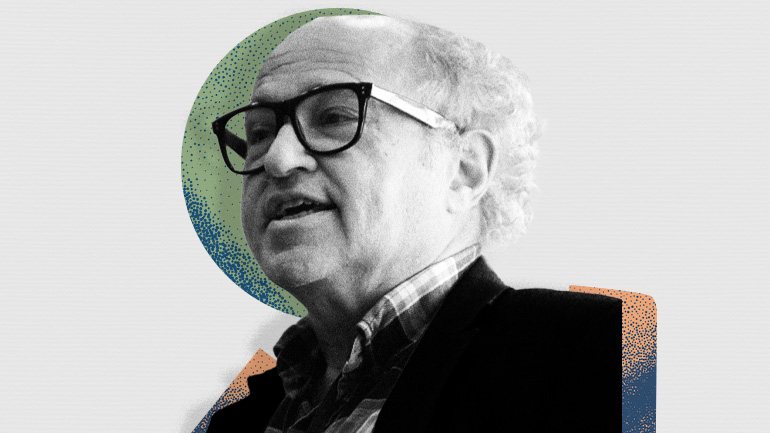Na casa da pequena Assunção Cristas em Belém, em Lisboa, não se celebrava o 25 de Abril. Ou melhor, celebrava-se o dia 25 de abril mas por outra razão: é a data de aniversário do casamento dos pais, casados por coincidência naquele dia de abril de 1970. E essa sempre foi a desculpa perfeita para celebrar outra coisa que não o dia da revolução. O feriado representava, para eles, “um misto de emoções” — por um lado, a conquista da liberdade e o que isso significava para a história coletiva; por outro a “mágoa profunda” pela saída forçada da família de Luanda. Joana Mortágua, pelo contrário, celebra desde criança o 25 de Abril com ensopado de borrego, almoço comunitário nos Bombeiros Voluntários de Alvito, mesas corridas e o grupo coral a cantar a Grândola, Vila Morena. Mas o que está a celebrar todos os anos é muito mais do que um dia que virou feriado nacional, é o dia em que o pai pôde, pela primeira vez, pôr os pés em Lisboa e descer a Avenida da Liberdade sem olhar para trás.
São políticos, deputados, líderes parlamentares, chefiam partidos ou já foram ministros, mas à pergunta “onde estava na véspera do 25 de Abril” a resposta deles é invariavelmente “não estava”. Ou “estava na barriga da mãe”. Não viveram o período do Estado Novo, não experimentaram o grito da mudança, nem viveram o processo democrático que se seguiu. Mas viveram-no pelos pais e pelos avós, que lhes transmitiram experiências e memórias. As suas versões. Material que foi suficiente para cada um poder construir o seu imaginário daquilo que foi o 25 de Abril. Não o dia — ou, não tanto o dia, — mas tudo o que lhe antecedeu e o que se seguiu.
“Tive a felicidade de beneficiar do 25 de Abril, a infelicidade de não o ter vivido, mas a felicidade de ter pessoas próximas de mim que o viveram e de, consequentemente, o viver por interposta pessoa”, resume o deputado socialista João Galamba, que recentemente deu de caras com o pai, num documentário televisivo, a vestir a pele de jornalista para questionar o general Spínola no rescaldo da revolução (era diretor comercial no semanário Expresso, mas não era jornalista). Ficou tão surpreendido quanto o pai ficou com a pergunta sobre o que estava lá a fazer. Na verdade, já nem se lembrava bem.
Atualmente, entre os 230 deputados eleitos à Assembleia da República, 68 nasceram depois de 25 de abril de 1974, representando já 30% do total de deputados eleitos. O número continuará naturalmente a crescer, desaparecendo os que viveram o momento, e ficando a memória. Eis os relatos de uma geração de políticos que já não viveu o 25 de Abril.

Um bilhete de ida e volta, sem volta
Onde estava no 25 de Abril? Na barriga da mãe. A atual presidente do CDS nasceu em setembro de 1974, em Luanda. Chegaria a Lisboa com nove meses de vida e é com “sentimentos contraditórios” que conta aquela que é a sua história da revolução dos cravos. Aqui não há a euforia da liberdade, há antes a “mágoa” por os pais “não terem podido, já depois da independência, continuar naquela que sentiam como a sua terra”. A mãe nasceu em Angola, o pai em Moçambique.
Os pais, classe média alta, assim como os tios e os avós, viviam na capital angolana e lá queriam ficar. “Julgavam que mesmo depois da descolonialização podiam continuar a viver lá, e era isso que queriam, tinham ali a vida deles”, conta Assunção Cristas ao Observador. Por isso, só resolveram sair de Luanda e rumar a Portugal já em meados de 1975, quando a pequena Assunção tinha nove meses; tiveram tempo para “organizar a vinda”, não tiveram necessidade de sair a correr, em 24 horas, como tantas famílias fizeram. Até compraram bilhete de ida e volta. Só que não voltaram.
“A minha mãe era médica, funcionária pública, e teve muito tempo os papéis em casa para se inscrever e vir para Portugal, onde teria a possibilidade de integrar cá a função pública. Mas durante muito tempo não o fez”, conta a líder democrata-cristã. A decisão de preencher os ditos papéis e fazer as malas só surgiu mais de um ano depois do 25 de Abril, e do fim da guerra colonial. “Só o fez quando ouviu um discurso de Agostinho Neto em Viana, perto de Luanda, em que passava uma mensagem clara contra os brancos que tinham colonizado Angola, e que agora não eram bem-vindos naquela terra. Foi nessa altura que a minha mãe percebeu que estávamos claramente a mais”, conta.
O pai levou a família até Lisboa, mas voltaria depois para trás, onde ficaria até depois da independência. A partir daí, a história foi “igual à de tantos outros retornados”. Assunção Cristas recorda, enquanto criança, o dia 25 de Abril como um dia de “paragem e de festa”. Em Belém, onde morava (e mora), junto ao Palácio do Presidente da República, não faltavam aviões a sobrevoar os céus, música, pompa e circunstância. Mas tirando isso, nada mais. “Apesar da festa tinha sempre o outro lado, a mágoa grande em relação ao processo de descolonização, ao facto de ter havido uma vinda forçada: tinha-lhes sido prometido que podiam escolher lá ficar, e não puderam”, diz.
A festa em sua casa era outra. “Em nossa casa o 25 de Abril era sempre um dia de festa, mas uma festa mais privada”. É que os pais de Assunção Cristas tinham-se casado precisamente no dia 25 de abril de 1970. Por isso, a família optava por não se associar à festa popular e fazia a sua própria celebração — por motivos bem diferentes. Ainda assim, Assunção Cristas lembra-se bem de quando o pai lhe ensinava, a ela aos irmãos, muitas das canções revolucionárias. “A minha mãe irritava-se muito e dizia ‘não ensines essas coisas aos miúdos’, mas ele achava que eram bonitas e várias vezes íamos no carro a cantar a ‘Grândola, Vila Morena’ ou ‘Uma Gaivota, Voava Voava’, com leveza e tranquilidade porque obviamente o fim de 40 anos de ditadura foi uma coisa positiva”.

Quando o pai é preso pela ingenuidade do avô
Jorge Galamba, 36 anos à data da revolução, era o diretor comercial do semanário Expresso e era sobretudo um “noctívago”. Trabalhava muito de noite, e estava no jornal quando tudo aconteceu. Assim que soaram os primeiros alarmes telefonou logo a Marcelo Rebelo de Sousa e a Pinto Balsemão. Foi ele que os avisou do que estava a acontecer, tendo sido também um dos primeiros a chegar ao Terreiro do Paço. Acabou por viver a história por dentro. Bem mais por dentro do que o filho João, quando foi crescendo e tomando consciência das coisas, alguma vez teria imaginado.
“Estranhamente, no outro dia estava a ver um documentário na televisão e vejo o Spínola a dar uma conferência de imprensa no dia 25 de Abril. Qual é o meu espanto quando vejo que a primeira pessoa que lhe faz uma pergunta é o meu pai. Não sabia, nem sequer compreendo como era possível, ele não era jornalista”, conta ao Observador, a rir com a surpresa. “Perguntei-lhe o que estava lá a fazer, mas ele também não sabe muito bem explicar, ou era por não haver ninguém àquela hora disponível, ou porque ele quis ir, não sabe explicar bem mas é facto que aconteceu”.
A história do pai foi-lhe sendo passada, até pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa que já a contou publicamente. Mas a vivência do 25 de Abril para o deputado socialista é bem mais do que essa feliz coincidência, que apenas se deu “porque era noctívago, sempre trabalhou de noite, como eu aliás”. Enquanto o pai tinha 36 anos e era bastante politizado, a mãe era “uma miúda de classe média alta”, de 22 anos, que, apesar de ser “de esquerda”, não foi bem recebida nas ruas de Lisboa no dia da revolução. Como conduzia “um carro bom”, acabou por ser apedrejada pelos populares enquanto chegava a casa, conta agora o filho, sublinhando que não foi por isso que a mãe deixou de celebrar aquele dia que representou a mudança para muita gente.
Mas o que mais marcou João Galamba na história do 25 de Abril, foi a primeira coisa que o pai decidiu fazer quando soube que Portugal já não vivia numa ditadura. “A coisa que o meu pai mais me contou, a experiência que sempre repetiu como tendo sido a sua experiência pessoal do 25 de Abril, foi o facto de ter pegado num Mini e num amigo com quem tinha estado preso, e foi viajar pela Europa”, conta. O destino foi o leste do Velho Continente, onde ficaram durante cerca de um mês. “Foi a libertação deles”, diz.
O pai, Jorge Galamba, tinha estado preso em Caxias, em 1965, durante cerca de dois anos, e também essa história de outros tempos é repetida lá em casa. É que o pai só foi preso porque foi denunciado pelo avô — sem querer. “O meu avô perguntava-lhe se ele estava metido na política, e ele dizia sempre que não, que estivesse descansado”, conta João Galamba. Ora, se não estava metido na política, o avô não teve problemas em responder certo dia, quando questionado sobre o paradeiro do filho, onde é que ele se encontrava. “Está na casa da tia em Ourém (ou seria Torres Vedras?)”, terá dito candidamente. E foram lá buscá-lo. Preso pela ingenuidade do pai.

Descer a Avenida da Liberdade sem olhar para trás
Era a primeira coisa que queria fazer quando chegasse a Portugal, saído da clandestinidade: descer a Avenida da Liberdade sem olhar para trás, sem medo de ser preso. E foi de facto a primeira coisa que fez. O pai de Joana e Mariana Mortágua, deputadas do Bloco de Esquerda à Assembleia da República, vivia na clandestinidade “há décadas” e durante décadas conseguiu escapar à polícia política do antigo regime. É a história dele, de Camilo Mortágua, assim como da mãe, que conheceu o marido na ocupação da herdade da Torre Bela, em plena Reforma Agrária, que serve de base à perceção que Joana Mortágua construiu daquilo que foi o 25 de Abril — bem mais do que um dia no calendário.
“As memórias que me foram transmitidas são, aliás, muito mais em relação ao 1º de Maio do que ao 25 de Abril, porque o 1º de Maio foi a consolidação do 25 de Abril”, começa por contar ao Observador, sublinhando que, embora lá em casa sempre se tenha falado muito de política, o pai “não contava muitas histórias”. Na verdade, não era preciso contar-lhe as histórias do que fez e do que viveu todos os dias para essas vivências ficarem imbuídas no seu crescimento e na história familiar.
“Não tinha de me contar todos os dias antes de ir para a cama que havia pessoas que tinham sido torturadas, isso não era um ritual. Mas a forma como o meu pai — que viveu sempre com esse espectro –, nos transmitiu os seus valores fez com que não fosse preciso ouvir as histórias dele para percebermos. A liberdade continuou a ser para ele o valor que estava acima de tudo, e nós crescemos com essa convicção“, conta ao Observador. Joana e Mariana Mortágua nasceram já bem depois da revolução dos cravos, em 1986, e sempre viveram numa época em que os jovens não sabiam o que era a privação da liberdade. Mas isso ficou.
É certo que há várias dimensões da liberdade, e a liberdade de poder entrar no país sem ser preso é apenas o “extremo”, mas a liberdade de pensamento, a autonomia de pensamento e a liberdade de poder falar e pensar pela própria cabeça — essa, conta Joana Mortágua, sempre foi a grande preocupação do pai.
A história de Camilo Mortágua é conhecida. Fundador da LUAR (Liga de Unidade e Ação Revolucionária), entrava e saía frequentemente do país para “fazer ações”. Esteve no assalto ao paquete Santa Maria ou no assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, em 1967; entrava e saía sem ser apanhado. Nunca foi preso durante o Estado Novo. Estava em França quando se deu a revolução e, conta a filha, mandou algumas pessoas vir à frente para apalpar terreno. Um ou dois dias depois, quando soube que era seguro, veio para Lisboa e desceu finalmente a Avenida sem olhar para trás.
Ironia das ironias, acabaria por ser preso sete meses depois, na sequência do 25 de novembro, “quando de alguma forma as experiências da reforma agrária e das ocupações foram legalmente enquadradas”. Preso depois da liberdade conquistada, foi uma coincidência que sempre “irritou” a filha Joana. Quanto à mãe, com 17 ou 18 anos na altura, vivia em Moçambique mas estava em Lisboa de férias quando tudo se passou. “Quis ficar para o 1º de Maio mas os meus avós não queriam, tinham medo e queriam que ela voltasse. Teve de ser o meu tio-avô a convencê-los a deixá-la ficar a comemorar”, conta Joana, 43 anos depois. Voltaria para Moçambique a seguir ao 1º de Maio, mas “foi a viagem inteira a chorar”.
Nascida 12 anos depois do 25 de Abril, a imagem do dia da revolução para Joana Mortágua é não mais do que “o pátio dos Bombeiros Voluntários de Alvito, com mesas corridas, palco para o grupo coral cantar a Grândola, almoço comunitário, ensopado de borrego e tudo o que mais houvesse”. “A minha memória do dia é a minha, a que eu vivi, porque o dia propriamente dito é uma coisa dos livros, dos filmes, é uma romantização”, diz, realçando que o maior legado que a família lhe passou deste capítulo da história foi a “não-romantização” daquele dia. Porque, diz, “a sociedade não mudou de um dia para o outro”.

De uma sardinha para três passa a três sardinhas para um
O líder parlamentar comunista só viria a nascer cinco anos depois do 25 de Abril, em Évora. Mas a família, sobretudo o avô materno, nunca o deixou dar nada por adquirido apenas por já ter nascido num tempo onde a saúde, a educação, e até a alimentação, eram dados adquiridos. O avô, operário corticeiro, começou a trabalhar com 8 anos e, conta João Oliveira ao Observador, “tinha um registo muito vivo do que tinha sido o período do fascismo e das condições duras de vida dos trabalhadores”.
Era sobretudo ele que lhe pintava o quadro de tempos que não viveu, e que fazia questão de lhe dizer, a ele e à irmã, quando eram crianças, que o que hoje tinham nem sempre foi o que os portugueses tiveram. “Aquela lógica de uma sardinha para três marcou-o”, conta, lembrando como o avô lhes fazia ver que a possibilidade de poderem estudar e até a possibilidade de poderem, quem sabe, comer três sardinhas em vez de uma a dividir por três, foi uma conquista do povo.
“Dizia-nos isso para nos chamar à atenção, para não darmos as coisas por adquiridas, porque não foram sempre assim e podem nem sempre ser assim”, explica João Oliveira.
Mas se do lado do avô lhe foi transmitido este lado da revolução, a perspetiva da melhoria das condições de vida como uma conquista de médio prazo, do lado dos pais obteve outra versão da história: a versão de quem participou de uma forma mais ativa naquilo que foram as construções sociais. Ambos enfermeiros, o pai estava já a exercer em Évora quando tudo se passou, e a primeira preocupação que teve foi a de se informar sobre o que estava a acontecer em Lisboa. Mais “sorte” teve a mãe, que estava a acabar o curso em Lisboa e que, desobedecendo a todas as regras que lhe tinham sido incutidas, foi para a rua celebrar. “Tinham-lhe dito para não sair do lar onde estava na altura hospedada e ela foi para a rua”, conta.
Mas é do pós-25 de Abril que João Oliveira mais guarda como aprendizagem. “Os meus pais participaram de forma ativa na construção do Serviço Nacional de Saúde, especialmente porque naquela altura começaram a chegar instalações de saúde às zonas do interior do país e houve uma grande pressão dos profissionais de saúde para se deslocarem para aqueles sítios”, conta. Foi o que fizeram.
João Oliveira viria a nascer em 1979, mas embora não tenha vivido o momento revolucionário, nem tenha passado pelos 40 anos de Estado Novo, certo é que a geração pós-74 ainda sentiu as réplicas da história, que guarda na memória individual e coletiva.