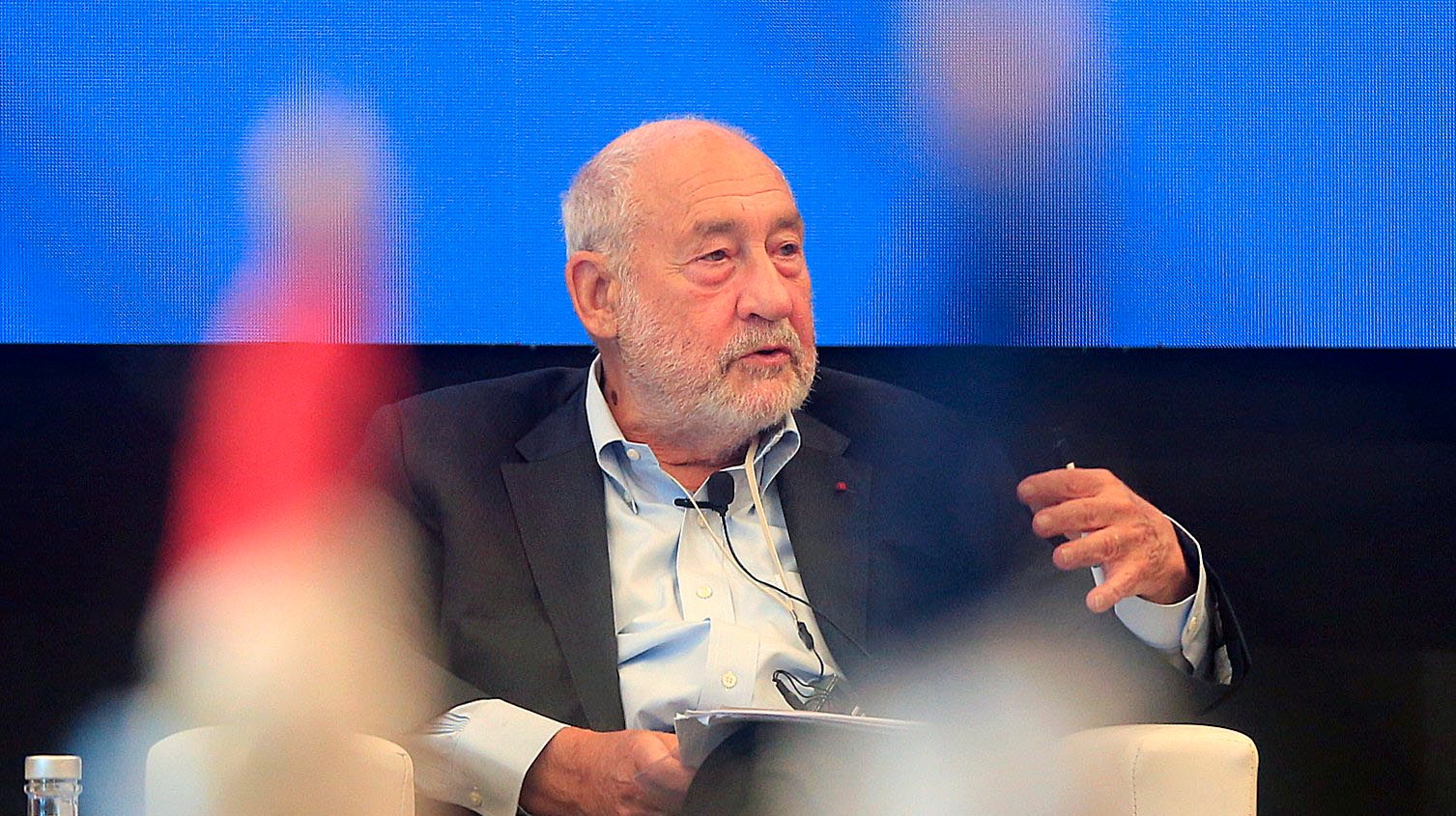A capacidade do cinema para provocar em nós aquilo a que Jorge Luis Borges chamou a “emoção evocativa”, é tão ou mais poderosa do que a da literatura ou da música. Graças a “Belfast”, o filme autobiográfico de Kenneth Branagh, em que ele evoca a sua infância de filho de uma família protestante a viver num bairro social maioritariamente católico de Belfast, na Irlanda do Norte, em 1969, no início dos confrontos entre estas duas fações, muito eufemisticamente apelidados “The Troubles” pelos irlandeses, experimentei dois desses momentos.
[Veja o “trailer” de “Belfast”:]
O primeiro foi quando Buddy (o estreante e natural e contagiosamente expressivo Jude Hill), arrastado pela prima mais velha, participa no assalto ao supermercado católico do bairro e, atarantado, deita a mão a um pacote de Omo (que a mãe o obriga a devolver, ainda em pleno saque!). A cena atirou-me para a infância, quando ainda se lavava a roupa à mão, e este detergente (“Omo lava mais branco!”), que dava brindes, era presença obrigatória em casa dos meus pais. O segundo foi quando Buddy recebe, como prenda de Natal dos pais, uma farda de membro dos “Thunderbirds”, devolveu-me a um longínquo Natal em que fui presenteado com as naves espaciais desta bem-amada série inglesa.
[Veja uma entrevista com Kenneth Branagh:]
“Belfast” não é, assim, um filme de fundo político ou de intenção “social” sobre a tragédia da violência sectária na Irlanda do Norte. É construído sobre recordações pessoais do realizador, nascido naquela cidade e que se mudou para Inglaterra com a família aos nove anos, e a contextualização histórica é apenas a necessária para nos situar no tempo e no lugar. Rodado quase todo a preto e branco, “Belfast” tem como tema a família, a força dos seus laços e a sua importância e resistência, em tempos de paz como de guerra. E é contado do ponto de vista de Buddy, dando-nos uma perspetiva deliberadamente limitada, inocente e “egoísta”, dos acontecimentos, da sua amplitude e significado. O que interessa ao realizador são os efeitos dos “Troubles” na até aí calma e harmoniosa vida do menino, e na sua família.
[Veja uma entrevista com Jude Hill:]
Afetuosíssimo e autêntico, sentido até ao tutano e de uma enorme sinceridade emocional, nem por isso “Belfast” ameaça, aqui e ali, ficar mesmo à beirinha do sentimentalismo adocicado e da “overdose” de nostalgia. Mas Kenneth Branagh, que vinha acumulando filmes entre o alimentar (“Artemis Fowl”) e o execrável (a nova versão “woke” de “Morte no Nilo”), evita cair de chapão neles ao recriar o pequeno mundo do bairro, a vida da família de Buddy, financeiramente periclitante e por isso causa de fricções entre o pai (Jamie Dornan), que tem de se ausentar para ir trabalhar em Inglaterra, e a mãe (uma linda e vigorosa Caitríona Balfe), que fica a tomar conta da casa e de Buddy e do irmão, e o dia-a-dia do rapazinho num ambiente em que a normalidade foi substituída por uma violência e um conflito incompreensíveis, que o ultrapassam e a que tenta ajustar-se.
[Veja uma entrevista com Jamie Dornan e Caitríona Balfe:]
Em vez de escarafunchar na ferida dos confrontos fratricidas da altura, Branagh deixa-os em pano de fundo e faz o filme circular pela casas da família de Buddy, dos tios, mesmo ao lado da sua, e dos seus adorados avós (interpretados em estado de graça de autenticidade, cumplicidade e carinho pelos magníficos Ciaran Hinds e Judi Dench), pela escola onde o menino está caidinho para colega de cabelos louros que o bate a Matemática, e por mais dois ou três locais do bairro. E algumas das melhores sequências de “Belfast” nada têm a ver com a disrupção causada pelos conflitos, como aquelas em que a família vai ao cinema deslumbrar-se com “Quando o Mundo Nasceu”, com os dinossauros animados por Ray Harryhausen e Raquel Welch em biquíni de pele, ou “Chitty Chitty Bang Bang” e o seu carro voador, mostrados a cores para sublinhar o espanto que provocavam.
[Veja uma entrevista com Judi Dench:]
Apesar de não dispensar os planos feitos por “drone”, que se estão a tornar num omnipresente e irritante tique visual, e da banda sonora de Van Morrison ser às vezes insistente e até redundante, Kenneth Branagh assina aqui o seu melhor filme desde a “Cinderela” com atores que fez para a Disney em 2015, dotado de uma eloquência telegráfica e carregado de emotividade e sentido de evocação. Candidato a sete Óscares, “Belfast” veicula ainda, através das decisões difíceis tomadas pela família de Buddy para assegurar uma vida e um futuro melhor, um elogio da capacidade dos irlandeses para enfrentar a adversidade e superá-la, acompanhada por um peculiar sentido de humor, instilando na fita um otimismo muito raro no cinema que se faz actualmente. Nem tudo pode ser mau e triste quando há amor, Omo e “Thunderbirds”.