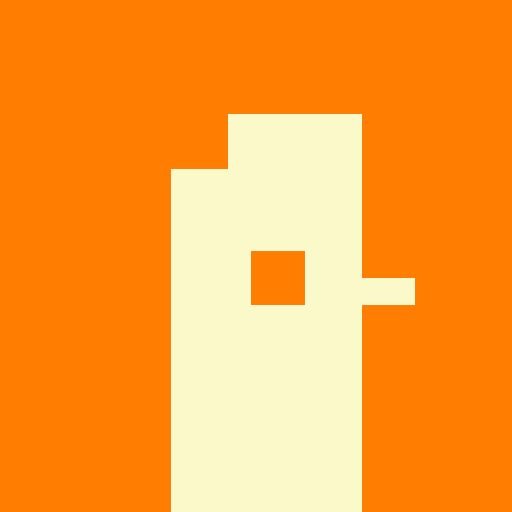Tom Clancy’s The Division surge-nos, pomposamente, como um dos títulos mais esperados do ano. Não só pela chancela de Tom Clancy, como pelo grafismo e envolvência que foram sendo desvendados em eventos de videojogos, que deixaram ansiosos os amantes do género.
“The Division” é uma organização militar secreta cuja missão dos operacionais infiltrados é agir para preservar a ordem e a economia, em caso de eventos catastróficos. É na pele de um desses operacionais que somos colocados, quando uma mega operação terrorista espalha uma epidemia criada em laboratório em plenos saldos de “Black Friday”, com os agentes microbiológicos a serem disseminados através das notas. No caos consumista que se desenrolou, centenas de milhares de pessoas foram infetadas e Nova Iorque mergulha numa espiral de violência e decadência que despoletam a ativação da nossa organização.
Assim, depois da criação da nossa personagem – algo limitada para aquilo que vai sendo standard no mercado, oferecendo apenas seis tipos de caras que podemos parametrizar com escassas opções de cortes de cabelo – somos lançados no caos pós-apocalíptico. O cenário é a cidade de Nova Iorque, onde a neve do inverno cobre centenas e centenas de corpos alinhados nas ruas. Como se, no meio da confusão e desesperadas tentativas de reorganização/criação de uma rede funcional de apoio aos cidadãos, retirar e processar os corpos dos mortos das ruas fosse deixado no fundo da lista de prioridades. A nossa missão? Ajudar a reerguer um esqueleto de organização que auxilie os sobreviventes e manter a lei e a ordem, coordenando com a JTF – Joint Task Force, uma força militar encarregue de situações de emergência – mas assumindo as responsabilidades da maioria das iniciativas.
The Division é então um “jogo de tiros” na terceira pessoa, com fortes elementos de Role Playing Game baralhados e distribuídos sob a forma de um cover-shooter, que é como quem diz, que não seremos uma espécie de Rambo, caminhando tranquilamente enquanto debita munição ao encontro dos nossos inimigos, fazendo peito para enfrentar as balas que apenas nos arranham. Antes, somos encorajados a correr de cobertura para cobertura, flanqueando os inimigos sempre que possível, mantendo a cabeça baixa quando o inimigo dispara, suprimindo-o e criando espaço para flanquear e abater os alvos. Em termos de conceito não há, portanto, muito a apontar. Estamos perante um jogo envolvente, com um sistema de combate desafiante e recompensador. Mas na realidade, as coisas não são inteiramente assim.

Graficamente, The Division é soberbo. Bem otimizado, o jogo rapidamente processa ciclos de dia e noite e de mudanças de clima. As ruas estão semicobertas de neve, num manto retalhado que cobre as ruas, os carros abandonados, sacos do lixo, restos de vandalismo e, claro, corpos. O ambiente é rico, bem decorado, bem preenchido com elementos da vida quotidiana deixados para trás, abandonados. É um dos melhores aspetos do jogo e o que melhor faz por criar uma envolvência e a sensação de imersão naquele universo: as pegadas na neve, os escassos transeuntes desesperados por comida ou água, saqueando, procurando ou pedindo, mendigando. As armas que empunhamos também compõem o ramalhete, com sons e comportamentos diferentes. De certa forma, tudo se vai organizando para criar uma fantástica sensação de imersão naquele ambiente. Os problemas começam depois.
Há um lento escalar de insatisfação que se arrasta por toda a nossa experiência dentro de The Division. Se o primeiro torcer de nariz acontece quando nos deparamos com as escassas opções de personalização da personagem, o segundo surge com as primeiras trocas de tiros em que o combate, embora certo no conceito, destoa do tom realista de aproximação ao jogo logo quando, com dois ou três tiros em cheio, o nosso inimigo continua a carregar contra nós. Seria aceitável se estivéssemos na pele de uma personagem de fantasia a defrontar trolls e monstros, mas num universo criado à imagem da realidade, é uma dissonância tremenda que nos traz abruptamente de volta à realidade de que isto é só um jogo. É como, se na maior mega produção de Hollywood, com um dantesco cenário ultrarrealista de guerra em plena metrópole, as armas disparassem arco-íris e fizessem sons a lembrar o My Little Pony. É quão dissonante a coisa se torna.
É natural que, em parte, a culpa seja nossa. E que seja forçoso um derrubar de barreiras para usufruir em pleno do jogo. A fórmula, afinal, funciona em MMORPG, com magos, guerreiros, druidas e paladinos, porque não haveria de funcionar com um humano comum, com armas comuns? É uma questão a que não saberemos responder, por enquanto. Mas ver inimigos, supostamente humanos, transformados em esponjas de dano, exigindo vários carregadores completos de uma equipa de agentes da Divisão para cair, enquanto caminha calma e lentamente para nós a debitar balas, arruína o realismo que poderia ser a estrela do combate e remete-nos para o supracitado Rambo, sendo que aqui o indestrutível é o Boss, e não nós.
O jogo e as missões tornam-se assim repetitivos, previsíveis, com vagas de inimigos a surgirem umas após outras, sem grande critério na forma como se dirigem a nós, até um ou outro “boss” final que, com maior resistência, exige umas quantas centenas de balas até cair. Missão após missão. Setor após setor. Há uma zona da cidade, no epicentro da epidemia, que procura apimentar o jogo, oferecendo uma zona (ainda mais) inóspita onde as regras do exterior não se aplicam e onde jogadores podem defrontar-se uns aos outros e procurar roubar o saque destes. A “Dark Zone” está pejada de inimigos ainda mais resistentes a tiros e é por lá que podemos recolher algum do melhor equipamento do jogo, sendo que para tal temos que chamar um helicóptero para o recolher para desinfeção. Enquanto esperamos o helicóptero estamos verdadeiramente expostos, e é por essas alturas que os jogadores mais vezes se viram uns contra os outros, uma vez que um alvo abatido deixa ficar parte do seu equipamento no chão, para quem ousar apanhá-lo.
Mas sabe a pouco. E a Dark Zone pouco faz para estender a longevidade de um jogo que se torna repetitivo e algo cansativo rápido demais – ou não estivesse já na calha um Season Pass com mais conteúdo. Sabe a pouco, e não faz justiça a um título com o nome de Tom Clancy, dado o subaproveitamento que é dado à história. Perdeu-se a oportunidade de nos atirar para o meio do verdadeiro caos, para as ruas repletas de doentes. A linha principal da história é-nos fornecida a espaços, geralmente através de um ou outro diálogo ou da consulta de uns registos de memória daquilo que se passou. Mas é uma oportunidade perdida. E, se a ausência de um bom aproveitamento à história, podia ser compensado com o brilho de uma ou outra personagem, nem isso foi devidamente explorado, com um punhado de personagens insípidas e inócuas a serem facilmente esquecidas.
É pena. Tom Clancy’s The Division não é um mau jogo. Longe disso. Tinha potencial para muito mais. Mas também está longe de ser “o” jogo para nos manter agarrados ao ecrã por tardes a fio.
Ricardo Mota, Rubber Chicken