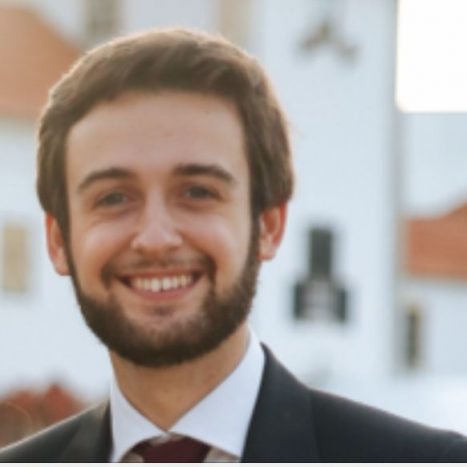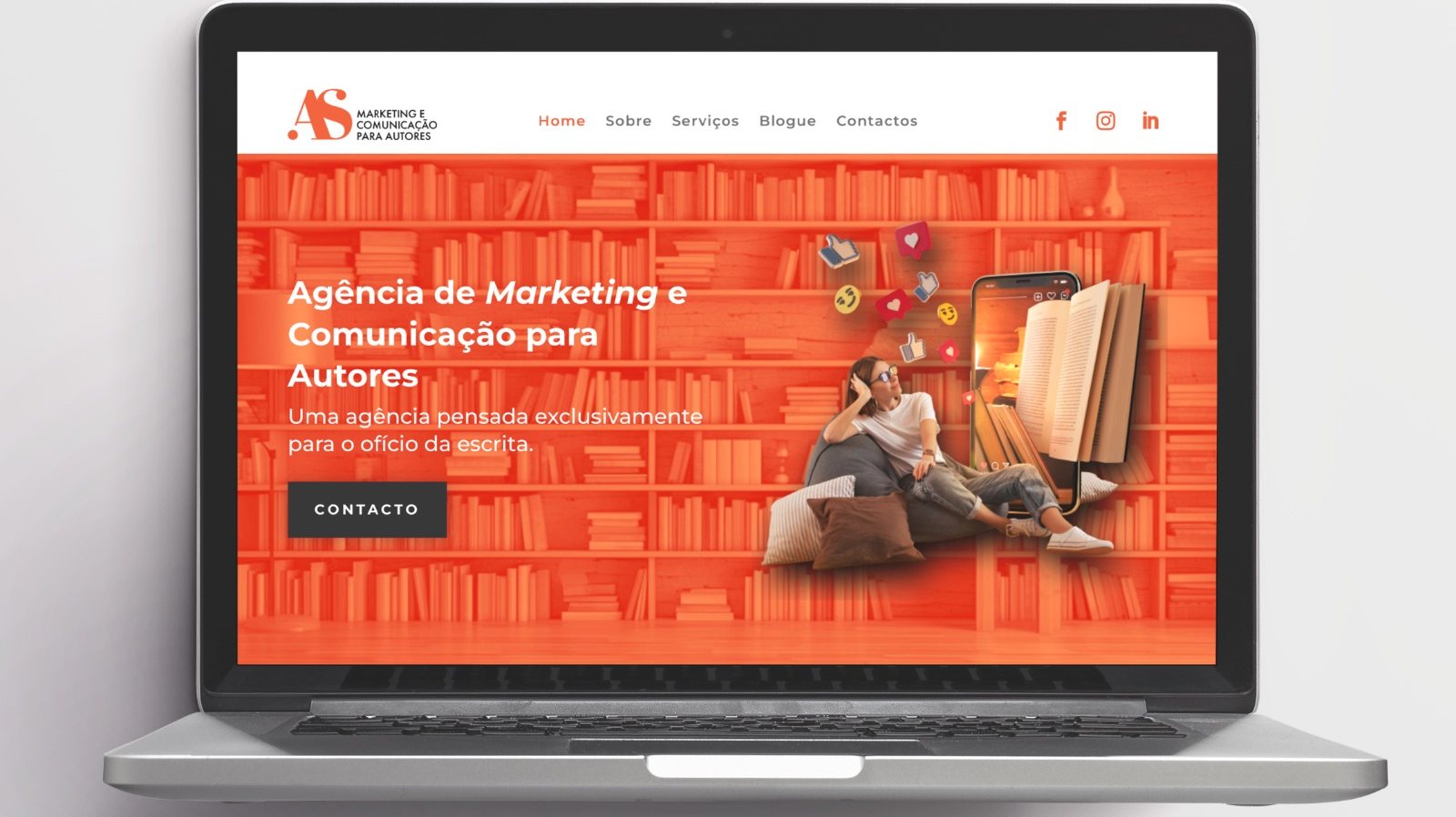Há “quase 25 anos” Emmanuel Carrère converteu-se ao Catolicismo. “O Cristianismo nunca me foi completamente estranho, mas há uma altura em que ganho uma consciência nova, muito influenciado pela minha madrinha, cuja importância é relatada no livro e que é para mim a imagem de um verdadeiro Cristão. Diria que houve um momento em que estive perdido e em que o Cristianismo apareceu como uma saída dessa confusão em que eu estava”, diz-nos ao telefone.
A partir desse momento, e durante um par de anos, Carrère passou a ir diariamente à missa, a comentar denodadamente passagens dos Evangelhos e a procurar viver em fidelidade ao dogma católico. A empreitada foi tanto mais difícil porquanto Carrère era casado, pelo que a conversão implicou um caminho de vida comum, marcado por uma mudança radical. Foi a partir deste tempo que surgiu O Reino, um livro bastante grande que devassa a sua vida espiritual. Da ideia de que alguém pode sair à rua, afirmar que alguém ressuscitou, e não ser tomado como louco, nem reconhecer na sua crença nada de errado.
O livro podia ser sobre esta conversão, e em certa medida é-o. Mas é também sobre a perda da fé e sobre este estranho fenómeno de já não nos reconhecermos naquilo que fomos.
É um livro que escrevi a propósito de uma experiência que foi a minha, mas sobre um eu que é muito muito diferente, um eu que já partiu. É sobre o jovem católico fervoroso que fui e já não sou, mas não queria opor radicalmente estas duas facetas”, conta.
Há um “eu” dominado por uma mundividência e outro que já não se reconhece nela.
De facto, a estranheza e a oposição aparecem, sobretudo no princípio do livro, quando Carrère encontra os seus cadernos com anotações aos evangelhos e, quase instintivamente, lhes reage com certa repulsa. No entanto, Carrère não escreve como um ressentido, numa espécie de revanchismo contra a ilusão que tomou conta da sua vida. Há, obviamente, uma certa melancolia na ideia de que entregámos parte da nossa vida a algo que deixámos de reconhecer como verdadeiro; há nisto uma brutalidade a que é difícil de escapar, mas que Carrère tempera com esta ideia: “Afastei-me completamente do dogma católico, sim, mas o espírito do Evangelho ainda é importante para mim. Cheguei à conclusão de que não é preciso ser católico para que o Evangelho me continue a alimentar”.

▲ A capa de "O Reino", livro de Emmanuel Carrère, publicado pela Tinta da China
Ele próprio reconhece que o dogma fecha a porta a esta postura: “De facto, São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou então a nossa fé é vã. Ainda assim, parece-me que é possível ter uma compreensão do que é a fé Cristã a partir dos seus ensinamentos”. Isto é, de que o texto pode, ainda assim, transformar-se numa ars Vivendi, visto mais como um documento humano importante do que como texto sagrado.
Esta ideia é importante porque transforma o livro de Carrère não só num testemunho da sua própria história, mas num muito mais completo conjunto de perguntas e perplexidades sobre o Homem. De que modo é que se pode, a partir de uma experiência, extrair uma verdade sobre nós próprios que não é aquela que procurávamos? De que modo é que surge uma crença e de que modo é que ela é abandonada? Como é que, na nossa limitadíssima gama de emoções e expressões, se opera uma mudança radical da mundividência, num Homem que tem de continuar a fazer as mesmas coisas, a comer e a dormir, a trabalhar e a rir-se, mas com um sentido diferente do significado profundo de todas as coisas, que à superfície parecem iguais?
Um dos aspetos curiosos sobre esta conversão está, precisamente, na diferença entre um modo e outro de conversão. Carrère diz-nos:
Enquanto a conversão é uma coisa mais ou menos repentina, não abandono propriamente o Cristianismo para me tornar ateu. Há um afastamento progressivo.”
Isto é curioso pelo que representa sobre a naturalidade do espírito. A ideia de que o Cristianismo representa um esforço e que o ateísmo é onde o espírito desemboca se for entregue a si próprio tem, aqui, um papel importante, que foi pressentido ao longo dos séculos.
A ideia de Paul Bourget de que “é preciso viver como se pensa, sob pena de se acabar a pensar como se vive” é também aqui expressa nesta curiosa relação entre o modo de nos comportamos e aquilo em que acreditamos. O filósofo Michael Sandel também diz que “é difícil viver contra a consciência”, mas o que é extraordinário, e aquilo que Carrère experimenta, é o facto de ser a consciência a adaptar-se ao modo de vida, e não o contrário. Que, abandonada a oração ou a ascese, deixemos de acreditar na ressurreição de Cristo diz mostra, de um modo curioso, que os mecanismos da razão não são tão independentes quanto costumamos julgar.
Outro dos aspetos relevantes, porém, no livro de Carrère, é o contraste entre os momentos. Em que momento é que um Homem se reconhece Cristão. Explica ele que “Há uma espécie de intuição conhecedora, a certa altura, de que estas palavras são o centro da vida”, que no seu caso se deu num retiro, já depois de ter manifestado à sua madrinha um certo interesse pelo catolicismo. Mas a decisão contrária, a de não mais se reconhecer como um católico, é muito menos súbita e por isso muito mais subtil.
Perguntamos-lhe como é que ser católico transforma a vida e Carrère respondeu-nos que o fundamental, no catolicismo, “é uma sensação de acompanhamento, de que a figura de Cristo e as suas palavras nos dão uma direcção”; que essa sensação se vá esvanecendo é relativamente natural, e o tempo encarrega-se de tratar dos altos e baixos deste sentimento; mas Carrère tem a consciência, ao mesmo tempo, de que o abandono desta sensação transforma a própria ideia de direção. Cristo não pode ser apenas um fim, alguém procurar seguir os ensinamentos de Cristo não basta para fazer dele um cristão, porque a fé não é uma doutrina, não é um ensinamento, ou um conjunto de ensinamentos, mas uma real transformação das categorias, com a quase louca estranheza de acreditar na Comunhão e na Ressurreição.
Carrère parece pacificado em relação ao seu “período católico”, embora, à pergunta sobre se a dúvida assalta um ateu, da mesma maneira que assalta um cristão, tenha respondido mais como um lutador cansado do que como alguém que já se retirou das lides. Uma vez reconhecido o afastamento, a dúvida “não pode” voltar. É difícil dizer se Carrère foi mais feliz como católico. Ele explica que era profundamente infeliz ao tempo da sua conversão, mas recusa-se a vê-la como um remédio de baixo preço, como um consolo que mascarasse a sua miséria. Afinal, nas suas próprias palavras, nem o catolicismo esconde que “miseráveis somos sempre, de qualquer maneira”.