Há a ideia de literatura como campo de batalha e de literatura como coisa equivalente à vida. Em Montevideu, mais do que a vida das cidades, existe a vida que há dentro dos livros – e, nisto, há o seu poder transformador.
Há um lado concreto – no sentido de palpável – na vida que faz com que o narrador de Montevideu faça uma incursão na literatura. Ao identificar símbolos em portas que estabelecem comunicação entre cidades como Paris e Cascais, Montevideu, Reiquiavique, St. Gallen e Bogotá, surge-lhe o desejo de regressar ao terreno lento e denso da literatura – de pesar a transformação do subjectivo em crença no objectivo.
Com isto, Montevideu é um romance escrito para leitores. Não há ponta de enredo que fuja ao debate sobre a literatura em si, sobre a escrita, sobre a reflexão sobre a relação entre vida e literatura. Sem nome, o protagonista vai arrebanhando o leitor numa pressa de vida e literária, numa obsessão com a palavra. Será a palavra, aliás, a permitir-lhe ter um lugar no mundo. E aqui a literatura não aparece somente do ponto de vista do criador, antes servindo também a leitura – a actualização da relação dialógica iniciada pelo escritor – para inscrever alguém no mundo e no diálogo da subjectividade. Além disso, até a ideia do escritor como estatuto tem peso, daí que haja dificuldade em abandoná-lo, daí que se creia que o estatuto vale por si. É aqui que o narrador cita Barthes, dizendo que o desejo de alguém ser escritor nasceu de um equívoco notável, porque tentava impor-nos a figura do autor de obra literária tal como se podia vê-lo no seu diário pessoal, quer dizer, fazia-nos “ver o escritor sem a sua obra”, que é precisamente a forma suprema do sagrado, a marca e o vazio. (p. 65)
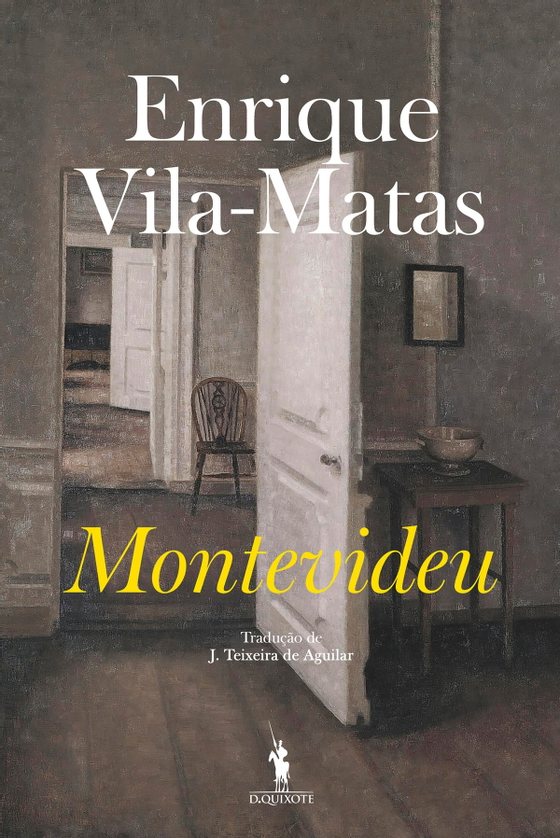
Título: “Montevideu”
Autor: Enrique Vila-Matas
Editora: D. Quixote
Tradução: J. Teixeira de Aguiar
Páginas: 232
O romance vai, assim, tendo mais tom de ensaio – de abertura de diálogo entre uma personagem criada, um escritor que a cria e um leitor que a lê. No cerne de todo esse diálogo, está a relação dialógica em si, e a literatura aparece como desejo de abarcar a totalidade. Ou seja, não apenas como porta aberta para o mundo, mas como o mundo inteiro, incluindo a porta. Os grandes romances serão, assim, o fim das brechas, pelo menos na intenção – a intenção clara de agarrar a imensidão, roubar a incomensurabilidade ao que parece diminuto. A perseguição a uma baleia revela, desta forma, um desejo de açambarcar:
(…) o mundo está cheio de perseguidores da totalidade, alguns de uma valia e valor incalculáveis, como Herman Melville, que é em quem penso quando passeio pelo mundo dos rastreadores do Tudo. Sempre pensei que em Moby Dick traçou uma imensa metáfora da imensidade, da imensidade da nossa escuridão.” (p. 19)
A admiração por esses “rastreadores do Tudo” vai estando presente em cada parágrafo deste narrador. Não apenas quer as pontes entre os lugares, como quer o registo total da vida – ou, pelo menos, como o fascina que alguém o queira. Nisto, não é preciso grande elevação filosófica ou cultural, bastando tão-somente a ânsia do tudo. Thomas Wolfe, com a sua prosa envolvente, de vistas longas, originais, capaz de meter num texto a cultura dos Estados Unidos através de um estilo altamente analítico, merece do narrador o elogio de uma coisa mais mundana:
(…) fascinou-me a sua ânsia de abarcar tudo, os seus intermináveis esforços por registar na memória cada tijolo e paralelepípedo de todas e cada uma das ruas pelas quais tinha caminhado, cada rosto no meio de cada confusa multidão em todas as cidades, cada rua, cada aldeia, cada país, sim, até todos os livros da biblioteca cujas estantes a abarrotar tinha tentado em vão devorar na universalidade” (p. 22)
Toda esta espécie de ensaio se vai fazendo também com um fundo de acção romanesca. De início, por exemplo, o narrador conta a sua ida para a capital francesa, já imbuída do desejo de grandeza em literatura. Queria ser um literato a la anos 20, e ser um escritor francês no que entendia por “escritor francês”:
(…) ou se é um escritor verdadeiro (e então é-se francês, mesmo que se seja norueguês), ou não se é: o caso, para não ir mais longe, de Deus, quando escreve, que dista muito de ser francês.” (p. 39/40)
Nisto, mete-se a vida, e o narrador acaba por vender droga a turistas norte-americanos. É precisamente aqui que divulga que deixou de escrever, e com isso recebe o pasmo alheia: alguma vez deixa de escrever quem nunca o fez a sério? Aqui inicia-se a divagação em que também se entende a escrita como ofício extenuante. Por um lado, há a “poética de abandonar a obra antes de que houvesse obra” (p. 14); por outro, há a ideia de que levar a escrita a sério implica um desejo totalizante de a levar a cabo. E, claro, ainda vai aparecendo a crítica aos que querem escrever em vez de trabalhar, pesando, mais uma vez, a ideia de estatuto.
A escrita de Montevideu acaba por ser labiríntica e, com isso, passa a ter um tom de encantamento. Quem ama a literatura tem de amar todas as dúvidas e mais ainda a vontade de querer tudo: ler tudo, saber tudo, abarcar tudo. Por isso, qualquer leitor compulsivo encontrará neste narrador um par. Pode diferir a vida, mas a busca será a mesma. E o romance, com o seu tom de ensaio, servirá também, para além da relação criada entre leitor e personagem, para abrir um diálogo que permita a quem lê reflectir sobre essa mesma relação – e, portanto, sobre o lugar deste romance no seu mundo conhecido.
A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico.





















