Ouvem-se os primeiros acordes, suaves e económicos, como um primeiro aviso: troquem o café pelo chá, desacelerem o ritmo, travem o multitasking e prestem atenção ao que está prestes a começar. Depois chega a voz como calmante, uma voz que parece procurar alguma beleza em destroços, na desesperança que pode, suspiram os românticos que gostam de cantigas tristonhas, ser combatida na música. A canção como refúgio, como aconchego a salvo das chatices, desilusões, discussões e fúrias diárias. Elas na verdade estão todas cá — mas devidamente mascaradas, devidamente aliviadas.
Estamos a entrar no mundo dos Minta & The Brook Trout. Estamos, mais concretamente, a ouvir “Easy”, a primeira cantiga de um novo disco — Demolition Derby — acabado de editar pela banda portuguesa. E as marcas da música a que os Minta & The Brook Trout habituaram quem os ouve não se dissimulam: a contenção e a parcimónia na melodia, um certo tom melancólico-doce no canto, as palavras cantadas como se todas elas fossem sérias, como se quem as canta procurasse libertá-las cautelosamente para que este comboio não descarrile. E os instrumentos tocados (sempre) mais suave do que ruidosamente.
Na canção que se segue, “International Loss Adjusting”, ouvimos a voz de Francisca Cortesão, fundadora, compositora e principal vocalista do grupo, a cantar-nos — a explicar-nos — que esta música não se faz a partir pratos, a berrar as dores. “I’m not great at being angry”, canta ela. Pois bem, que seja: sigamos a viagem ao som dos Minta & The Brook Trout.
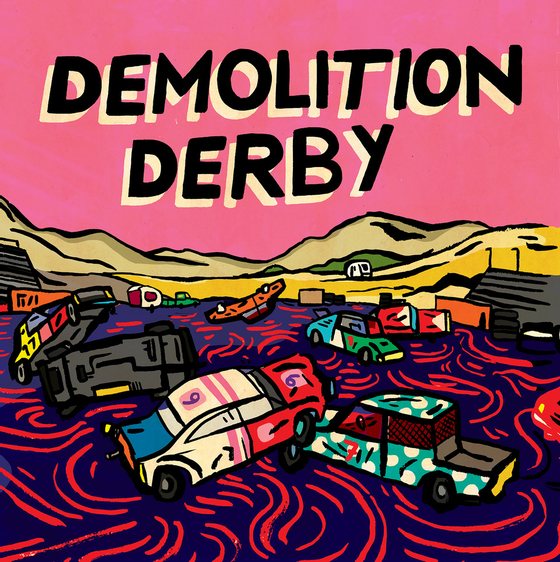
A capa do novo disco dos portugueses Minta & The Brook Trout, “Demolition Derby”
Este disco é feito de oito canções. E soa a álbum de uma banda que já não dá passos em falso, não se precipita, que aprimorou a técnica de fazer canções de amor e desamor, ilusões e desencantos, tudo filtrado por uma delicadeza extrema — quase uma timidez musical, um cuidado absoluto em não se estragar um clima de pazes feitas com as chatices.
Há mais sons inesperados do que nos discos anteriores, mas entram discretamente nas canções. Há mais teclados, sintetizadores, um tom levemente eletrónico até em vozes pinceladas de efeitos (oiça-se “Matador”). Mas até quando o disco balança e acelera ligeiramente (“The Fake Outdoors”) a conversa é em tom baixo, quase sussurrado.
Este não é um álbum, desengane-se já quem estiver com ideias, de auto-ajuda. Também não é um disco de auto-comiseração. É um disco aqui e ali pontuado com ironia e mordacidade, mas sobretudo nascido do apaziguamento que se segue a uma crise interna e a “um certo tumulto interior” de quem escreveu as canções. E, já agora, de um confronto de quem as escreveu com separações, com perdas e com ilusões desfeitas, na vida pessoal e no choque com um mundo que se auto-destrói cada vez que carrega no acelerador da produção e desperdício.
[ouça o novo “Demolition Derby” através do YouTube:]
Já referimos que quem escreve estas canções é Francisca Cortesão — mas as cantigas só ganham esta forma quando a banda as molda, cada um na sua casa e mais tarde juntos em estúdio, já nas gravações. E o grupo inclui Mariana Ricardo, que faz parte desde que Minta & The Brook Trout deixou ser um projeto a solo de Francisca Cortesão e passou a ser uma banda, e Tomás Sousa e Margarida Campelo, membros mais recentes mas não inteiramente novos.
Já quarteto, os Minta & The Brook Trout gravaram este quarto álbum de estúdio e de originais. É mais um disco de um projeto musical que começou quando Francisca Cortesão decidiu colocar canções que escrevera e gravara sozinha — mas com a ajuda do produtor (também é músico) Nuno Rafael — numa antiga rede social, outrora popular, chamada MySpace. E sucede a Minta & The Brook Trout, o primeiro álbum (de 2009), Olympia (2012) e Slow (2016), a que se somam ainda EPs e um disco (Carnide) gravado ao vivo.
A propósito da edição deste novo disco, telefonámos a Francisca Cortesão, que também faz parte do grupo They’re Heading West (que trabalhou nos arranjos das canções do álbum recente Desalmadamente, de Lena d’Água) — e que já vimos no passado quer na banda ao vivo de David Fonseca (há mais tempo) quer na banda ao vivo de Bruno Pernadas (mais recentemente) — para uma conversa sobre estas novas canções.
Durante a conversa, Francisca Cortesão falou ainda dos 15 anos desde que Minta & The Brook Trout nasceu, do seu próprio trajeto no Porto até fazer nascer isto há década e meia e das canções em português que começou há pouco a escrever para outros cantarem (mas não rejeita vir a cantar de futuro), como por exemplo “Para Fora”, cantada por Ana Bacalhau, “Delicadeza”, interpretada por Cristina Branco ou “Anda Estragar-me os Planos”, que fez a meias com Afonso Cabral para Joana Barra Vaz cantar no Festival da Canção e que Salvador Sobral quis gravar.

▲ Da esquerda para a direita: Margarida Campelo, Francisca Cortesão, Mariana Ricardo e Tomás Sousa
Vera Marmelo
Gostava de perceber um pouco a cronologia deste disco. Quando é que as canções começaram a ser feitas, durante quanto tempo andaram de volta destas canções?
Como já tem vindo a ser nosso costume foi um processo muito estendido no tempo. A primeira música a ser composta e que acabou por ser a primeira a sair, também — a “Matador” — já deve ter sido escrita há uns quatro anos. A mais recente, que se chama “Neighbourhood”, foi escrita já em 2020. Portanto, passou algum tempo entre elas. Estivemos a gravar entre o final de outubro e início de novembro do ano passado, sendo que há algumas coisas que aparecem no disco — bastantes coisas aliás — que vinham das maquetes, das demos iniciais que tinha feito.
A formação de Minta & The Brook Trout tem variado ao longo dos anos. Como é que isto, esta banda que até começou como projeto a solo, funciona na prática? E que papel é que têm os outros elementos nas canções?
A Mariana é quem se mantém há mais tempo na banda, para além de mim. Não está desde a formação porque isto começou mais como uma espécie de projeto a solo, mas desde que é banda que a Mariana está comigo e desde o primeiro disco que lançámos enquanto Minta & The Brook Trout produziu os discos comigo. Faço sempre essa ressalva porque é importante: ela produz mais do que eu. Faço a parte da composição e parte dos arranjos mas a Mariana acaba por ser mais quem tem a última decisão nesse aspeto dos arranjos e da produção.
O Tomás Sousa e a Margarida Campelo também tiveram uma influência bastante grande. Eu tinha as músicas nas demos que lhes mandei a todos. Depois, ensaiámos o máximo que conseguimos antes de gravar. Foi complicado por causa destas questões inevitáveis de pandemia —e ainda tivemos uns sustos, uns isolamentos profiláticos que nos reduziram as vias de ensaio, mas ensaiámos o mais possível os quatro as músicas. Houve algumas mudanças feitas nessa altura de tonalidades, de andamentos das músicas. Há coisas que estando eu a gravar sozinha em casa não se percebe e quando estamos todos a tocar ao mesmo tempo fazem sentido de outra forma. Com eles tudo é sempre uma conversa, mesmo o padrão de bateria toda a gente dá opiniões sobre isso, com as guitarras e teclados a mesma coisa. Isso para mim é parte do gozo de fazer música.
Se olharmos para os créditos destas canções, o que vemos tem algumas semelhanças com o que se vê em alguns projetos a solo, em que a composição é praticamente toda de uma pessoa e depois a gravação é feita em estúdio com apoio de outros instrumentistas. O que diferencia esta banda desses projetos a solo com músicos de estúdio, é eles [Margarida Campelo, Tomás Sousa, Mariana Ricardo] terem uma palavra a dizer no som final, no rumo que é dado às canções nessa fase de gravação?
A questão do crédito das músicas é sempre uma questão muito complicada. Acho que foi mais ou menos resolvida por mim e pela Mariana no caso desta banda já em 2009 quando começámos a trabalhar juntas, pensando que se a canção consegue ser reproduzida mais ou menos da forma como a inventei originalmente, à guitarra ou ao piano e a cantar, então isso é o esqueleto da canção. E portanto em termos de crédito de escrita ele só é atribuído a outra pessoa que não eu quando é uma coisa de raiz, o que acontece numa música deste disco e é até a primeira vez que acontece. uma música creditada a meias a mim e à Mariana. Nesse caso foi feita por mim com base numa linha de baixo que ela tinha. É a segunda música do disco, chama-se “International Loss Adjusting”.
Os esboços costumam ser sempre meus. O crédito que lhes é dado, e que é muitíssimo importante, é um crédito de arranjos. Em termos de percentagens de direitos de autor não temos trabalhado dessa forma… também quem me dera que significasse imenso dinheiro para toda a gente que alguma vez gravou coisas com Minta. Mas infelizmente não é o caso.
Sendo as composições de raiz suas, tendo a formação de Minta tido alterações ao longo dos anos, nunca pensou em assumir isto como um projeto a solo? Tendo depois músicos em redor, só para coisas mais técnicas de estúdio e para concertos.
Não, até agora não. Quando isto surgiu, nos idos de 2006 ou lá o que foi — quando comecei a fazer as músicas que deram origem a Minta — o projeto começou por se chamar Francisca Cortesão porque eu fazia aquilo como uma coisa a solo. Mas na altura o Nuno Rafael, que foi quem produziu o primeiro EP, disse-me: a música que tu fazes não tem nada a ver com o nome que tens. E eu dei-lhe razão porque de facto acho que não. É o nome que tenho e gosto muito dele…
Mas não tinha nada a ver porquê? Por causa da língua, das canções serem cantadas em inglês?
Por causa da língua, também. Mas não só. Já nem sei bem, já foi há muito tempo, mas acho que ele me disse que Francisca Cortesão era mais nome de coreógrafa de dança contemporânea [risos]. Não tenho nada contra o meu nome mas é realmente um nome muito sério e acho que não jogava muito bem com esta música que faço — jogará talvez com outras canções, eventualmente, no futuro. Esta banda acho que tem uma identidade um bocado mais anglófona e acho que faz sentido ter um nome anglófono e ter um nome de banda. Porque mesmo que a banda não seja sempre a mesma, não é um projeto a solo.
A Mariana Ricardo está na banda há muito tempo, a Margarida Campelo e o Tomás Sousa entraram mais recentemente. Como é que se conheceram todos? Já conhecia a Margarida e o Tomás antes de os convidar para a banda?
A Margarida já toca connosco desde o disco anterior, desde o Slow, e eu já a conhecia antes do meio musical português, que é muito pequenino. Ela fazia parte de uma das minhas bandas favoritas, que era também a banda do Bruno Pernadas: os Julie & the Carjackers. Conheço-a daí, sou super fã dela há imenso tempo. Mesmo antes das músicas do Slow estarem acabadas já sabia que queria ter a Margarida na banda. Gosto imenso da voz dela e da maneira como toca piano e teclados. E acho que está a ficar cada vez melhor.
O Tomás entrou logo a seguir à saída do Slow porque o nosso baterista anterior, o Nuno Pessoa, foi para fora de Portugal e acabou por não fazer sequer o concerto de lançamento desse disco. Já foi o Tomás que o fez. E chamei-o assim super em cima da hora e ele foi um valente porque veio e aprendeu as músicas todas do disco mais as outras todas que íamos tocar, isto sem nunca na altura ter tocado com mais nenhuma banda para além de You Can’t Win Charlie Brown. Entretanto já tem tocado também com mais gente mas na altura era a primeira banda em que tocava que não era a banda dele, digamos assim.

▲ Os Minta & The Brook Trout vão apresentar ao vivo as canções deste disco novo a 24 de maio, no Teatro Maria Matos, em Lisboa
Vera Marmelo
Queria falar-lhe de um excerto deste texto que foi escrito por si: “There was something in the imagery of cars wrecking cars, the sheer nonsense and waste of it all, that resonated with a quarter life crisis of sorts I was going through”. Em que medida é que estas coisas se interligam, a imagem de carros a chocarem com carros e essa espécie de crise que viveu? Estava aqui a tentar matutar em alguns elos de ligação mas não consegui estabelecer a ponte entre as duas coisas…
Há um lado de facto de crise… Acho que de há uns tempos para cá falo muito da passagem do tempo nas minhas canções. Mas neste disco isso está particularmente acentuado — assim como o impacto da passagem do tempo no meu lugar no mundo, na minha maneira de olhar para o mundo. E há uma coisa que tenho notado que tem estado muito presente quer nas minhas canções quer na minha maneira de pensar: a questão do desperdício, deste disparate do capitalismo, da produção de coisas que ninguém quer.
Aquelas prendas de Natal que as pessoas dão umas às outras porque se criou a obrigação de dar prendas de Natal, por exemplo. Às vezes dá-se uma coisa barata para se dizer que se dá alguma coisa, depois essa coisa se calhar vai ser deitada fora ou dada a outra pessoa… Esse ciclo de fabricar coisas que ninguém quer realmente é uma coisa em que tenho pensado muito. Sinto que as coisas que eram feitas há 20 ou 30 anos eram feitas para durar 20 ou 30 anos e agora é um bocado o contrário. Ao mesmo tempo, também sabemos que estamos a caminhar cada vez mais rápido para uma emergência climática — ou já lá estamos. Não sei, conseguirmos viver neste paradoxo em que sabemos que estamos a caminhar para o abismo mas continuamos a produzir cada vez mais lixo. Isto é um assunto recorrente nos meus pensamentos quotidianos e acho que isso também se entranhou um bocado nas canções. Há algumas que falam mais diretamente disso e senti que havia uma ligação,. Se calhar não é muito direta mas senti que havia uma ligação entre a minha própria crise dos trinta e picos e essa crise generalizada.
A questão da autobiografia na arte é sempre um caso bicudo. Mas as histórias e as emoções que vemos plasmadas nestas canções e até a própria intenção de ir por aqui, de cantar estas histórias e estas emoções, isto diz alguma coisa de quem as escreveu, de si? É só um exercício de interesse ficcional ou tem relação com a biografia?
Neste caso tem relação. No disco anterior, o Slow, há uma ou outra canção que tem um lado biográfico mais presente — é mais ou menos evidente — mas noutras estou só a contar uma história e que não tem necessariamente a ver comigo. Era eu a descrever uma situação, a contar uma história na terceira pessoa desapaixonadamente. Não é o caso neste disco. As canções deste disco são quase todas auto-biográficas [risos], acho. De alguma maneira é engraçado porque o primeiro disco [EP] de Minta, que saiu em 2008 — mas as canções foram escritas bastante antes disso —, era muito autobiográfico. E entretanto fui-me afastando um bocadinho a cada disco, acho eu, da autobiografia.
Nos últimos anos fui fazendo canções que, na minha primeira leitura, eram mais distantes da minha vida. Neste disco, nesse sentido volto para trás [risos]. Estive muito tempo sem escrever nada depois de ter feito o Slow. Também estive muito ocupada com outras coisas. E quando as canções deste disco começaram a surgir, surgiram na sequência de uma crisezinha pessoal. Algumas delas vieram um bocado em catadupa, são um bocadinho mais a quente e um bocadinho mais próximas [do que Francisca Cortesão viveu] do que têm sido.
Na canção “Halfway True”, por exemplo, fala dos “thirty-six [36]”. Nasceu em 1983. Podemos fazer umas contas…
Exato. Agora já vou a caminho dos 38.
Relacionando o que está a cantar consigo, imaginamos que terá sido escrita ali por volta de 2019…
Foi por aí.
E na “Chewing Gum” também há uma referência ao que vem depois dos 30. É assim tão diferente, muda assim tanta coisa? Fico já de sobreaviso…
[risos] No meu caso aconteceu fazer alguma diferença. Quase sempre a diferença sinto-a em coisas positivas. Sinto de facto um bocadinho aquilo de ter mais autoconfiança, de saber um bocadinho melhor o que quero. Por outro lado aconteceu dar-me se calhar umas expectativas um bocadinho mais realistas. Acho que isso não é necessariamente mau, também. Mas penso muito mais na minha idade agora e penso muito mais na passagem do tempo. E é engraçado: sinto mais empatia e percebo melhor os meus pais do que percebia quando tinha 20 e tal anos. Esse lado é engraçado, é curioso.
Uma coisa curiosa na sua escrita — e que já se nota desde trás — é o uso da ironia. Por exemplo, na canção “Fake Outdoors” temos um homem que vende imóveis e que vai bater à porta que tem aspeto de “handsome astronaut” [astronauta bonitão, em tradução livre]. E ainda ouvimos neste disco a Francisca cantar sobre o que aconteceria se “por algum acidente” se tornasse dona de uma fortuna.
[o primeiro single, “Matador”:]
Uma coisa muito interessante na sua escrita é o uso da ironia. Por exemplo na “Fake Outdoors” está o homem que vende imóveis com aspeto de handsome astronaut. Ou aquele cenário do que aconteceria se por algum acidente se tornasse dona de uma fortuna:
So if I ever grow a fortune
by some accident i’m sure
We can all lounge in the lounging chairs
And drink wine like connoisseurs
É uma tentativa de trazer alguma leveza a temas densos, pesados? Porque é um disco que também esse lado sério, denso.
Não é propriamente uma tentativa porque as canções foram saindo como foram saindo, mas tenho muito esse lado. Se calhar no disco anterior isso estava mais presente porque, lá está, as canções eram um bocadinho menos próximas, estava mais a brincar com as palavras e a usar essa ironia se calhar. Há músicas deste disco em que não há sequer margem para ironias.
Acho que é um bocado a minha maneira de ser, de falar e de olhar para as coisas. Eu tendo mesmo nas situações mais extremas a recorrer ao humor ou à ironia se calhar para não sentir as coisas com tanta força [risos]. Conheço-me bem, é isso que faço. Estas músicas são de facto muito pessoais e esta assinatura da ironia não é propriamente pensada. Acho que é mesmo assim que falo e que penso e as canções saem naturalmente com essa marca.
A “Neighbourhood” é uma canção que se diria à partida ser sobre um desencontro amoroso, uma separação. Esse é um tema que lhe parece apelativo para escrever, para extrair boas canções?
Os desencontros amorosos? Têm sido dos meus temas mais férteis. Às vezes escrevo sobre eles de um ponto de vista mais longínquo. Uma das canções de Minta que mais gente ouviu chamava-se “Falcon”, fazia parte do disco do nosso Olympia e é uma canção sobre um desencontro amoroso que é completamente fictícia. Na altura toda a gente ficou: está tudo bem contigo? [risos]. Não, estava tudo bem. Noutros casos, e é o caso do “Neighbourhood”, são coisas que acontecem mesmo. Mas acho que de uma maneira ou de outra, seja de maneira um bocadinho mais trabalhada, ficcional ou real, os desencontros amorosos são tema — e os encontros também, acho que também já escrevi algumas canções sobre o contrário. Tenho alguma dificuldade em fugir…



▲ A banda a gravar o álbum novo em estúdio, captada nas fotografias de Vera Marmelo
Vera Marmelo
No texto que há pouco citava, que escreveu, menciona “um certo tumulto interior”. Pode ser mais um contributo para àquela ideia feita de que as tristezas e os tumultos interiores tendem a dar origem a boa arte…
Podem dar origem a boa arte e a ótimas depressões, também [risos].
Mas essa parte já não interessa muito aos sanguessugas dos ouvintes. Mudando, ainda assim, de tema: nos últimos anos escreveu canções como a “Para Fora” para Ana Bacalhau, a “Delicadeza” para a Cristina Branco e a “Anda Estragar-me os Planos” — esta a meias com o Afonso Cabral — para a Joana Barra Vaz interpretar no Festival da Canção. Depois veio a ser cantada pelo Salvador Sobral. A escrita em português está a intrometer-se no seu percurso?
Sim, está e estou muito contente com isso. O que sinto é que pelo menos para já isso não se intromete na minha escrita de Minta porque curiosamente sinto que são duas coisas diferentes, embora sejam ambas escrever canções e seja eu na mesma, em volta de temas que se calhar não são assim tão diferentes. Mas a abordagem sinto que é muito diferente .
Tem sido muito desafiante escrever em português. Quando a Ana Bacalhau me pediu para escrever uma canção em português no disco dela a primeira reação que tive foi dizer: eu não sei fazer isso. Mas ela confiou em mim de tal maneira que achei que pelo menos devia tentar — e depois fiquei contente com o resultado. Desde então tenho feito algumas tentativas, umas bem sucedidas e outras não, mas gosto sempre de tentar. Também tem sido bom porque as canções em inglês na maior parte dos casos são as canções que faço para Minta, são escritas por mim. Em português tenho feito algumas colaborações e essa parte também é estimulante. É uma possibilidade de trabalhar com amigos meus que têm cabeças que funcionam de forma diferente da minha a nível musical, de letras… e isso também é uma aprendizagem que tenho gostado muito de fazer e que quero continuar a fazer.
Ia tentar perceber isso agora: quão firme é que está em que as canções de Minta & The Brook Trout serão sempre em inglês.
Acho que está bastante firme que não há canções em português em Minta. É possível que venha a escrever canções em português para eu cantar, não tiro de todo essa hipótese — pelo contrário. Mas não vai ser Minta, vai ter de ser outra coisa, porque Minta para mim tem uma identidade definida e que se foi definindo cada vez mais. Parte dessa identidade é o sumo da língua inglesa. Embora haja canções que tenha escrito em português que em termos melódicos e harmónicos até estão próximas daquilo que faço em Minta — é normal, sou eu a escrever —, não é a mesma coisa.
No caso destas canções, sendo tão pessoais, não sei se sente que o português exporaria ou destaparia mais os sentidos do que escreve. Isso também era um ponto?
Acho que não conseguiria ter escrito isto em português. É um pouco bizarro porque em teoria não sou em teoria bilingue. Não aprendi inglês em criança, não é a minha língua materna, mas é a minha segunda língua desde muito miúda. E mesmo a pensar há pensamentos que mais facilmente tenho em inglês do que em português [risos] e é uma língua que me é útil muitas vezes para tentar resolver as questões na minha cabeça.
Na última edição do Festival da Canção viu-se uma divisão entre pessoas relativamente a uma canção em inglês representar Portugal — por um lado o público deu-lhe a vitória, por outro lado houve críticas por a canção ser em inglês. Este contexto atual é prejudicial aos Minta & The Brook Trout? E por contexto quero dizer: uma franja significativa de pessoas avaliar mais uma canção pelo idioma em que é cantada do que pela melodia, pela letra ou pelos arranjos.
Não acho. Fico muitíssimo contente que haja tanta gente a escrever bem em português. Fora esta pandemia e todas as questões de sobrevivência do setor que se colocam, o estado geral da música portuguesa deixa-me muito contente. Quer em termos de escrita de canções quer em termos de letras e arranjos o cenário não tem nada a ver com o mundo em que comecei a fazer música quando era adolescente em Portugal. Nessa altura havia muito poucas bandas em Portugal, grandes ou pequenas, e havia muito menos variedade. E fico muitíssimo contente com a quantidade de gente que está a escrever num português real, não necessariamente hiper-trabalhado e hiper-poético, num português mais parecido com a língua que se fala, com uma voz definida.
Nunca deve ter havido tanta gente a escrever tão bem e a cantar tão bem em Portugal como há neste momento e fico muito contente com isso, encantada da vida. Agora acho que isto não quer dizer que toda a gente tenha de escrever em português e aquilo que sinto em relação a Minta é que Minta tem uma língua e a língua que tem é o inglês.
Que cenário era esse na música portuguesa quando comecei?
Quando comecei a escrever canções elas rapidamente foram em inglês porque era em inglês a música que ouvia na altura. Fora os cantautores de que gosto muito e que ouvia dos meus pais e fora os brasileiros, não havia música como aquela que eu queria fazer cantada em português quando comecei. À exceção dos Clã ou dos Ornato Violeta, a música portuguesa que gostava muito e que tinha um som até mais parecido com aquilo que me dizia alguma coisa era a dos Pinhead Society da Mariana Ricardo, de quem era super fã na altura, os Supernova, uns algarvios que também cantavam em inglês… Portanto, a questão nunca se colocou. Se bem que mesmo quando havia muitas bandas a cantar em inglês, tive uma primeira banda que lançou um primeiro disco em 2001 e na altura não havia entrevista que nos fizessem em que essa questão não viesse já à baila. Acho que isso não é assim tão importante mas pronto.
[“Delicadeza”, canção escrita por Francisca Cortesão e interpretada por Cristina Branco: ]
Pode é haver pessoas que achem que é importante, por isso é que falava nas reações ao Festival da Canção.
Também se pode ver o outro lado: os nossos discos chegam cada vez mais, ainda que obviamente a quantidades reduzidas de pessoas, aos EUA, à Alemanha, ao Japão. Temos tido edições internacionais, nos EUA por exemplo dos discos quase todos até agora. Temos distribuição no Japão… e isto foram sempre coisas que vieram ter connosco, não foram coisas que procurámos. Existe esse público além-fronteiras que se calhar percebe melhor aquilo que estamos a dizer. Aliás, a primeira vez que tive a sensação que estava a cantar para uma sala com gente que estava a perceber exatamente o que estava a cantar e que estava a reagir ao que estava a cantar foi na Califórnia. Mas para mim não é uma questão assim tão importante.
Voltando a este disco: ser um álbum que tem algumas nuances diferentes de som, com mais teclados e menos guitarras acústicas, foi algo pensado a priori?
Foi surgindo, também se calhar um bocado por ter estado mais tempo a trabalhar sozinha nas canções do que é costume. Isso aconteceu por causa da pandemia mas até antes da pandemia, por falta de possibilidade de nos juntarmos a tocar. Quando estou em casa a gravar as coisas, vou tendo ideias e a certa altura vou somando teclados, percussões, guitarras elétricas. A coisa acaba por fugir um bocadinho desse modelo mais básico de guitarra-baixo-bateria-teclado [que se ouve quando cada elemento da banda está a tocar o seu instrumento].
Em cada música deste disco acho que há mais camadas. É um disco mais cheio de sons. Em algumas músicas nem dá para destrinçar muito bem o que lá está a acontecer mas foi porque foi acontecendo assim. Tem um lado ligeiramente com mais eletrónica até, por modelarmos vozes, por usarmos teclados com mais sintetizadores e por aí fora. É um som menos puro e limpo do que tem sido, digamos.
Recuemos uns anos, até antes de nascerem estes Minta & The Brook Trout. Chegou a estudar piano mas acabou por deixar cedo as aulas, ainda na altura da adolescência, e teve bandas a seguir. Como eram essas bandas de adolescência que teve?
As primeiras bandas de adolescência eram estarmos todos na garagem a tentar tocar músicas de Nirvana [risos]. E os Nirvana eram a banda favorita de toda a gente. Era aprender como as coisas funcionavam, não fazer a menor ideia de nada. Éramos super ignorantes, duvido que qualquer banda que se junte agora tenha o nível de ignorância que eu e os meus amigos tínhamos no Porto no início dos anos 90. Não sabíamos o que era uma guitarra, um baixo, um amplificador, como é que se montavam as coisas, íamos aprendendo tudo. Comprava-se coisas numas lojas, mais baratas, coisas em segunda mão que apareciam no Blitz… era tudo muito artesanal [risos].
Nessas primeiras bandas ninguém sabia tocar, ninguém sabia cantar, mal sabíamos mexer nos próprios instrumentos. Mas deu-me sempre me deu um gozo desgraçado e, para grande desgosto dos meus pais, levei sempre as coisas muitíssimo a sério. Faltava a férias em família porque achava que tinha de ensaiar… e estamos a falar de bandas que não tinham concertos [risos], mas levava tudo muito a sério. E desisti do piano por causa disso, obviamente, como típica adolescente achei que não precisava.
E o que é que a fez mais tarde pôr a mochila às costas e ir estudar para Lisboa?
Tinha uma banda e fomos parar a uma situação em que tivemos uma hipótese de gravar para uma editora grande. Eoi isso que fizemos. Na altura para fazer isso convenceram-nos que tínhamos de estar em Lisboa — e se calhar tínhamos .Se fosse agora se calhar esta história não fazia sentido nenhum mas convenceram-nos que era em Lisboa que tínhamos de estar, que era em Lisboa que estava toda a gente: os músicos que iam gravar connosco, o nosso produtor, a nossa editora. Viemos para cá muito miúdos gravar um disco que depois não teve grande sucesso comercial. Gravámos um segundo disco que não chegou sequer a ser lançado também por essa questão do inglês, foi na altura em que as coisas começaram a dar a volta e a nossa editora na altura não quis editar o disco. Houve ali uma fase em que nem sequer fiz música. Pareceu-me uma eternidade na altura mas se calhar foi para aí um ano. Depois voltei rapidamente a fazer música sem banda mas naquilo que veio a dar origem a Minta, na verdade não muito tempo depois.
Se a música já era levada tão a sério, como dizia, porque é que foi estudar Comunicação e Cultura? Eram coisas conciliáveis?
Era conciliável. Acho que nunca me passou muito pela cabeça que fosse fazer só música, achei sempre que era lógico ter… não me apetecia ir estudar música, apetecia-me ir estudar outra coisa. Tive sempre bastante facilidade para línguas e muitíssimo interesse em linguística e em literatura — e em jornalismo também na altura tinha. Achei que aquele era um curso suficientemente variado para depois enveredar por um caminho qualquer que fizesse sentido.
Era um caminho amplo? Não era um curso que lhe afunilava as hipóteses, era abrangente.
Sim, na altura pareceu-me que sim. Sendo que ainda tentei entrar mesmo para jornalismo e estou muito contente que as coisas tenham corrido mal, que as coisas não tenham acontecido, porque acho que foi mais interessante para mim ter feito Comunicação e Cultura na Universidade de Letras do que propriamente tendo de ir para a Nova estudar Ciências da Comunicação. Acho que teria sido um bocadinho redutor para o que queria. Na Faculdade de Letras, tive a sorte de ter professores geniais tanto de línguas como de literatura, cultura clássica… A utilidade é relativa mas aprendi uma data de coisas que adorei aprender. E gostei muito do meu curso.
[O tema “Anda Estragar-me os Planos”, escrito por Francisca Cortesão e Afonso Cabral, nas vozes de Salvador Sobral e Tim Bernardes:]
Hoje concilia a música por exemplo com a tradução. Não sei como funcionava com os outros elementos de Minta & The Brook Trout, se também têm outras atividades fora da música.
Todos eles conciliam com outras atividades. O Tomás a tempo inteiro tem um trabalho que não tem a ver a música, que eu não sei explicar exatamente o que é mas que tem a ver com animação e mais uma data de coisas. E é muito bom naquilo que faz. A Mariana é argumentista, bastante conhecida aliás nessa área, costuma trabalhar com o Miguel Gomes, com João Nicolau, já trabalhou com mais alguns [realizadores] numa data de filmes importantes para a história do cinema português, feitos nos últimos anos. A Margarida para além de ter cinquenta mil bandas dá aulas no Hot Clube e também dá aulas particulares de piano. Ninguém aqui vive só das suas bandas.
Isso é relevante para o que lhe queria perguntar. Quem vive da música hoje em dia depende muito mais das receitas de concertos do que acontecia há umas décadas. Se dependessem exclusivamente da música para as vossas contas, com a paralisação provocada pela Covid-19, esta paragem seria ainda mais — bem mais — angustiante.
Conheço pouca gente que dependa exclusivamente da música em termos de música ao vivo porque é muito difícil conseguir fazer isso. Para quem está nessa situação é muitíssimo complicado. Obviamente os técnicos e por aí fora, aqueles que vivem da música ao vivo, estão com certeza a ter um ano muitíssimo complicado. A maior parte dos músicos meus amigos, que eu conheço, acabam por fazer outras coisas às vezes relacionadas com a música, outras vezes não, mas a atividade deles não é só tocar ao vivo e gravar discos. Há quem o faça em Portugal mas suspeito que é uma minoria.
Minta & The Brook Trout faz 15 anos. Num texto que referia isso lia-se: “Tudo começou em 2006”. Como é que tudo começou, na prática? No Myspace? E que expectativa tinha para o que poderia vir a ser a banda?
Foi no Myspace com certeza. Quando fui para Lisboa e tinha outra banda, ia gravar para uma editora grande. De repente íamos ser músicos, essas eram as minhas expetativas aos 17 anos. Aos 20 anos quando essas canções de Minta surgiram e as pus no Myspace e por aí fora foi já sem expectativas nenhumas. Foi mesmo só porque me apeteceu gravar umas músicas e me apeteceu que elas não ficassem só para mim .E tudo desde então tem crescido devagarinho, da forma que faz sentido. Sem ter propriamente grandes ambições e grandes expectativas, este projeto a solo transformou-se numa banda, a banda foi tocando, fomos fazendo discos, fomos reunindo ouvintes, foram entrando diferentes pessoas na banda.
Acho que se foi criando um catálogo coeso de canções e também de discos — no que diz respeito até ao artwork e vídeos. É um catálogo do qual tenho muito orgulho, pelas canções e não só, também pelas coisas que estão à volta delas. Mas expectativa não existia, propriamente. E para mim isso acaba por ser muito mais saudável, comparado com a minha própria experiência anterior.

▲ Os Minta & The Brook Trout nasceram há 15 anos, quando Francisca Cortesão (à direita) decidiu colocar no MySpace as primeiras canções do projeto que viria a originar a banda
Vera Marmelo
Quinze anos é bastante tempo. Em termos de modelo de escrita de canções, de escritores de canções, o que mudou desde o início e o que se manteve no seu gosto?
Os mega clássicos mantêm-se: os Beatles e os Beach Boys mantêm-se. O Eliott Smith mantém-se, a Laura Veirs ou a Gillian Welch mantêm-se. Depois houve escritores de canções a que estranhamente só comecei a prestar atenção mais tarde e que hoje em dia são para mim muito importantes, é o caso do Jeff Tweedy dos Wilco, do Bill Callahan e do Bonnie Prince Billy. Eram escritores de canções que conhecia, que sabia que existiam na altura em que comecei a fazer isto mas que não ouvia com grande atenção e entretanto comecei a ouvir com muito mais atenção.
Não houve alguns escritores de canções que tenha passado a ver com menos interesse, com a experiência e prática acumulada que teve de escrita de canções desde aquele início?
Bandas sim, mas acho que tem mais a ver com o som. Existiram discos que gastei um bocado por ter ouvido demasiado, mas escritores de canções não. Há alturas que mexem mais uns do que outros, mas algumas das minhas bandas favoritas de agora são algumas das bandas favoritas que tinha aos 16 anos. Aos 16 anos já gostava de Yo La Tengo e de Pavement. E continuo a gostar.












