Reencontramo-nos no hall do Hotel Palácio do Estoril. Foi lá que marcámos encontro, tal como há sete anos – no final de Junho, no local onde sempre decorre por esta altura o Estoril Political Forum, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Timothy Garton Ash é um convidado regular e a última vez que nos cruzámos neste espaço foi precisamente em 2016, meses antes das eleições norte-americanas mais surpreendes de sempre.
“Ainda se lembra da conversa que então tivemos? O título que escolhi nessa altura para a entrevista foi: ‘Eu vi como os ingleses votaram no Brexit. Por isso, não se iludam: Trump pode ganhar’. Foi premonitório”. Timothy sorri e comenta que, se disse isso, sente-se orgulhoso.
Seguimos então para uma mesa da esplanada, pedimos duas garrafas de água, pouso sobre a mesa o seu livro mais recente, “Pátrias – Uma História Pessoal da Europa”, até porque ele é um bom guião para revisitarmos o tempo que vivemos, um tempo marcado pelo regresso da guerra à Europa e pelo recuo dos ideais democráticos e liberais em vários países deste nosso continente. Jornalista, historiador, cronista, académico, Timothy Garton Ash foi nestes últimos 50 anos uma testemunha privilegiada das revoluções e contra-revoluções europeias, viveu-as tanto nos estaleiros de Gdansk como numa Berlim ainda dividida, discutiu-as nos gabinetes de Bruxelas assim como foi ouvido como conselheiro na Casa Branca.
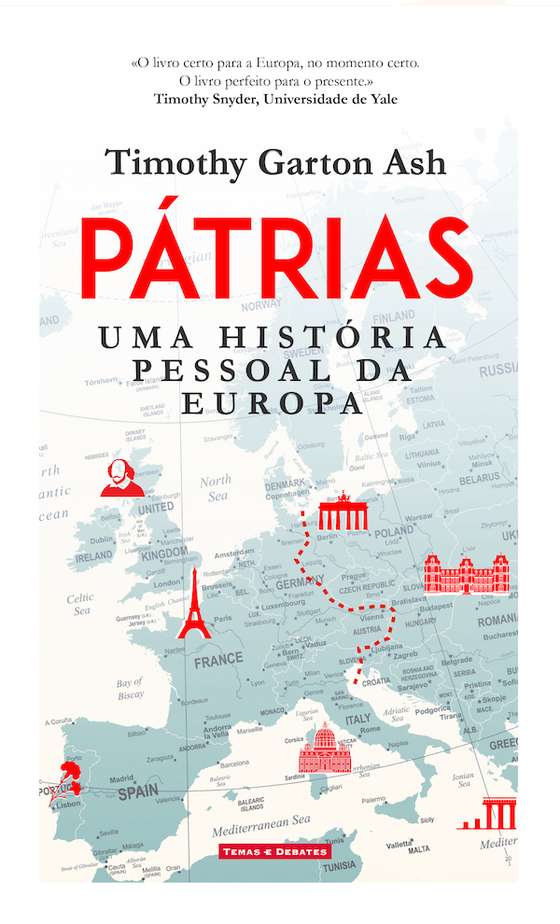
“Pátrias”, o mais recente livro de Timothy Garton Ash, é mais do que um livro sobre a história da Europa nos últimos 50 anos, é um testemunho pessoal de quem viveu por dentro, junto dos principais protagonistas, essa mesma história
Há vinte anos acreditou estar a viver o sonho de qualquer liberal, ao ver a democracia triunfar um pouco por todo o lado, hoje preocupa-se com um recuo dos princípios liberais no seio até da União Europeia e, naturalmente, inquieta-se com uma guerra que reconhece não ter antevisto nas suas dimensões actuais, respondendo às minhas perguntas com outra pergunta, para qual nem ele tem uma boa resposta: “Como é possível que a Rússia esteja a travar uma guerra de recolonização?”
Precisamente por querer deixar para trás esta “impossibilidade”, Timothy Garton Ash desafia outras certezas e outras intuições, defendendo, por exemplo, que a Ucrânia para vencer esta guerra – e tem de a vencer – necessita mesmo de reconquistar a Crimeia. Vale a pena conhecer os seus argumentos.
O que é interessante na sua obra é que é, ao mesmo tempo, um espectador empenhado e um historiador. É alguém que escreve sobre — penso que é o nome de um dos seus livros — “a história do presente”. Como é que o faz? A história não necessita de alguma distância?
Muito facilmente, porque desde Tucídides até ao século XVIII as pessoas pensavam na história do seu próprio tempo, a que tinham presenciado, como a melhor época da história, porque a tinham visto com os próprios olhos e ouvido com os próprios ouvidos. Acho que combinar o método jornalístico — observar, ouvir, falar com as pessoas — com o de um historiador que olha para as suas fontes é muito importante porque, de outro modo, muitas coisas acabariam por se perder. Há coisas que descrevo no livro que se teriam simplesmente perdido nas areias do tempo.
Aquilo que não é possível saber são as consequências a longo prazo. O que é interessante neste livro é que estou a revisitar os últimos 50 anos de escrita sobre a história do presente, e a analisar como tudo se desenrolou do ponto de vista das consequências históricas.
Quando revisita estes momentos, sente que houve períodos de maior otimismo por contraste com outros mais negros como, talvez, os dias de hoje?
Absolutamente. Olhando para trás, todo aquele período desde o final dos anos 1980, atravessando a década de 1990 e indo até meio da década de 2000, parece um período de grande otimismo histórico. Depois chegamos a 2008, com a crise financeira mundial e Vladimir Putin a anexar parte da Geórgia, e é uma cascata de crises. Não digo “poli-crises”, porque isso sugere que é tudo simultâneo, e não é; é uma cascata, uma sequência de crises. Desde o Brexit a Trump, à crise dos refugiados, a anexação da Crimeia, o desmantelar da democracia na Hungria, a crise do Euro — muito importante –, a Covid-19, até chegarmos à invasão em larga escala da Ucrânia.
Claro que durante esse longo período de otimismo histórico houve maus momentos — as guerras na antiga Jugoslávia, o 11 de setembro –, mas no geral foi um período onde nós, os europeus liberais, sentimos que a história estava a correr em nosso favor.

▲ Para mim, a palavra do ano é uma palavra ucraniana: "Volya". Significa simultaneamente liberdade e força de vontade. É a vontade de ser livre, a luta pela liberdade. Foi isso que esquecemos
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Lembro-me de um texto que escreveu, no final do milénio ou princípio dos anos 2000, onde diz qualquer coisa como: “Talvez estejamos a deixar para trás um dos melhores períodos de sempre, e não sabemos se a história se repetirá.
Se escrevi isso estou muito orgulhoso de o ter escrito. O que escrevi anos depois foi que, se tivesse sido congelado em criogénio em janeiro de 2005, teria ido para o meu descanso temporário como um europeu feliz. Esse era o momento em que tudo parecia estar a correr bem: tínhamos tido o alargamento para leste da União Europeia (UE), a Zona Euro parecia ir bem, íamos a caminho de uma Constituição Europeia, tínhamos democracias consolidadas na Europa de Leste, o Reino Unido parecia estar confortável na UE e acontecera a Revolução Laranja na Ucrânia, que parecia um avanço na sua história.
Foi no momento em que esteve naquela celebração em Gdansk? Em Agosto de 2005?
Foi sim, exatamente.
Também lá estive.
Não foi fantástico?
Foi um momento fantástico. Mas o que acha que aconteceu mas a desilusão que se seguiu? Será que a história não tem um futuro que é sempre melhor do que o passado? O que pode justificar estes contratempos?
Numa palavra, arrogância. Tornámo-nos arrogantes, complacentes, preguiçosos e auto-satisfeitos, e caímos na falácia da extrapolação ao acharmos que a direção na qual a história tinha ido era a direção na qual continuaria a ir. E foi precisamente nesse momento que a história começou a ir por outro caminho.
As pessoas falam sempre sobre Fukuyama e “o fim da história” na década de 1990. Mas eu não acho que essa arrogância tenha terminado aí. Se nos lembrarmos da década de 1990, havia uma incerteza sobre o caminho que iríamos seguir. Não sabíamos se seria possível fazer a transição do comunismo para o capitalismo e para a democracia. A maioria dos grandes projetos europeus, até o mercado único, não tinham ainda sido completados. A união monetária era apenas uma ideia, o grande alargamento também. O Espaço Schengen ainda não estava estabelecido. A arrogância começou a instalar-se quando, à primeira vista, alcançámos todos esses objetivos na primeira metade da década de 2000.
Diz que é uma questão de arrogância. Mas o que explica que as pessoas não defendam abertamente a democracia? Como se explica o que está a acontecer na Polónia, por exemplo?
Um dos sintomas desta arrogância foi termos começado a acreditar que a liberdade é um processo histórico, Hegeliano, um processo inevitável. Esquecemo-nos de que é e sempre foi uma luta, de que temos de lutar por ela. Foi uma mistura de um otimismo intelectual injustificado e uma certa “atrofia da vontade”.
Para mim, a palavra do ano é uma palavra ucraniana: “Volya“. Significa simultaneamente liberdade e força de vontade. É a vontade de ser livre, a luta pela liberdade. Foi isso que esquecemos, e foi só quando a liberdade e a democracia caíram sob ataque é que as pessoas começaram a lutar por elas outra vez, e ainda estão a lutar. Na Polónia há uma grande luta a acontecer.
O problema é que as pessoas podem lutar pela liberdade, mas também têm de se sentir bem nas suas vidas. E quando me deu esses exemplos de East Oxford, onde fez campanha no referendo do Brexit, quando me fala de pessoas que até estavam bem, não eram pobres, mas que sentiam que estavam a ser deixadas para trás e por isso votaram como votaram… O que é que a nossa sociedade lhes pode dar?
Em termos de, à falta de melhor palavra, as democracias ocidentais vigentes, primeiro, o modelo globalizado de capitalismo financeiro, depois, o modelo que desenvolvemos ao longo da década de 1990, produziu níveis significativos de desigualdades socioeconómicas. Disso não há dúvidas, nos EUA ou no Reino Unido. Além disso, a sensação que as pessoas em East Oxford, no sudeste da Polónia, no nordeste de França ou na Alemanha de Leste tinham, a sensação de estarem a ser ignoradas e desrespeitadas pelas elites metropolitanas liberais, vem de uma combinação de fatores económicos e culturais (nunca é só um ou o outro) que produziu um ressentimento e uma raiva tal que as pessoas continuam a votar nos populistas, mesmo que estes não lhes tenham dado nada.
Tem uma experiência pessoal desse sentimento com o seu pai? No seu livro conta-nos como ele também teria votado Brexit…
Ele era eurocético mas é uma história muito diferente, porque ele vinha do establishment das classes média-alta e profissional, portanto não tinha nada a ver com isso. No caso dele havia uma nostalgia por um Reino Unido mais forte e uma crença genuína na democracia. Ele teria votado sempre a favor do Brexit porque, como sempre me disse, “é uma questão de democracia”. E autogovernarão, para ele era essa a ideia-chave.
Aquele francês de quem fala no livro — você bebe um copo de vinho, ele bebe quatro…
O velho francês, sim.
Não me parece ser alguém de baixo estatuto. Mais classe média?
Ele é dentista, mas o caso dele é ligeiramente diferente. Se se lembrar, ele diz “vou votar na Marine Le Pen outra vez” — e tenho a certeza que o fez — por causa da imigração. O que para o meu pai não era um grande problema.
Mas não era só por causa da imigração. Era a imigração e o poder de Bruxelas.
Absolutamente, é verdade. No livro também cito um estudante suíço que diz: “Não quero que a Suíça entre para a UE”. Eu pergunto porquê, e ele diz: “Oiça, eu sei que a maioria das nossas coisas vem da UE, as regulações, etc., mas gosto da sensação de que nos governamos a nós mesmos”. E temos de compreender que as pessoas têm a sensação de ter um governo autónomo e democrático nas suas nações, algo que não existe ao nível europeu.

▲ A política também é teatro. É sobre linguagem, e sobre ligarmo-nos aos "atores" no palco. E ninguém se liga aos "atores" em Bruxelas, lá longe
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Não acha que isso é um problema para a União Europeia?
É um grande problema, e muito difícil de resolver. A política também é teatro. É sobre linguagem, e sobre ligarmo-nos aos “atores” no palco. E ninguém se liga aos “atores” em Bruxelas, lá longe. O Parlamento Europeu (PE), em teoria, é a solução perfeita – parlamento eleito diretamente. Na prática, a maioria das pessoas não sente, no seu íntimo, que são representadas pelo PE. Muitas delas não sabem quem são os seus eurodeputados.
Muitas delas até sentem que eles estão lá apenas em representação do país, e não do partido no qual votaram. E isso cria-lhes uma espécie de barreira, porque a democracia devia ser o confronto de diferentes ideias e modos.
Sem dúvida. Sabe, para mim um dos grandes escândalos e tragédias dos últimos 15 anos tem sido a forma como Viktor Orbán tem conseguido destruir a democracia na Hungria. E uma das chaves desse processo foi o facto de ter conseguido permanecer como membro do Partido Popular Europeu durante tanto tempo, o que o protegeu. O elemento que era suposto gerar mais democracia a nível europeu, na verdade contribuiu para a erosão da democracia a nível nacional, na Hungria. Esse sistema dos grandes partidos europeus não está a funcionar bem.
O vosso Partido Brexit foi maioritariamente formado a partir de discursos em Bruxelas…
E Nigel Farage ainda recebe uma bela pensão dos vossos contribuintes europeus.
Qual é que acha que pode ser a evolução? Neste momento quase não se fala da China, da ligação entre a China e a Europa. É algo do qual parece que não falamos porque, durante boa parte dos últimos 50 anos a China foi um país muito distante. Mas agora não é.
Posso contar-lhe uma história sobre isto? O meu filho mais novo, Alec, que é jornalista e autor, foi viver para Pequim com a mesma idade que eu tinha quando fui viver para Berlim. Vive há mais de 10 anos na China e fala chinês fluentemente. Se eu hoje tivesse a idade dele, provavelmente teria ido para Pequim e não Berlim.
Porquê?
Porque os últimos 50 anos foram fundamentalmente sobre nós. Foram sobre derrubarmos as ditaduras, em Portugal e noutros países, derrubar a Cortina de Ferro e a divisão da Europa entre o Leste e o Ocidente, unir a Europa, fazer a transição para a democracia, etc. Os próximos 50 anos vão ser sobre o resto do mundo. Se fosse escrever um livro sobre a Europa na próxima década, talvez começasse na China, na Índia, na Turquia, na Rússia ou no Brasil. Uma história vista de fora para dentro.
É algo que se sente internamente ou é algo que vem de fora? Vem da nossa ligação com o mundo ou do mundo para connosco?
Percebo o que está a dizer. Nós fomos para fora, começando por Portugal, que foi o pioneiro das colónias ultramarinas europeias. Falo muitas vezes de Ceuta, que foi a primeira colónia europeia no continente africano. Partimos mundo fora durante 600 anos e agora o mundo está a vir até nós.
Uma vez, alguém ao falar comigo formulou a questão da seguinte maneira: será que a Europa consegue ser a mesma com pessoas diferentes dentro dela? A minha resposta é sim, sem dúvida. Temos de fazer com que funcione porque a escala da imigração… escrevo muito sobre isto no livro, mais de 10% da nossa população tem uma herança de imigração. O que acho fascinante é que os muçulmanos britânicos são bastante britânicos; os muçulmanos alemães são bastante alemães; os muçulmanos franceses são bastante franceses. A integração está a acontecer através das nações, de culturas nacionais muito fortes, e as pessoas estão a tornar-se europeias através dessa integração.
Para mim, essa é uma questão ligeiramente diferente da que é colocada por uma nova superpotência como a China, ou por outras grandes potências fora da Europa, como a Índia, a Turquia, o Brasil ou a África do Sul, que cada vez mais estão a dizer: “Não vamos escolher entre o Ocidente e a Rússia. Não vai ser como na Guerra Fria. Somos grandes poderes com os nossos próprios interesses e vão ter de nos encarar olhos nos olhos”.

▲ Os meus amigos ucranianos dizem que a chave é a Crimeia, precisamente pela razão pela qual as pessoas no Ocidente têm reservas sobre apoiá-los no que toca à Crimeia
Anadolu Agency via Getty Images
Estamos preparados para isso?
Acho que só agora é que estamos a acordar para essa realidade. A guerra na Ucrânia foi um momento revelador. Como é possível que a Rússia esteja a travar uma guerra de recolonização?
Ficou surpreendido com a guerra ou estava à espera que Putin tivesse ido tão longe?
Escrevi um artigo em 2015 em que defendia que deveríamos dar mais apoio militar à Ucrânia. O artigo saiu no The Guardian, e recebi mais hate mail por esse artigo do que por qualquer outro que tenha escrito, o que diz muito. Por isso vi o perigo e sem dúvida que achava que precisávamos de fazer mais para apoiar a Ucrânia, mas como a maioria dos meus amigos russos e ucranianos, achei que Putin atacaria o Donbass, talvez a ponte terrestre para a Crimeia, mas não achei que tentasse conquistar todo o país. Os serviços de informação norte-americanos e britânicos foram os únicos que nos avisaram, e todos os meus amigos ucranianos e russos disseram: “Não, ele não vai fazê-lo”. Não sei quanto a si…
Eu também defendi, dois ou três dias antes da invasão, que talvez ele fosse até ao Donbass, mas não mais do que isso. Achei que a Ucrânia era um país demasiado grande para tentar conquistar…
Quando reconstituirmos tudo o que se passou vai dar um belo livro de história, mas talvez demore anos para se conseguirem fontes. Putin não só comprou a sua própria mitologia, de que os ucranianos são na verdade russos, como tinha o “Departamento 5”, que era uma ala de informação sobre o espaço pós-soviético. E um ponto interessante é que muitos dos informadores ucranianos eram pessoas ligadas ao Presidente deposto, Yanukovich. Pode bem ser um exemplo de informações falsas, um pensamento ilusório que lhe foi transmitido. Havemos de descobrir.
Acabou de me dizer que, quando escreveu o tal artigo em 2015, houve pessoas que ficaram muito chateadas. O que acha que dizem agora? Parece que agora estamos a assistir a uma espécie de consenso que não existia na Europa dos últimos anos?
Esse consenso é fantástico. Quer dizer, ainda há países bastante problemáticos. A opinião pública italiana é um pouco problemática, a Eslováquia, estranhamente, é bastante problemática (cerca de 30% da população culpa os EUA pela guerra), a Bulgária é um pouco problemática… Mas, no geral, a opinião pública europeia vai até mais longe que os governos. É um grande momento europeu, há uma sensação de união e propósito.
É um momento europeu ou ocidental?
Ora aqui está um dado interessante: o que a história dos últimos 50 anos nos diz é que, se tentarmos criar uma União Europeia à imagem Gaullista, da Europa como uma alternativa aos EUA — como defendeu Emmanuel Macron em entrevista ao Les Echo: “a Europa como o terceiro polo” — acaba-se sempre por dividir a Europa em vez de a unir. Foi o que aconteceu com a guerra no Iraque, e o que aconteceu com a entrevista de Macron. Uma razão pela qual estamos tão unidos, para lá da nossa admiração pelo que a Ucrânia está a fazer e o quão flagrante a agressão é, também tem a ver com o facto de sabermos que o estamos a fazer numa parceria estratégica com os EUA, o que torna este num momento euro-atlântico.
O maior perigo para a Ucrânia agora não vem de dentro da Europa. Talvez possa haver alguma “fadiga ucraniana”, com um ou dois países a amolecer um pouco, mas o apoio europeu vai continuar. Mas a parte de leão do apoio militar é norte-americano. E por isso o maior perigo é Donald Trump. Como da última vez que falámos, em 2016. Difícil de acreditar que ainda estamos perante um cenário em que Donald Trump pode voltar a ser eleito.
Será Donald Trump o problema ou será o Partido Republicano? Ou os Republicanos podem dar a volta se se conseguirem ver livres de Donald Trump?
É Donald Trump. Se olharmos para os republicanos no Capitólio, existe um consenso pró-ucraniano alargado. O apoio na opinião pública norte-americana está a diminuir mas isso acontece sempre. “O resto do mundo está tão longe, temos os nossos próprios problemas”… houve sempre uma tendência isolacionista nos EUA. Mas se fosse ao nível do Congresso, Republicanos e Democratas, acredito que o apoio se manteria, talvez a um nível ligeiramente mais baixo.
Donald Trump é um problema único porque ainda admira Putin. Ele próprio o diz. Ele admira o “homem forte”. É o único no mundo capaz de tirar o chão à Ucrânia. E isso seria um desastre.
Usou a expressão “homem forte”. Temos agora na Europa, não gosto de usar o termo “mulher forte”, mas mulheres de uma certa projeção, duas mulheres muito diferentes: Ursula von der Leyen e a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni. Que lugar podem elas ter? Tivemos Merkel durante muitos anos…
Também temos Kaja Kallas, a maravilhosa primeira-ministra da Estónia, temos Zuzana Čaputová, a grande Presidente da Eslováquia, tivemos Sanna Marin, a inspiradora primeira-ministra da Finlândia, temos Annalena Baerbock… Uma das melhores coisas dos últimos 50 anos são os avanços nas posições das mulheres a todos os níveis da vida europeia. Meu deus, se recuarmos até 1973 e olharmos para as fotografias a preto-e-branco das principais figuras da política, dos negócios, do jornalismo, eram todos homens brancos…

▲ No geral, a opinião pública europeia vai até mais longe que os governos no apoio à Ucrânia. É um grande momento europeu, há uma sensação de união e propósito
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
A primeira foi Margaret Thatcher.
Absolutamente, tem que lhe ser dado esse reconhecimento histórico. Mas estão a desempenhar um papel bastante significativo. Acho que Ursula von der Leyen tem tido um papel muito positivo. Giorgia Meloni… deixe-me ser rigoroso: é uma pós-neo-fascista. Quem imaginava que alguém que passou vários anos dentro de um partido genuinamente neo-fascista seria agora primeira-ministra de uma democracia europeia ocidental – mas aconteceu. A posição dela sobre a imigração é muito problemática mas, sobre a Ucrânia, tem sido basilar, muito forte e direta.
O que acho que estamos a ver é o regresso de uma espécie de fenómeno de reacionarismo pró-ocidental. Pensemos em Portugal. Membro fundador da NATO — com o Sr. Salazar, um reacionário, no mínimo dos mínimos…
As circunstâncias eram muito diferentes. Salazar estava à procura de um escape. Talvez Meloni também esteja.
O que quero dizer é que já não vivemos mais num mundo de centro-direita consolidada, da democracia cristã. A fronteira entre a democracia cristã e a direita dura, até radical, está a desaparecer cada vez mais. Marine Le Pen, em França, se houvesse eleições amanhã, seria a principal candidata a Presidente; no Reino Unido estamos a assistir ao desaparecimento dessa fronteira; não é claro o que pode acontecer na Alemanha, para não falar da Polónia e da Hungria. Estamos a perder aos poucos a correlação entre a política interna de, se quisermos, uma espécie de centro-direita liberal, moderado e civilizado, e as posições ao nível da política internacional.
O que acha que vai acontecer ao seu país nesta Europa? Ainda estão à procura do lugar que devem ocupar?
É inteiramente claro para mim que o Brexit foi um erro tremendo, não apenas para o Reino Unido mas também para a UE. A Europa está mais fraca. Uma maioria da opinião pública britânica acha agora que foi um erro, mas não uma maioria avassaladora. Dependendo de como a pergunta é feita serão 55, 56, 63%, mas não são 85%. Essa percentagem é maior entre as camadas mais jovens. O que vai acontecer nos próximos 5 anos, quando tivermos um novo governo, provavelmente trabalhista, e for negociado um novo acordo com a UE, que abranja os serviços profissionais, a liberdade de movimento, os serviços financeiros, provavelmente algum acesso ao mercado único para bens produzidos, união aduaneira… haverá um regresso a um soft-Brexit. É aí que estaremos daqui a 5 anos, após os quais a pergunta será: “o que acontece agora?” Paramos por aí, nesse semi-distanciamento, ou haverá uma evolução segundo a qual os britânicos continuam a dizer: “Isto não chega, queremos mais”. Isso dependerá de como estiver a União Europeia a sair-se por comparação com o Reino Unido. Por isso, de certa forma, depende de vocês.
Acha que a UE foi demasiado dura à mesa das negociações?
Não, não. Foi o Reino Unido que se decidiu pelo hard-Brexit. O Brexit mais duro de todos, com Boris Johnson. Não culpo a UE de todo. Quer dizer, agora, a esta distância, podia Angela Merkel ter ajudado David Cameron um pouco mais, com um qualquer acordo? Talvez, é um daqueles “e ses” da história. Mas 95% da culpa é do lado britânico, talvez 5% seja da UE.
Olhando para daqui a cinco anos, acredita que a Ucrânia vai ganhar a guerra e entrar na NATO?
Acredito fervorosamente que temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a Ucrânia ganhe a guerra. O nosso objetivo estratégico deve ser que a Ucrânia recupere o controlo de todo o seu território soberano, incluindo a Crimeia.
Porquê a Crimeia?
Porque é importante. Os meus amigos ucranianos dizem que a chave é a Crimeia, precisamente pela razão pela qual as pessoas no Ocidente têm reservas sobre apoiá-los no que toca à Crimeia. Porque é a única coisa que importa verdadeiramente à Rússia. O Donbass também, mas não importa tanto — na verdade, para nenhum dos lados, se formos honestos. Mas a Crimeia importa verdadeiramente para a Rússia e para Putin. Esse é o primeiro “porquê”.
Interessa pela sua mitologia histórica ou é por Sevastopol?
É por tudo. É o grande triunfo de Putin, há a mitologia histórica, há a base naval, há a geopolítica e a geoeconomia. Representa uma base importante no Mar Negro e uma espécie de porta-aviões terrestre apontado diretamente ao ponto sensível da Ucrânia.
Há uma questão a curto-prazo: só se se ameaçar a Crimeia, cortando-lhe as rotas de abastecimento, é que se pode provocar uma mudança na Rússia. E as pessoas costumavam dizer-me que isto era completamente irrealista; ora, veja-se o que acabou de acontecer na última semana! Tivemos uma situação sem precedentes em que a própria criatura de Putin, Prigozhin, levou a cabo um motim armado e chegou até meio caminho de Moscovo. Isto aconteceu por causa da guerra na Ucrânia. O que é que acontece na política russa se a Ucrânia conseguir ameaçar a Crimeia?
A questão a longo-prazo é que a Ucrânia só poderá estar verdadeiramente segura se não tiver este porta-aviões terrestre que dá pelo nome de Crimeia a ameaçar-lhe o seu flanco mais desprotegido e a controlar o Mar Negro. Seria uma derrota de tal ordem para a Rússia que teriam de repensar a sua estratégia no plano global.
A Rússia é talvez o último império europeu. Haverá um fim para este império?
É disso mesmo que se trata: com o benefício do conhecimento dos últimos 40 anos da história europeia, o grande motor dessa história tem sido o declínio do império russo. Se pensarmos no início dos anos 1980, o início do declínio visível, depois pensámos que tudo tinha desaparecido em 1991, e depois o império contra-atacou como os impérios em declínio costumam fazer. Esta é a grande história do nosso tempo, e temo que continuemos a lidar com o declínio do império russo como um problema durante mais alguns anos, porque ainda há a Bielorrússia, a Chechénia, as repúblicas da Ásia Central, as minorias russas… Ao contrário do Reino Unido, da França ou de Portugal que, quando abriram mão dos seus impérios ultramarinos, tiveram uma pátria sólida à qual podiam regressar, a Rússia existe apenas enquanto império há 300 anos – não há uma nação-estado com fronteiras bem definidas. Vai ser um processo muito longo, mas do que tenho a certeza é que uma derrota clara vai ajudar esse processo de a Rússia deixar de ser um império e começar a definir o seu lugar.














