Título: “O Amigo Americano”
Autora: Patricia Highsmith
Editora: Relógio d’Água
Páginas: 280
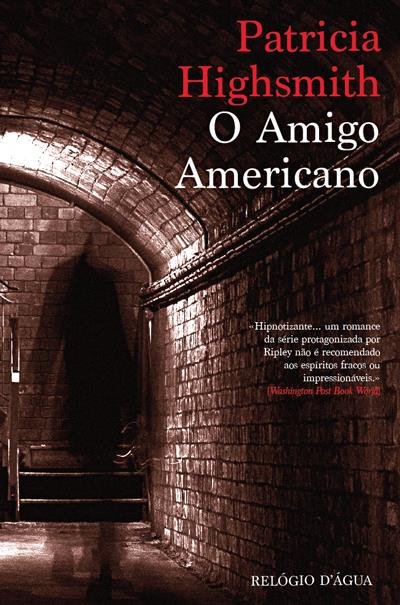
Der amerikanische Freund foi o nome que Wim Wenders deu ao filme que tirou, em 1977, do romance de Patricia Highsmith, intitulado Ripley’s Game, terceiro romance da série dos Ripley, com alguns pozinhos de Ripley Underground, que o precedera. Coprodução franco-alemã, chamou-se em francês, como é natural, L’ami américain e o título colou-se ao livro. Quando o Ripley’s Game tornou a ser adaptado ao cinema, mais à letra do que da primeira vez, recuperou também literalmente o título do livro. Esse filme chamou-se em Portugal “O jogo de Mr. Ripley”, de novo uma coprodução europeia. Foi realizado com razoável brio por Liliana Cavani, florão já um tanto gasto da cinematografia italiana dos anos 60 e 70, lembrada sobretudo (se alguém se lembra dela) pelo seu principal êxito comercial, “O Porteiro da noite”, um filme escandaloso no seu tempo.
[o trailer do filme de 1977]
Entre o segundo e o terceiro dos Ripley mediaram quatro anos; mas tinham passado quinze quando Patricia Highsmith revisitou em Ripley Underground o personagem apresentado em The Talented Mr. Ripley. Este seu livro de 1955 teve um título lapidar na sua primeira versão em português: Um homem de talento (publicado em 1959 na coleção Vampiro, a tradução era de Mário Henrique Leiria, que também traduziria, entre outros romances ditos policiais, The Long Goodbye de Chandler, que teve outro título brilhante: O imenso adeus); ninguém sabia nessa altura que ia ser o primeiro de vários livros dedicados ao assassino perenemente impune – não é preciso agora nenhum spoiler alert, com quatro sequelas publicadas já toda a gente sabe que Ripley escapou sempre. Depois dos três livros já referidos, Highsmith publicaria O rapaz que seguia Ripley (1980) e Ripley debaixo de água (1991). A mais recente adaptação cinematográfica de Um homem de talento (com Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow – houve uma versão francesa há muitos anos), a de As duas faces de Janeiro e a de Carol relançaram o interesse pela autora.
Quando publicou o primeiro Ripley, Patricia Highsmith não era uma completa desconhecida. Era aliás relativamente bem conhecida desde que Alfred Hitchcock – com a colaboração de Raymond Chandler no argumento – fizera a partir do seu primeiro romance publicado, Strangers on a Train, O desconhecido do Norte-Expresso (outro título “francês” que também adoptámos). Queixar-se-ia muitas vezes, talvez ingratamente, de que os seus livros estavam condenados às secções da crítica especializada em romances policiais, de onde praticamente nunca sairiam senão depois da sua morte – apesar das credenciais literárias que lhe foram outorgadas por alguns autores e críticos: estou a olhar um amarelecido recorte da The New York Times Book Review de 1991 em que se anuncia a publicação do que seria o último Ripley; apesar de incluir as recomendações altamente lisonjeiras de Gore Vidal ou Auberon Waugh – a prosa publicitária, em letras gordas, anuncia à cabeça que “He’s back!”, está de volta “o mais encantador dos psicopatas” – o criminoso bem-sucedido que “não gostava de matar ninguém a não ser que fosse estritamente necessário” (“Tom detested murder unless it was absolutely necessary” são palavras, justamente, de Ripley’s Game). A criatura apossara-se da criadora.
“Em França, em Inglaterra, na Alemanha não sou classificada como romancista de suspense mas sim como simples romancista, com maior prestígio, críticas mais extensas e melhores vendas, proporcionalmente, do que na América.” – escreveu Highsmith em Plotting and Writing Suspense Novels, submetendo-se ela própria com esse título à ditadura do rótulo que a entristecia. Era verdade que “em França – palavras suas um tanto patéticas – todos os meus livros foram reeditados na prestigiosa colecção da Hachette Livres de Poche (sic) que inclui os clássicos universais.” Mas mesmo em Inglaterra, apesar de todas as accolades, não deixava de ser sempre a “mestra do suspense”. Mestra do suspense ou não, Patricia Highsmith sempre tentou os editores portugueses e a sua obra de ficção, salvo erro ou omissão, está integralmente publicada em Portugal, nalguns casos em mais do que uma versão ou editora. A presente edição de O amigo americano pela Relógio d’Água retoma a tradução de 1983 publicada com o mesmo título nas Edições 70 (não acareei as duas versões mas são ambas assinadas por Mariana Pardal Monteiro; a tradução é conscienciosa e, tanto quanto verifiquei fiel, mas porque insistem algumas traduções em dar a urn o significado de “urna” em vez do “vaso” que normalmente o próprio contexto indica que é?)
Os romances “de suspense” de Patricia Highsmith não são para todos os gostos – nem particularmente para o meu. É uma cronista meticulosa dos nossos maus pensamentos e maus instintos e dos nossos temores, mas nos seus personagens a consciência só se manifesta sob a forma de apreensão. Relê-los não é um prazer. Só o passo certo e entorpecente da sua escrita, que nem sempre evita a banalidade, e a perspicácia de algumas observações psicológicas, tornam suportável a repetição desta receita doentia, que também segue, com mais ligeireza e menos angústia, nos livros de Ripley. Entre estes, Um homem de talento é o Ripley por excelência. Os Ripleys seguintes – como este “Amigo Americano” — não estão no mesmo plano: são principalmente variações de um “jogo” de gato e rato em que nos move principalmente a curiosidade por ver como vai o engenho de Ripley fazê-lo escapar (ou não) às consequências policiais e morais dos seus actos. Contos de fadas invertidos.
No prefácio a Eleven, uma colectânea de alguns dos contos de P. Highsmith – sempre cruéis – Graham Greene escreveu que ela “criou um mundo original, um mundo fechado, irracional, opressor em que não penetramos senão com um sensação pessoal de perigo… até com uma certa relutância.” Não se pode resumir melhor o que faz o mérito e também a condenação dos livros de Highsmith. São um quarto escuro – mesmo que nas paisagens que lhes servem de cenário brilhe muitas vezes o sol.
















