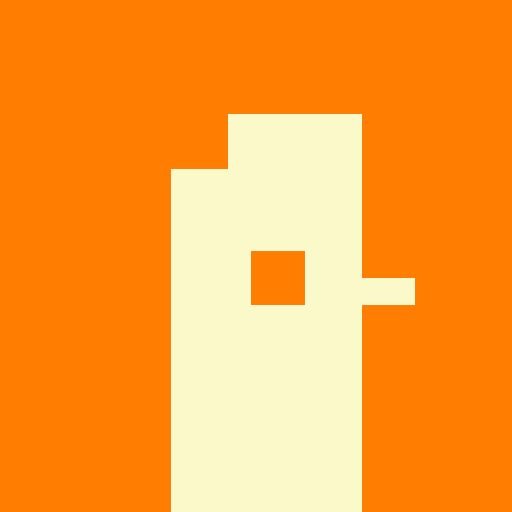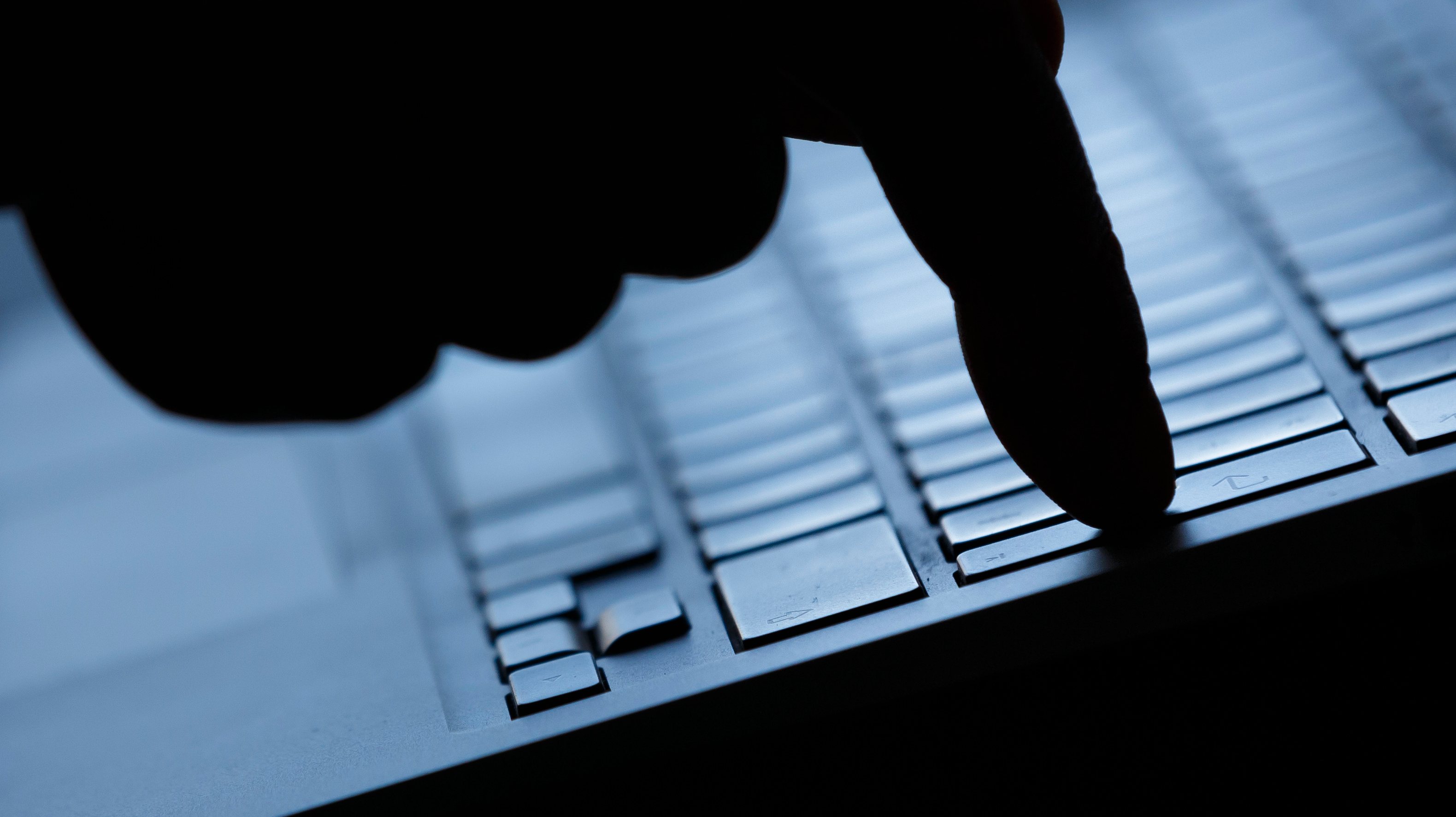Detroit: Become Human é o mais recente exclusivo da PlayStation 4 e será lançado mundialmente nesta sexta-feira, dia 25 de maio. É a mais recente obra de um dos mais importante escritores e autores de videojogos, David Cage, e um dos maiores “responsáveis” pela interseção de linguagem entre os videojogos e o cinema.
Quando em 2013 o jogo Beyond: Two Souls foi apresentado de forma inédita no Festival de Cinema de Tribeca, o seu autor, David Cage, justificou a sua presença com a sua crença de que os videojogos (e o que apelida de narrativa-interativa) devem ser objetos acessíveis a qualquer pessoa. Esta abertura do mercado dos videojogos (e também o do cinema) de receberem objetos que cruzam os dois meios, em muito se deve a Heavy Rain, de 2010, igualmente criado por Cage e pelo seu estúdio, o Quantic Dream. Com um argumento não-linear de que as nossas decisões causam ramificações e desenlaces diferentes, Heavy Rain e Beyond: Two Souls tinham por objetivo criar uma experiência individual.
As expectativas para o novo Detroit: Become Human residiam nas promessas de rumo de David Cage, especialmente desde que convidou o argumentista Adam Williams para o ajudar no desenvolvimento do enredo do novo título. Desde os primeiros trailers que os paralelismos com Blade Runner começaram a ser traçados — uma comparação que não foi rebatida pelos autores nas duas oportunidades que tivemos de os entrevistar.

Em Detroit: Become Human, vivemos o papel de três androides que servem como diferentes pontos-de-vista da tensão social da Detroit de 2038. O extremo desenvolvimento da Inteligência Artificial e da biomecânica permitiu construir androides tão idênticos aos humanos que a sua eficácia levou a que estes ocupassem grande parte do esforço laboral. O reverso deste progresso científico é que, nos EUA, no momento em que a história começa, o desemprego está perto dos 35%, levando a que os tumultos das populações contra os robots sejam elevados.
A forma como Cage e a sua equipa desenvolveram este mundo faz-nos lembrar alguns exemplos das tensões raciais do nosso passado recente. Mas, se nos dias de hoje ainda vivemos casos de segregação racial entre humanos em algumas partes do mundo, em Become Human são os androides que são o alvo de uma espécie de apartheid entre a raça superior — os mestres humanos — e eles — os escravos, que têm de usar um compartimento isolado na traseira dos autocarros, entre diversas formas de diferenciação do dia-a-dia.
O jogo não se fica, porém, apenas pelas questões mais óbvias da diferença entre o ser humano e o ser artificial, vai mais longe do que isso e chega às definições de existência, de consciência de si mesmo, de moralidade, credo e auto-preservação. E sobretudo na discussão do entendimento de liberdade, quando os androides quebram com as suas barreiras programadas, passam a sentir como os humanos e descobrem o caminho para o livre-arbítrio.
Os primeiros casos que conhecemos destes desviantes (deviants, no original em inglês) são dos androides que, em legítima defesa e ao ganharem um sentimento de auto-preservação, acabam por se revoltar e assassinar os seus mestres. É o caso de uma das personagens que controlamos, Kara (interpretada por Valerie Curry), a androide doméstica que ficámos a conhecer no polémico trailer apresentado na Paris Games Week do ano passado que passa a deviant para defender uma menina que era vítima de abusos do pai. Outro caso é o de Markus (interpretado por Jesse Williams), que tenta defender o seu mestre e acaba por ser injustamente acusado de agressão a um humano. Mais tarde, torna-se num dos líderes na luta pelos direitos dos androides.
Detroit: Become Human é tão forte e tão pesado narrativamente que, muitas as vezes, os dilemas no jogo nos obrigam a pensar nas nossas próprias definições de moralidade. Um bom exemplo disso é a hipótese que nos é dada com Kara e com o momento em que vemos o pai da menina a dirigir-se até ela para a atacar. A ordem que nos é dada pelo nosso proprietário é bem clara: temos de ficar “parados” e até surge uma “parede” à nossa frente para nos lembrar disso. Temos a escolha de obedecer ou de salvar a menina, um ato contrário à nossa programação. Devido a uma série de acontecimentos (alguns deles anteriores a este evento), na minha jogada, acabei por matar o pai da criança e fugir com ela para a proteger de qualquer ameaça. Mas este foi o resultado das minhas decisões e ações, e é interessante que a Quantic Dream tenha, no final do capítulo, a descrição do flowchart das ramificações possíveis, os caminhos que escolhemos e a percentagem de jogadores que tomaram as mesmas decisões.
As ramificações de cada capítulo são tremendas e permitem uma personalização da história, até nas coisas mais simples. Uma resposta ou uma pergunta podem mudar o curso da história. Quando um dos protagonistas morrer por causa das nossas escolhas, isso não faz com que o jogo termine, apenas permite que a história e o mundo continuem sem ele. Aqui não existe Game Over, nem é possível perder no sentido tradicional da coisa, mas a história pode ter um tom mais negro do que aquilo que gostaríamos que tivesse. No meu caso, tive um final que apenas 1% dos jogadores que já jogaram Detroit: Become Human alcançaram, o que neste momento não é dizer muito em termos de números, já que foram principalmente jornalistas a testarem-no nesta fase de pré-lançamento.
Quando conversámos com os autores do jogo, ficámos com a noção de que muito de Detroit: Become Human ultrapassaria os limites do ecrã. E é bem verdade: acabei por trazer para a minha casa alguns dos debates ou reflexões sobre a definição de vida e sobre o que muitos de nós ainda veremos acontecer. E não falo de androides “rudimentares” como a Sophia que nos assombra ao lado do CR7 na publicidade da MEO, mas do patamar a chegaremos em poucas décadas, com um nível de desenvolvimento de androides como Kara, Markus e Connor. E se eles desenvolverem sentimentos? Livre-arbítrio? Ou aquilo que consideramos ser um exclusivo dos humanos: a consciência, o medo de morrer e do que vem depois? E se eles, à semelhança do que acaba por acontecer em Detroit, desenvolverem uma religiosidade espontânea? Quais serão os seus direitos e quais serão os nossos?

Chloe, a androide que nos recebe no ecrã inicial diz-nos, e com bastante propriedade, que os problemas deste jogo podem não ser os de agora mas que serão certamente do futuro. É essa uma das maiores forças de Detroit: Become Human e um dos grandes marcos nos videojogos. Não são apenas as questões técnicas,absolutamente exímias do ponto de vista de cinematografia e de detalhe visual e filmagem, a interpretação soberbo do elenco ou o interesse rítmico entre o que é filme e o que é mecânico e interativo que tornam Detroit: Become Human um exemplo de excelência — é seu brilhante enredo e construção de mundo, que nos obriga a discussões perfeitamente obrigatórias nos tempos em que vivemos, com o ressurgimento de falhas humanas que julgávamos já extintas.
Detroit: Become Human é o jogo mais ambicioso de David Cage, mas é também aquele que foi melhor conseguido. É um dos jogos visualmente mais impressionantes desta geração e um dos poucos cuja imersividade permite transportar os temas tratados para o lado de cá do ecrã. Mas esse é o efeito que as grandes obras artísticas têm em nós, e Detroit relembra-nos que os videojogos não são exceção. Ainda com alguns títulos exclusivos previstos para a PS4 para este ano, Detroit: Become Human apresenta-se como único e obrigatório para todos os que têm esta consola da Sony.
Detroit: Become Human é um exclusivo PlayStation custa 59,99€ e pode ser comprado a partir de dia 25 de maio. Pode ser jogado em português, com vozes de Diogo Morgado, Victória Guerra e José Mata
Ricardo Correia, Rubber Chicken