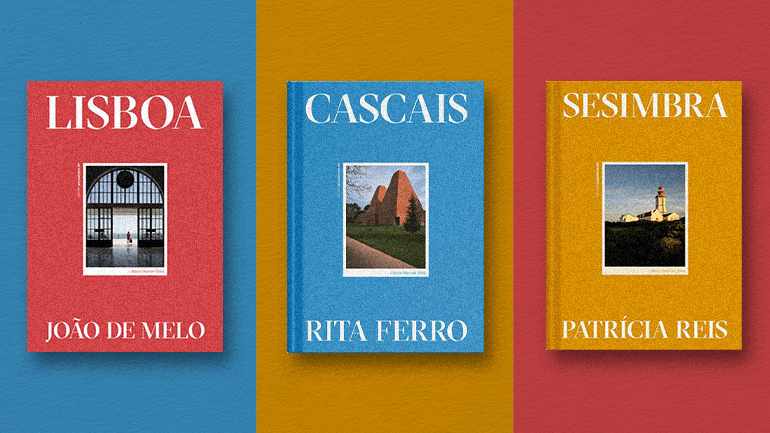Título: O Meu País
Autora: Maria Filomena Mónica
Editora: Relógio d’Água
Páginas: 256
Preço: 19€

É impossível, a respeito de qualquer livro de Maria Filomena Mónica, não começar pelo estilo. A mistura entre autobiografia e História, a memória constante do fascínio juvenil pela descoberta do mundo, a tensão entre a vida que queria e o seu meio social, todas estas marcas a que este O Meu País não foge têm algumas vantagens: por um lado, conseguimos perceber a motivação da autora para chegar aos temas. E se, numa versão menos apurada, seria fácil tornar o registo pessoal uma espécie de confissão involuntária de quem julga que é a peça fundamental na História de um país ou de uma classe, a verdade é que Maria Filomena Mónica navega bem por estas águas: a importância, o interesse e a utilidade daquilo que é estudado ganha com o anúncio das preocupações da autora, o sentido da investigação torna-se mais claro e a própria narrativa aligeira em alguns momentos, o que torna a leitura agradável.
Por outro lado, algumas afirmações mais desabridas, ou os casos em que exemplos familiares tão anquilosados como quaisquer outros confirmam as teses expostas, têm também a sua utilidade: a ideia de que foi criada numa espécie de redoma elitista, distante do mundo, é mais uma declaração sobre o país do que sobre ela própria: é fundamental, nos livros de Filomena Mónica, a ideia de que as elites de meio do século passado foram criadas numa espécie de cegueira, em que seria possível viver sem dar, quer pelo mundo lá fora, quer pelo mundo cá dentro. A impreparação cultural e política, uma certa insensibilidade, tudo isso se pressente com mais força a partir do estilo de Maria Filomena Mónica do que se perceberia com as descrições e os exemplos mais canónicos de História social.
Posto isto, é curioso ver Maria Filomena Mónica escrever sobre o seu país nos termos em que o faz neste livro. A relação turbulenta com o país tacanho e a comparação constante – e sempre pouco abonatória – de Portugal com Inglaterra parecem neste livro ficar para trás. Este livro nasce de uma espécie de descoberta tardia de sentimentos simpáticos para com o país, e é isso que torna esta análise histórica do nacionalismo e da ideia que o país teve a respeito de si próprio interessantes: esta não é mais uma sirene estridente a apitar contra os perigos do nacionalismo de cada vez que um prato de bacalhau aparece na literatura. É uma revisão da História contemporânea de Portugal a partir da análise do espaço que a ideia de Portugal ocupou em diferentes momentos.
Ora, o primeiro ponto que nos parece importante assinalar é precisamente o ponto de partida. O livro começa com uma análise mordaz (e também um pouco desleixada, embora o rigor da análise se adeque bem ao rigor dos objetos analisados) de algumas das proclamações filosóficas mais balofas sobre o significado de Portugal. É verdade que as súmulas propostas por Eduardo Lourenço, Boaventura Sousa Santos ou José Gil, como nota Maria Filomena Mónica, ou são incompreensíveis de tão empoladas, ou arbitrárias, ou completamente genéricas. Isto porque a identidade de um país é antes de mais, como sempre o explicaram os teóricos nacionalistas, de José Antonio Primo de Rivera a Maurras, histórica. O modo de Maria Filomena Mónica procurar a identidade de um país é, por isso, o mais adequado e aquele que permite um estudo mais rigoroso. Da mesma maneira que Dilthey, a respeito da filosofia da História, explicava que é difícil encontrarmos a verdadeira história, mas é mais fácil percebermos o que é que, ao longo do tempo, se julgou que era a História, também é mais difícil encontrar a identidade de um país no abstrato do que saber o que é que, ao longo dos tempos, se julgou ser a identidade do país. Ora, é este o objeto de estudo de Filomena Mónica, e as suas variações estão muito bem apanhadas e têm traços que são poucas vezes estudados.
Embora a autora se refira à identidade a partir das coisas pequenas e concretas, numa tese própria de um brando conservadorismo inglês, a força do livro está na capacidade de perceber a forma como a identidade nacional se foi moldando, nas mãos dos dirigentes, para justificar os seus propósitos. Não quer isto dizer, como seria próprio de uma conclusão precipitada, que não exista identidade nacional por ser complicado defini-la; o que isto significa é precisamente aquilo que José Antonio Primo de Rivera apresenta como “unidade de destino”: a ideia de que uma unidade política é precisamente aquilo que se pode mobilizar em conjunto, em direção a um propósito, e que pode caber numa definição, mesmo que essa definição possa variar com o tempo. Como Filomena Mónica mostra, essa definição varia: o que é interessante é perceber de que modo é que varia.
Um dos pontos mais curiosos do livro é a perceção de que o entendimento de Portugal como nação, isto é, de que o nacionalismo, é extraordinariamente consolidado pela república. É claro que a república dá corpo a um movimento de séculos, mas é fácil de perceber que, enquanto existe monarquia, a própria estrutura das famílias reais europeias é um entrave à constituição de um nacionalismo sólido. A fidelidade às linhas dinásticas é tão ou mais importante quanto a fidelidade a um território; os próprios casamentos reais, a herança de territórios, os impérios, tudo isso são entraves, diplomáticos e não só, à constituição de trincheiras muito sólidas entre países. O exemplo da família Battenberg, como membros a servir em várias marinhas e exércitos diferentes e até com alianças com várias casas reais é apenas um de muitos casos que mostram que uma espécie de “internacionalismo” não é apenas característico da alta-roda financeira judaica de princípios de novecentos, mas uma característica própria dos regimes monárquicos.
O patriotismo monárquico, tão bem definido por Orwell no seu ensaio sobre P. G. Woodehouse, é mais uma questão de etiqueta do que de doutrina: um homem ama o seu país, da mesma maneira que dá o seu lugar às senhoras; mas se na Europa é fácil identificar a ruína deste tipo de patriotismo e a sua substituição por uma doutrina nacionalista com as mudanças provocadas pela primeira guerra mundial (que é também o acontecimento de viragem para a História das monarquias), Maria Filomena Mónica identifica bem, em Portugal, o advento dos sentimentos republicanos com a propagação do nacionalismo de tipo doutrinário.
É interessante notar também que, ao mesmo tempo que crescem as ideias republicanas em Portugal, cresce também um sentimento de decadência que terá o seu papel na ideia que o país faz de si próprio. Embora, da geração de 70, se acentua geralmente o repúdio pelo país e a condição de “estrangeirados” – muito à boleia de Eça, o único verdadeiramente estrangeirado – a verdade é que as proclamações mais alacres sobre a pátria vêm acompanhadas de uma ingénua crença na força das leis e dos sistemas que seriam capazes de reformar o fraco carácter nacional. Isto é, no fim do século XIX misturam-se de uma maneira curiosa duas doutrinas que farão um caminho sinuoso ao longo do século XX. A crença desmedida no papel reformador das leis foi também responsável pela propensão da República, e antes disso do liberalismo, para os governos autoritários, capazes de encontrar as leis que verdadeiramente reformassem o carácter nacional. Por outro lado, a tendência nacionalista dos democratas de princípios de novecentos será aproveitada pelo Estado Novo a partir da identificação dos princípios do Regime com o modo de viver específico dos portugueses. A confusão dos planos ficará, aliás, famosa com a coroação, por parte de António Sardinha, como “mestre da contra-revolução”, precisamente por termos o pináculo do Republicanismo e da filosofia positiva a procurar, contra um “cesarismo romano”, aquilo que seria exclusivo dos antigos pagys portugueses.
A ideia de Portugal, ao longo do Estado Novo, também sofreu uma natural adaptação com o peso que o império ganhou nos destinos do regime e na imagem internacional de Portugal. O que é curioso notar é que esta ideia de Portugal, devido a uma posição em relação a África considerada obsoleta pelas potências internacionais, se adaptou de uma maneira mais adequada à contemporaneidade do que qualquer outra no plano internacional. É verdade que, até à queda do bloco de Leste, a ideia de autodeterminação dos povos, a ideia oitocentista de nação, era útil porquanto os conflitos balcânicos enfraqueciam o bloco soviético. No entanto, depois das guerras do Kosovo, dos conflitos africanos, dos problemas da faixa de Gaza ou do Curdistão, é a ideia da definição étnica de um país que é internacionalmente mal-vista. Com os seus resquícios de um colonialismo oitocentista, à maneira de Cecil Rhodes ou da Primeira República, o colonialismo de Norton de Matos ou de Brito Camacho, a verdade é que Portugal, através do Luso-tropicalismo e do reconhecimento legal da igualdade entre a metrópole e as províncias ultramarinas se viu obrigado a esboçar uma ideia de si próprio que está mais próxima daqueles que são hoje os grandes centros de decisão política – seja a União Europeia, a Commonwealth, ou as grandes federações como os Estados Unidos – do que qualquer outra pensada na altura. A ideia de identidade formada a partir de grandes blocos, que têm mais que ver com orientações estratégicas motivadas por uma História comum é, hoje, a grande aposta das soberanias, de tal forma que a definição clássica de um país como um povo, um Estado e um território obrigam a uma certa ginástica.
Não será fácil explicar em que é que consiste, hoje, a ideia de Portugal. O que é certo, porém, é que este estudo de Maria Filomena Mónica contribuiu muito para o estudo desta ideia ao longo do século XX.