Na vida prática, a relação entre meios e fins não é tão simples como nos dicionários. Sob a aparência de termos as coisas mais ou menos organizadas — fazemos isto para chegar àquilo e queremos aquilo para obter aqueloutro — é possível que o fundo do nosso coração corresponda a um emaranhado confuso e instável de afeições, propósitos, prioridades cuja ordem real nos é desconhecida.
Um exemplo disto aparece nos Discursos de Epicteto e diz respeito ao Estudante de Filosofia — que, pelos vistos, já no século I tinha tendência a ser uma paródia de si próprio. Inspirado pelo “divino” Sócrates, consciente da centralidade da ética no estoicismo, o Estudante entra na escola estóica com um intuito ambicioso. Reconheceu que a vida comum corresponde a uma forma de insanidade e quer tornar-se sábio. O estudo da filosofia é o meio escolhido para chegar à sabedoria; é, para usar a imagem de Epicteto, o caminho de regresso a casa. Mas o caminho é longo e há estalagens em que é preciso parar, para poder prosseguir da melhor maneira. A estalagem da Lógica, por exemplo, onde se aprende a ver bem.
O tempo vai passando. O destino continua longe e as estalagens, apesar de tudo, são agradáveis; o Estudante deixa-se ficar numa ou noutra um pouco para lá do razoável; ganha familiaridade com o lugar, afeiçoa-se às tarefas concretas e absorventes que ali o ocupam. Quando dá por si, a metamorfose está consumada: aquele que perseguia a verdade brinca agora aos silogismos. Foi raptado pelos meios, que se assumiram como fins. Foi seduzido pelas ferramentas, que esmagaram o primeiro amor. O Estudante de Filosofia, o discípulo de Sócrates, acaba então como uma caricatura patética do projecto original, um maníaco das disputas técnicas, em vez do homem excelente que sonhou um dia ser.
O ponto de Epicteto é este: na vida prática, os meios podem ir ganhando protagonismo até se independentizarem dos fins, numa subversão mais ou menos explícita dos nossos planos iniciais. Seja pelo cansaço que o adiamento do fim produz, seja pelo poder crescente do hábito ou o charme de alguns bens específicos, os meios dão por vezes o seu Grito do Ipiranga. E os alvos escapam-se-nos do controlo. O caso do dinheiro é talvez o mais flagrante. Qualquer adolescente já concluiu que, isolado daquilo que permite obter, é só papel, ou metal, ou sabe Deus o quê nos computadores de Incompreensíveis Entidades Financeiras; no entanto, homens e mulheres de todas as épocas procuram-no como se fosse o mítico “pharmakon népenthès”, pouco interessando se possuem já mais do que o suficiente para comprar o que querem. O dinheiro, como outros meios, é um bem que se agiganta depois de devorar os fins que lhe davam razão de ser.
Um autor que tem pensado sobre este estranho jogo de prioridades é Fabrice Hadjadj, de quem o Apostolado da Oração acaba de publicar Ressurreição – Manual de Instruções. Ora, quando descreve o nosso tempo como o tempo dos “meios sem fim”, Hadjadj parece ter em conta o que foi dito até agora — mas vai mais longe. Porque o pensador francês não chama apenas a atenção para uma possibilidade na vida de cada indivíduo, mas para a existência, hoje, de um ambiente cultural em que a primazia dos meios sobre os fins está completamente normalizada, de tal modo que as pessoas crescem a crer que “as coisas são mesmo assim”. É o tempo da institucionalização da vanidade. Não porque as pessoas sejam agora mais levianas do que antes; mas porque os bens intermédios se tornaram tão atractivos que parecem dispensar os fins que os requeriam. E toca a girar nas rodinhas frenéticas, cada vez mais abundantes e mais sofisticadas, como os roedores que, trancados na gaiola, se entretêm a correr para lado nenhum.
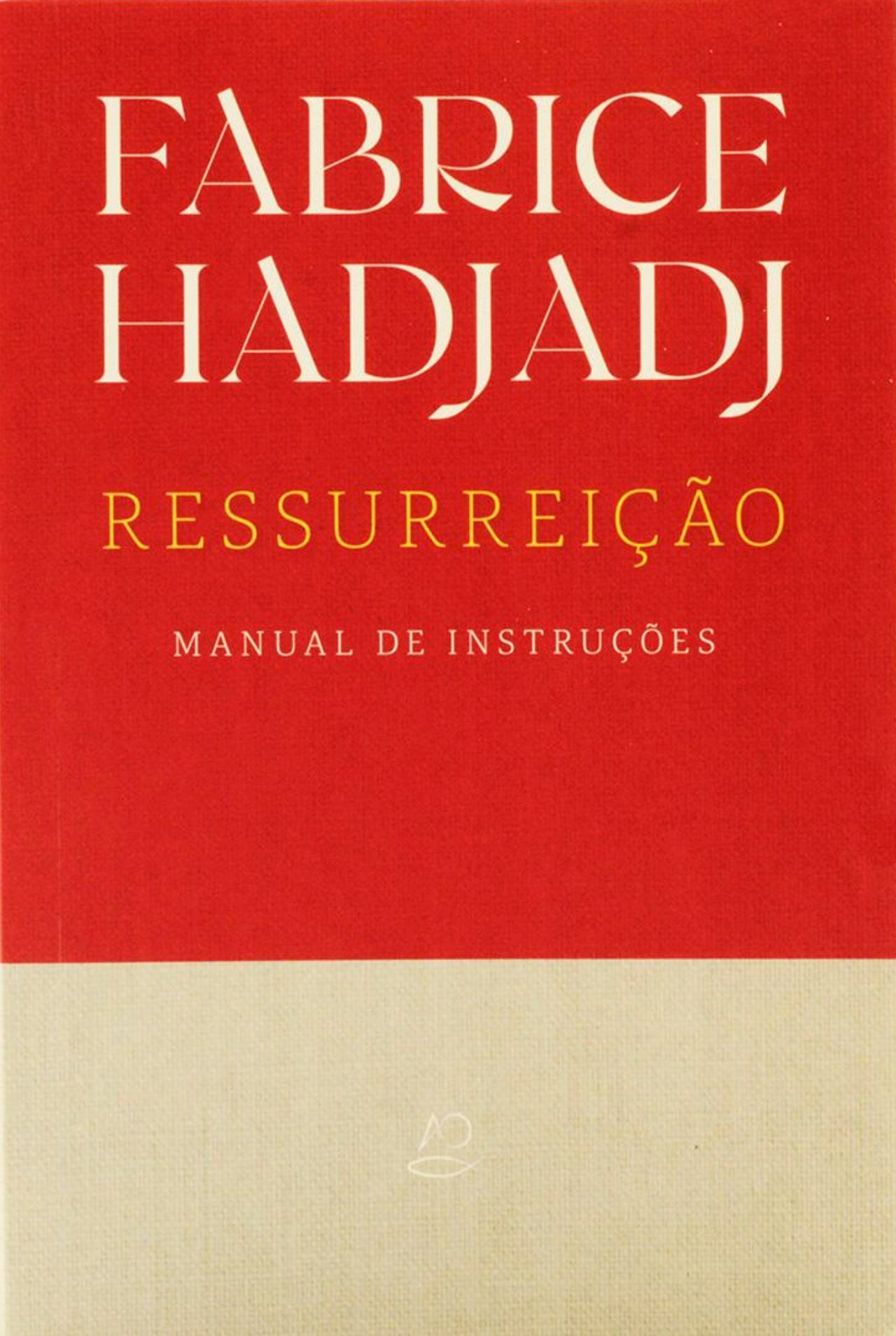
▲ A capa de "Ressurreição – Manual de Instruções", de Fabrice Hadjadj (Apostolado da Oração)
Focando o fenómeno da comunicação no século XXI, Hadjadj escreve que os “meios não param de ser aperfeiçoados e de aumentar o nosso ‘poder’ — servindo, na verdade, para nos distrair da perda de todo o sentido. A hagiografia de Steve Jobs e da maçã trincada vão nessa direcção tresloucada: já não se sabe o que importa comunicar, por isso só se comunica sobre a comunicação.” Basta um passeio na cidade para ver como os instrumentos de comunicação ultrapassaram, pela direita e a toda a velocidade, qualquer tipo de racionalidade comunicativa. Mas há manifestações particularmente emblemáticas. Pensemos nos directos televisivos que se prolongam nos ecrãs de nossas casas e levaram um comentador a falar com propriedade no “maior progresso de sempre na arte de encher chouriços”. Ou na proliferação nas redes sociais de um novo tipo de selfies, muito popular entre os jovens. Não já o simples auto-retrato fotográfico que se banalizou com o advento do smartphone, mas o auto-retrato ao espelho, no qual o próprio acto de empunhar a câmara e se fotografar é sublinhado, reforçando a ideia de que a vontade de comunicar foi reduzida ao seu elemento mais primário: a vontade de se comunicar a si mesmo, sem mais, só porque sim.
O indivíduo que tenta ganhar consciência de si enfrenta hoje, portanto, um adversário que outras épocas não conheceram nos mesmos termos. Já não é a luta entre visões concorrentes acerca da verdadeira finalidade da vida; é a luta entre a vontade de esclarecer o propósito de tudo isto e um mundo em que a própria pergunta “Para quê?” ficou soterrada pela espectacular encomenda de meios que lhe caiu em cima. Porque o coração do homem não deixou de reclamar um sentido para a trabalheira de existir, este estado de coisas leva à disseminação de um tipo peculiar de sofrimento: o sofrimento invisível do absurdo normalizado.
Assim, a expressão “meios sem fim” não é apenas uma expressão bem apanhada por parte de Fabrice Hadjadj, na tentativa de fixar o que há de particular no tempo que vivemos. É um conceito que ajuda a iluminar o mal-estar das almas contemporâneas: esse vazio de alta cilindrada, esse frenesi sem substância e sem destino, que os leitores conhecerão tão bem como eu. Bem-vindos ao novo paraíso burguês!















