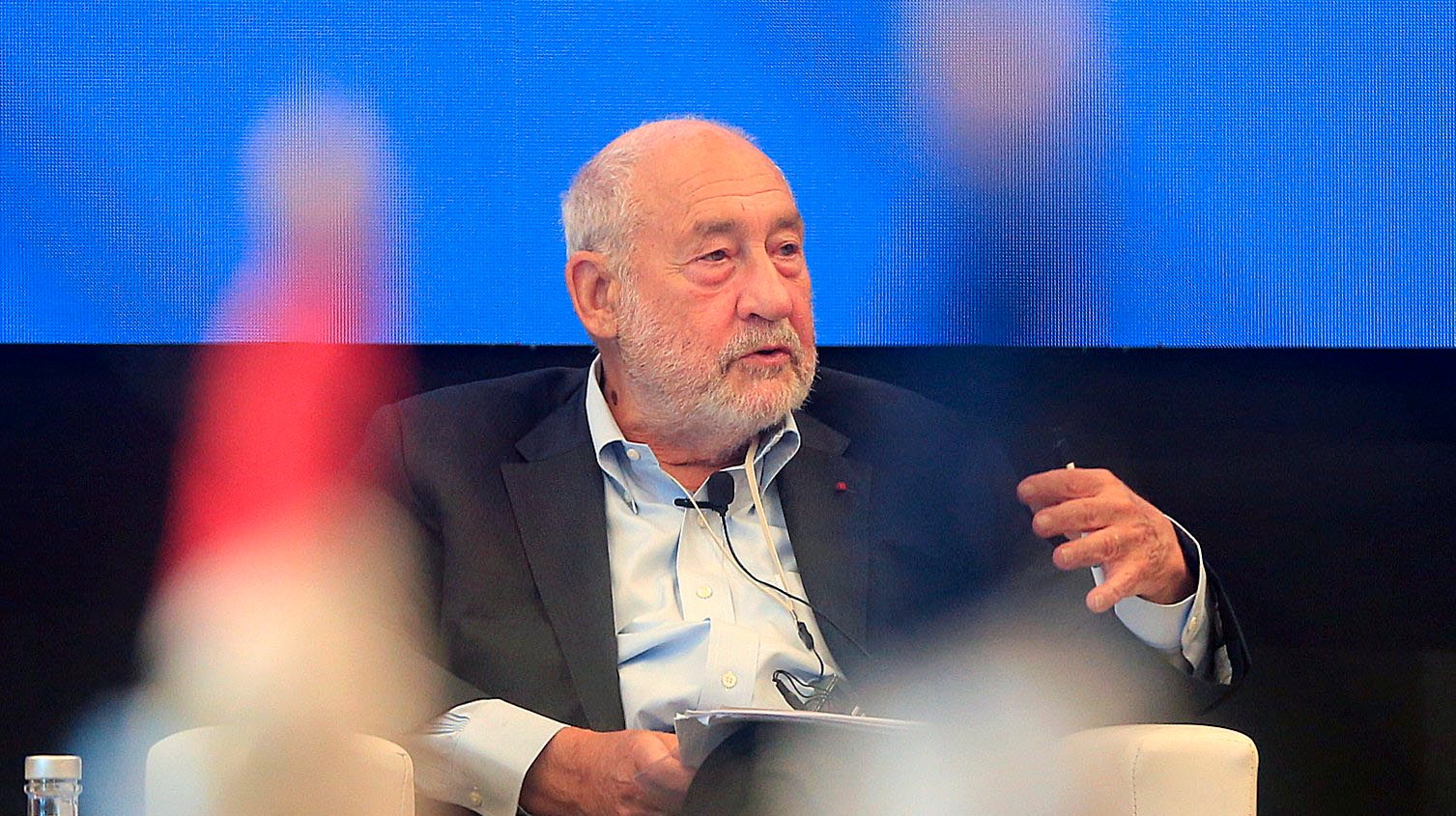No dia 18 de março de 2020, o mundo estava trancado em casa, receoso de um novo vírus do qual pouco se sabia. A pandemia dava os primeiros passos, num confinamento de larga escala inédito para as nossas gerações; um momento confuso, doloroso, até. Mas eis que chega a cavalaria para nos salvar: a atriz Gal Gadot, mais conhecida pelo seu papel como Mulher Maravilha, juntou um naipe de amigos famosos e fez uma versão de Imagine, o clássico de John Lennon. Cada celebridade com a sua frase, gravada no conforto da sua mansão, indo desde comediantes, como Jimmy Fallon e Will Ferrel, até atores como Mark Ruffalo ou músicos como Sia ou Norah Jones. A reação não foi a que Gadot esperava, de tal maneira que a israelita se veio a retratar anos mais tarde. A maioria da opinião pública achou os famosos a amansarem as dores no mundo com uma cantiguinha uma atitude condescendente, vinda de uma bolha de privilégio e, em última análise, inútil.
Em 2020, as canções que juntam estrelas mundiais estavam claramente fora de moda, mas é irónico perceber que a raiz para esta ideia da millenial Gal Gadot tem raízes exatamente no seu ano de nascimento: 1985. É nesse ano que surge o mega-êxito We Are The World, um tema solidário a várias vozes com o objetivo de angariar dinheiro para acabar com a fome em África — uma ideia, na verdade, adaptada do êxito do Natal de 1984 Do They Know It’s Christmas, uma iniciativa do cantor tornado ativista britânico Bob Geldof. We Are The World é agora tema de um documentário na Netflix, talvez hiperbolicamente intitulado The Greatest Night in Pop (A Grande Noite da Pop em português), que se estreia esta segunda-feira, 29 de janeiro.
A primeira frase que se ouve na quase hora e meia de The Greatest Night in Pop é mesmo “nothing will be the same after tonight” (“nada será o mesmo depois desta noite”). A noite é a de 28 de janeiro de 1985, o mesmo serão em que tinha decorrido a 12.ª gala dos American Music Awards, então um evento bastante relevante, que levou fatia considerável dos artistas de sucesso da altura até Los Angeles. Aproveitando a constelação que estaria nas imediações (e ainda outros que estariam a caminho, perfazendo umas impressionantes 47 figuras da música numa mesma sala), o objetivo era fazer História, gravando um tema a várias vozes cujos lucros iriam para a Etiópia. Se estavam ali pessoas que não saberiam sequer apontar África num mapa? Claro que sim, mas o receio de ficar de fora de algo em que toda a gente ia estar envolvida falou mais alto. O chamado FOMO (ou Fear Of Missing Out) não é uma invenção exclusiva da Geração Z.
[o trailer de “The Greatest Night in Pop”:]
A ideia original de Harry Belafonte (cantor e mentor da ideia de transpor para a realidade americana o êxito de Do They Know It’s Christmas), rapidamente abandonada, era de que apenas artistas negros gravassem We Are The World, ajudando assim “a sua gente”. Apesar de terem abraçado vozes caucasianas, o tema foi escrito por dois dos maiores artísticas negros dos anos 80 (e de sempre): Lionel Richie (então a afirmar-se a solo no pós-Comodores) e Michael Jackson. O documentário relata a luta contra o tempo para compor um tema que “não fosse salsicha” (palavras de Richie). Stevie Wonder esteve para fazer parte deste processo, mas terá demorado três semanas a atender o telefone. Quincy Jones ficou encarregue da produção e, na verdade, da gestão da autêntica creche que é uma sala cheia de estrelas mimadas.
Falado sempre na primeira pessoa através de entrevistas a intervenientes, duas coisas saltam à vista. Por um lado, que o facto de Michael Jackson já não estar vivo permite (por não o ter na primeira pessoa) afastar The Greatest Night in Pop das polémicas que vieram a pautar a vida do Rei da Pop, evitando assim caminhos desconfortáveis. E por outro, revela Lionel Richie como um entertainer de mão cheia, capaz de atuar para a câmara e ser o entrevistado exato que aquele momento pede. Piadas? Temos. Descrições ultra detalhadas e coloridas? Também. Lágrimas de comoção quando estão mesmo a calhar? Idem. Puxar dos galões? Ui, constantemente.
E se Richie e Jackson saem do documentário como heróis, há um vilão que The Greatest Night in Pop não se escusa a construir. Prince, eterno rival de Jackson, surge claramente como o mau da fita, o único que não quis alinhar, aquele cuja limousine esperaram até à última hora. A atitude é descrita como arrogante, mas no livro Let’s Go Crazy: Prince and the Making of Purple Rain, de Alan Light, a protégée Wendy Melvoin explicou o óbvio: que Prince achava a canção horrível. E talvez o mesmo tenha sentido Bob Dylan que, apesar de ter comparecido à gravação, tinha um ar tão perdido e desconfortável que ainda hoje dá azo a memes.
Uma das facetas mais interessantes do documentário é a de que se torna numa cápsula do tempo, uma radiografia de uma era que, de facto, é irrepetível. Se hoje a tecnologia permite que se possam juntar dezenas de artistas sem nunca ter sequer de os colocar na mesma sala, em 1985 era um autêntico pesadelo logístico, uma façanha deveras impressionante. Havia apenas uma madrugada para gravar o tema e imagens para o vídeo (afinal, estamos no reinado da MTV e o chamado teledisco é de suprema importância) e as cassetes com a demo do tema foram distribuídas apenas quatro dias antes. Para que tudo funcionasse, um cartaz escrito à mão numa folha A4 foi colocado à porta: “check your ego at the door” (“deixem os vossos egos à porta”). Mas a verdade é que permaneciam, mesmo que sussurrados. E sejamos justos: sem egos, sem uma sôfrega vontade de aparecer, We Are The World nunca teria surgido. O documentário conta um ou outro episódio mais desconfortável, mas está claramente mais focado em ser uma celebração daquela efeméride, sem questionamentos ou cinismos.
We Are The World veio a arrecadar o equivalente atual a 160 milhões de dólares, consagrando-se como o oitavo single físico mais vendido de todos os tempos. Os artistas lá salvaram os pobrezinhos, podendo respirar fundo na sua piscina com vista. E a música, é boa? Bom, Bruce Springsteen (e que bálsamo é sempre ver Springsteen a falar), dando assim a entender o pouco rasgo, descreve-a como uma “ferramenta”. E talvez seja mesmo isso que é. Uma canção que mudou a indústria, que mudou a vida de pessoas, numa altura em que este modelo não soava a soberba milionária. Já meter isto a tocar no Spotify porque era mesmo o que nos estava mesmo a apetecer ouvir? Muito mais improvável.