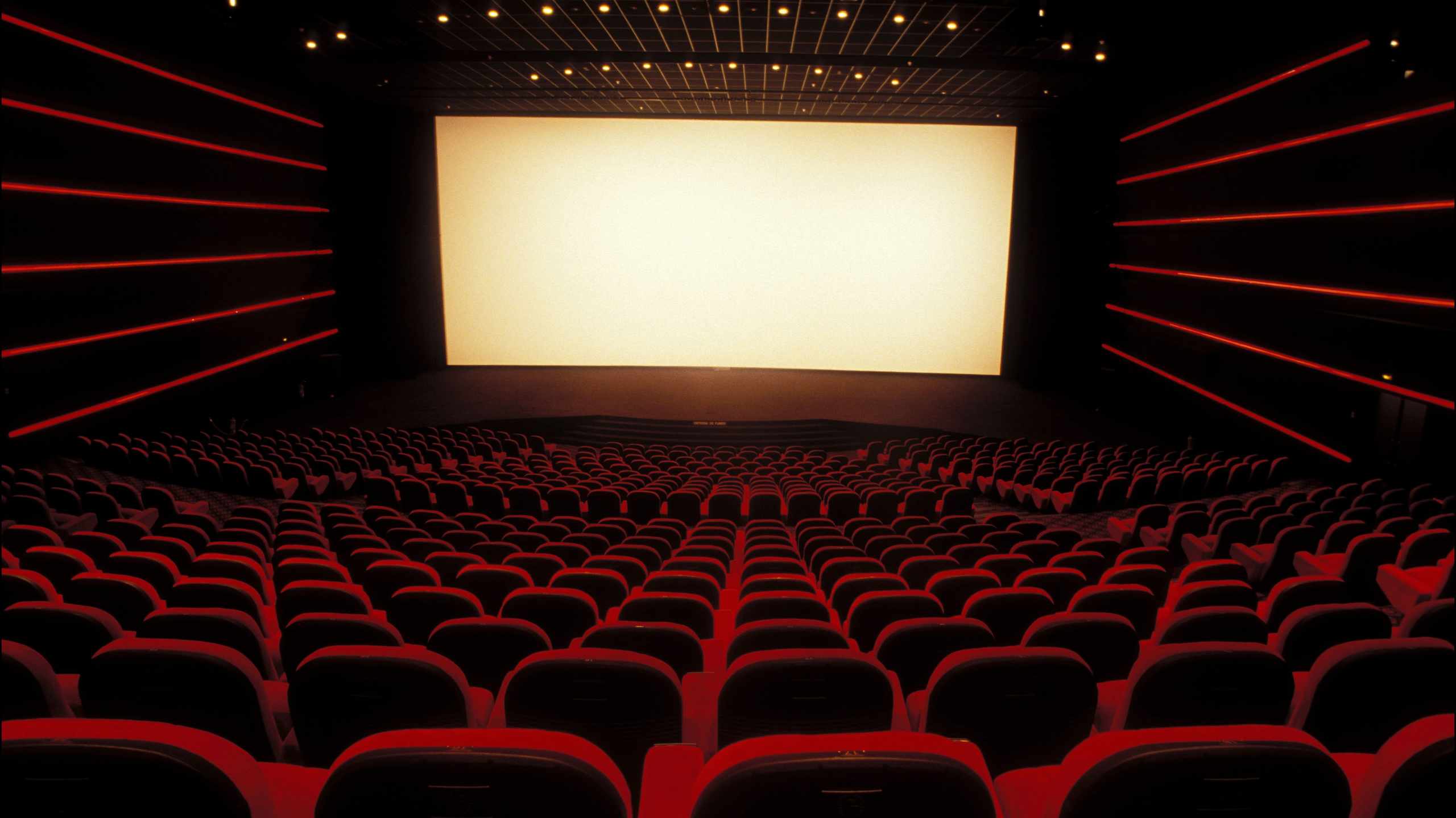Em 2009, o jogo Call Of Duty: Modern Warfare II arrancava com uma missão controversa que misturava a mensagem de guerra com uma belíssima operação de marketing. O jogador controlava um grupo terrorista russo, enquanto agente infiltrado da CIA, num aeroporto. Antes do início da missão, surgia um alerta para “conteúdo sensível”. Mais à frente, quase no final, Washington D.C. transformava-se um campo de batalha, sobrevoava-se a cidade de monumentos destruídos, entre assaltos, ruínas, referências a outras obras de ficção, numa espécie de visita turística apocalíptica.
Está no texto certo, isto é sobre Guerra Civil, o filme escrito e realizado por Alex Garland, britânico que imagina o cenário de um conflito doméstico num futuro próximo nos Estados Unidos. A questão é a forma como jogos da categoria de Modern Warfare II assaltam quem os conhece durante o visionamento do filme. Garland agarrou-se a ideias e sentimentos poderosos dos videojogos e colocou-os a favor do cinema. Resulta. E não é a primeira vez que o faz.
Durante anos dizia-se que um filme parecia um videojogo em jeito de comentário negativo. A ideia era justificada, quem o dizia não jogava videojogos ou, se jogava, limitava-se a uma memória da atividade, não lhe reconhecendo o carácter evolutivo e determinante na cultura popular. Os “jogos de tiros” eram só “jogos de tiros”, sem grande profundidade, e quando apareciam nas notícias eram más notícias, coisas “para quem não tem vida social”. Preconceitos ou estigmas à parte, isto fez com que se ignorasse uma forma de contar histórias, em que o elemento comando/teclado na mão implica que o jogador se sinta presente na história, que se envolva, que sinta o momento como pessoal, por mais abstrato que tudo isto pareça. Na essência, o segredo de um bom videojogo é o segredo de muito bom filme: como contar uma história.
[o trailer de “Guerra Civil”:]
Durante décadas, tanto o cinema como a televisão falharam em perceber este paralelismo que por vezes acaba em cruzamento. As adaptações de videojogos preocupavam-se em capturar a ideia de “é isto que as pessoas querem ver” e tudo se perdia na possibilidade do sucesso de bilheteira. Quando os filmes tentavam ser videojogos, também falhavam porque, evidentemente, uma coisa nunca pode ser a outra.
As coisas estão a mudar, por maturidade mas, sobretudo, porque uma série de cabeças criativas — que jogaram e continuam a jogar nas consolas e nos computadores — perceberam que os videojogos têm grandes histórias e universos que podem ser explorados no cinema e na televisão. Tudo passa pela forma como se contam. Exemplos recentes como The Last Of Us (HBO Max) ou Fallout (Prime Video) concretizam a maturidade dos videojogos, mostram que há uma geração que bebeu dessa linguagem, percebeu as histórias e, ao longo do percurso — de vida e de carreira — encontrou um momento em que poderia combinar isso tudo. Nenhum outro realizador o faz como Alex Garland fez agora em Guerra Civil.
Garland tem um passado nos videojogos. Escreveu, por exemplo, a pérola esquecida que é Enslaved: Odyssey to the West e uma das melhores histórias de Devil May Cry. Antes de realizar os seus próprios filmes, escreveu os argumentos de 28 Dias Depois, de Danny Boyle, (reveja o filme de 2002 com estas ideias de videojogos presentes) ou Dredd, uma nova versão de Judge Dredd que combinava na perfeição a tensão de The Raid com a dopamina de acabar níveis, missões e de encontrar desafios inesperados. Parecia um videojogo não jogado. E era um grande filme de ação.

▲ O brasileiro Wagner Moura numa das cenas de "Guerra Civil"
Nos que escreveu e realizou antes de Guerra Civil, Aniquilação (2018) parece um shoot’em’up transformado em filme com umas ideias roubadas a The Last Of Us; Men (2022) explora as margens da abstração de terror, bem como a imagética, de franchises como Silent Hill e faz a história vencer-se mais por sensações do que explicações: a forma como se abre à interpretação livre é muito devedora dos primórdios do género survival horror nos 1990s.
Guerra Civil mostra a Califórnia e o Texas revoltados contra os restantes Estados Unidos da América. O filme começa com o Presidente norte-americano (Nick Offerman) a preparar um discurso sobre a proximidade da vitória contra as forças rebeldes. Alex Garland faz um filme político a partir de uma posição muito apolítica. A informação que o espectador recebe irá afetá-lo conforme as suas crenças, mas o que ali importa é a proximidade transmitida. Porque Garland faz-nos sentir como se estivéssemos lá, entre uma personagem e um jogador.
Ajuda a perspetiva ser a de jornalistas. Lee (Kirsten Dunst), Joel (Wagner Moura), Sammy (Stephen McKinley Henderson) e Cassie (Cailee Spaeny) estão em Nova Iorque e dois deles, Lee e Joel, querem ir até Washington D.C. para entrevistar o Presidente. Sammy vai à boleia para chegar a outro sítio, Cassie é uma aspirante a fotojornalista, uma espécie de penetra que não quer perder a oportunidade. Entram numa road trip, a guerra civil é vista a partir dos olhos deles, das câmaras, da perspetiva de que, aconteça o que acontecer, não irão intervir. Muitas vezes até são escoltados por outros soldados para captar o momento.
Os quatro são então espectadores da guerra e nós somos espectadores deles. Não temos um comando na mão, mas a forma como avançam no terreno, como interagem, coloca em permanência esta sensação. Durante quase duas horas, Alex Garland promove a ilusão de participação filme, experiencia-se aquela guerra pela ideia de proximidade, através da pergunta permanente: como nos adaptaríamos se a verdade de repente fosse esta? Esta que parece tão próxima, onde os extremos crescem cada vez mais?


▲ Jesse Plemons e Nick Oferman representam diferentes lados do conflito que, no filme, opõe Califórnia e Texas aos restantes Estados Unidos
Por vezes, surgem possibilidades de resposta, quando é revelada uma cidade que parece alheia ao que está a acontecer; ou o duelo inesperado entre dois atiradores furtivos (forte candidata a melhor cena de Guerra Civil). Cenas que são balões de oxigénio para que exista algo a que o público se possa agarrar.
Guerra Civil é um filme pertinente, muito presente. Os quatro filmes que Alex Garland realizou são todos atuais e à medida que os foi fazendo, também se foram aproximando cada vez mais de nós. Ex-Machina e Aniquilação pareciam ficção científica para a realidade das próximas décadas, Men será sempre atual enquanto discussões sobre família, género e o “lugar da mulher” existir; e Guerra Civil vive-se com base no medo sobre o presente o futuro próximo.
Quando se começa a sobrevoar Washington D.C. em Guerra Civil, Modern Warfare II regressa em força. É a mesma ideia implantada no videojogo, de certa forma replicada em cinema. Não é cópia, nem inspiração, mas fruto da tal abertura narrativa que os videojogos mostraram que era possível fazer. Garland leva essas ideias para o cinema e a última meia-hora sente-se como um videojogo.
O tempo dirá se o que Garland aqui faz é positivo ou negativo para o cinema, mas, para já, sente-se como poderoso. E o resultado daquele final é a concretização de um grande filme de guerra, mas talvez mais sobre o que sentimos quando vimos as referências que conhecemos a serem destruídas. Porque as guerras do passado são histórias, Guerra Civil toca de uma forma bruta nas possíveis imagens do nosso futuro.