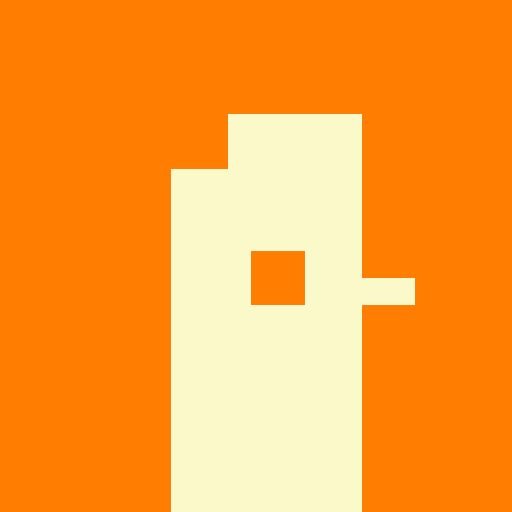Os videojogos, enquanto manifestação artístico-cultural, não têm de ter a sua qualidade vinculada a noções de violência. Mas há algumas considerações que são próprias das dores de crescimento de um meio ainda adolescente, em amadurecimento, como os videojogos: sofrem de preconceitos e de medos do público geral, fruto do desconhecimento ou do alimentar de algum sensacionalismo bacoco que desvirtua a área da sua essência cultural.
E com isto não venho advogar a não-violência, até porque quer seja no cinema, nos videojogos, ou em qualquer outra manifestação artística, os temas adultos ou a agressividade são perfeitamente aceitáveis (e desfrutáveis) pelos públicos-alvo a que se destinam. E nós que fruímos com prazer desses objetos violentos não nos definimos, enquanto consumidores de arte e cultura por essa dicotomia. O que quero falar é de algo distinto: como conceber um objeto que na sua génese tem um cariz violento, mas despindo-o desse aspeto sem sacrificar a qualidade?
A Nintendo e os jogos ditos familiares
Falar de não-violência e de aspetos mais virados familiares nos videojogos, é, apesar de algo redutor, falar da Nintendo. A companhia japonesa é em si mesma o maior sinónimo que existe para videojogos, e foi consigo que o mercado e os diversos sub-mercados cresceram, evoluíram, e estruturaram-se até ao ponto em que chegámos hoje: a de uma multi-proliferação de abordagens dos jogos, com públicos para todas as idades e todos os gostos.
Há uma zona de conforto que todos associamos à marca e que reside numa tentativa de criar jogos com uma grande abrangência etária, mascarando a pouca violência presente com uma série de adoçamentos estéticos e mecânicos que transformam (quase) todos os seus produtos em objetos “para a família”. Basta-nos pensar no sucesso que a série Super Smash Bros. teve – sendo até um dos jogos de luta mais desafiantes e divertidos do mercado – e com um rótulo PEGI (o selo Pan European Game Information, que define a faixa etária do produto) para maiores de 12 anos.
Mas a grande surpresa deste adoçar que a Nintendo imputa aos seus jogos surgiu com a revelação na E3 2014 do seu shooter chamado Splatoon, que tivemos a sorte de poder jogar dois meses depois na Gamescom, em Colónia.
Splatoon: os bravos da diversão?
Apesar de todos os gigantescos contributos que a Nintendo já ofereceu aos videojogos e ao mundo, raramente a companhia assume o risco de pisar géneros fora do habitual. E é nesse círculo perfeitamente circunscrito que reside parte do chamado “Selo de Qualidade” da marca: nas áreas em que se movem não só fazem bem, como fazem de forma brilhante, com uma qualidade que poucos concorrentes conseguiriam alcançar. Splatoon assume-se com um risco duplo para a empresa: por um lado a adentrar o mercado dos shooters, e em segundo, o mercado dos jogos multijogador online. Duas áreas totalmente quase inexploradas pela empresa nipónica.
A Nintendo não se poderia limitar a criar apenas mais um jogo “de tiros” de equipa contra equipa – era a sua obrigação histórica repensar um género que lhe era completamente desconhecido e dar-lhe uma outra roupagem, uma outra abordagem. Reinventá-lo. E Splatoon, lançado no final do mês passado para a Wii U é esse exemplo de genialidade criativa: em tudo o jogo é o habitual shooter na terceira pessoa que todos já jogámos, mas simultaneamente é algo completamente novo.
O objetivo, contrariamente ao habitual, não é eliminar a equipa adversária, nem capturar uma bandeira ou conquistar a base inimiga. O objetivo é simples, quase pueril, inocente e acima de tudo muito divertido: pintar o máximo de cenário possível. No final não vence a equipa que “aniquilou” o maior número de adversários, mas sim a que preencheu a maior percentagem de terreno com a tinta da sua cor. As armas são substituídas por pistolas, rolos e bisnagas de tinta, e “matarmos” o adversário é um mero contratempo para ele, que passará alguns segundos impossibilitado de pintar o cenário da sua cor. Os soldados são substituídos por simpáticas criaturas híbridas de humano e lula que conseguem nadar em tinta. As balas são no fundo, jatos de tinta. A batalha é na prática uma festa de paintball. E o objetivo não é a morte, mas a celebração da diversão e a apoteose da cor e da tinta enquanto elemento de definidor do vencedor e do vencido.
Splatoon, ao contrário do que aparenta, é mais um jogo da Nintendo (como a sua quase totalidade) que não é apenas para crianças. Facilmente diria que o nível de desafio e estratégia a que o jogo obriga nos poucos minutos em que dura cada ronda, suplanta em muito a “mera” exigência de muitos dos jogos do género, que se limitam ao número de mortes enquanto elemento de desempate. Splatoon é um shooter para a família, e é, como quase todos os jogos provenientes da casa do Mario, um jogo de festa. Colorido, dinâmico, inovador, divertido e desafiante devolve o riso a um género criado sob outros alicerces.
Apesar das vendas da Wii U, a consola doméstica da Nintendo desta geração, terem melhorado nos últimos meses, ficará a dúvida se a genialidade deste Splatoon será suficiente para impulsionar as vendas da consola, ou se as próprias vendas do jogo terão impacto no excelente catálogo da Wii U. Os jogos não precisam de ser violentos e com Splatoon, que está definido para maiores de 7 anos, é possível ter a resposta adequada a um filho ou uma filha pequeno/a que nos pedem efusivamente por um jogo “de tiros”. Para quê desrespeitar a classificação PEGI e dar-lhes um jogo para adultos que os farão encarnar o papel de um soldado americano no Afeganistão? Eles terão muito tempo para perceber que parte das suas vidas será a lutar batalhas que não são as suas. Agora resta-lhes apenas a diversão.
Ricardo Correia, Rubber Chicken