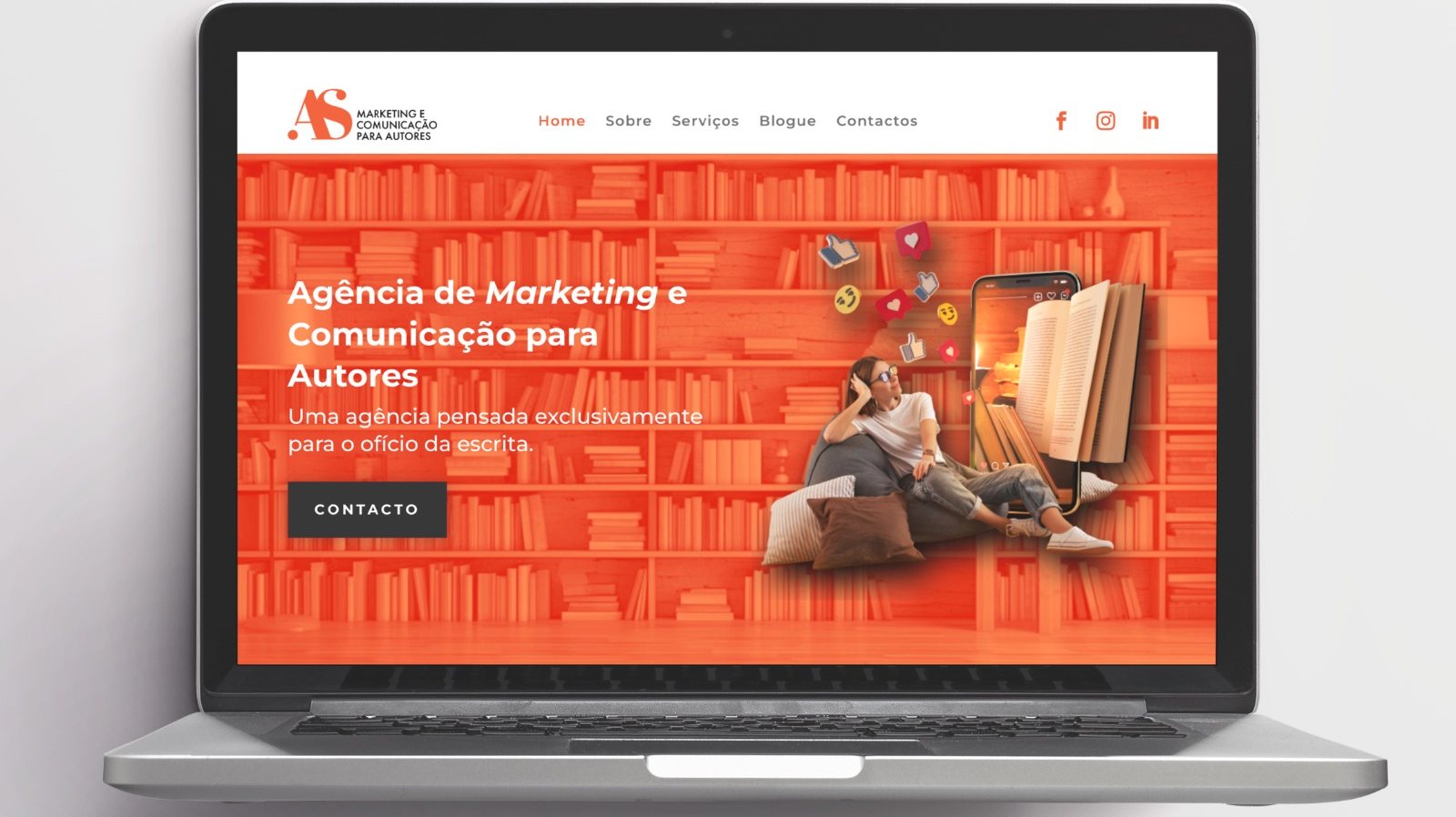Era Fátima para os amigos e Maria para escrever. Não eram a mesma pessoa. Havia nela qualquer coisa de monacal no corpo magro e no rosto pétreo esculpido dentro de uma grande solidão: a de saber que não há felicidade na terra e os senhores que a compram e a vendem julgam poder enganar-se a si mesmos. A obra que nos deixa é como um grande poema filosófico sobre habitar a terra, caminhar nos dias, pôr um pé à frente do outro, mas não saber que sapatos usar.
“…como se calça uma pessoa que vai escrever pelas ruas, que vai principalmente isso, uma pessoa fêmea? Com os sapatos da Agustina (…) ? Como os da Irene Lisboa (…)? Como a Virginia Woolf (…), como os da Gertrud Stein, duas fivelas de strass sem sola?” [Casas Pardas]
Como anotou no seu diário, em 1977, a escritora Maria Gabriela Llansol: “Hoje, a Teresa falou-me de Maria Velho da Costa. É uma possível béguine, uma dessas mulheres que se apagam, ou…“. De facto, Fátima foi mais uma monja do que um escritora panfletária de qualquer causa.
Morreu a escritora Maria Velho da Costa, uma das autoras das Novas Cartas Portuguesas
Há muitos anos reclusa e em processo de (auto)apagamento, Maria Velho da Costa não voltou a escrever desde Mayra, em 2008. Anunciou que seria o último e foi. Os amigos viam-na ir-se assim apagando devagarinho como quem avança pela paisagem fora, sem nunca olhar para trás. Talvez rezando a Camões ou a qualquer outro escritor do cânone ocidental com quem ela sempre dialogou, ou a qualquer cineasta ou pintor, ou músico. Certo é que depois da morte de Agustina, a literatura portuguesa só tinha uma fonte brotando água salubre de amor e pela palavra, os livros de Velho da Costa. Ela que, como escreveu Manuel Gusmão, “traduziu as vozes desse rio para as margens de um outro que corre mais perto de si ou de nós.”

Maria Velho da Costa no início dos anos 70
Querer, como está a ser feito de há uns anos a esta parte, resumir a obra de Velho da Costa às Novas Cartas Portuguesas, e membro de um trio onde se arrumam por igual três escritoras tão diferentes, é apostar no circo e nos palhaços, para não olhar a dureza do caminho, a exigência do ofício de escrever, é querer juntar no mesmo pacote literatura e entretenimento ideológico. É sempre a mesma lengalenga, “as três Marias, a vigília organizada por Marguerite Duras, as eternas vítimas da ditadura, o feminismo”. Só que a ditadura entretanto acabou, Maria continuou a escrever livros difíceis que poucos leram ou nem deram por isso e agora resta-nos glosar a “importância das Novas Cartas…” e está o assunto arrumado.
Mas o que fazer com esta Maria, tão discreta e tão atenta ao mundo? A quem Eduardo Lourenço chamou “herdeira de Álvaro de Campos”, pela fulgurância da linguagem, a decifração “dos dentros” em histórias contadas de forma intertextual, o tecer das metáforas, das latências, pintadas sobre um fundo desfocado de realismo social. O que fazer com as suas Maina Mendes, Rosa Fixa, Casas Pardas, Lucialima, com o que ela carrega do Húmus do Raul Brandão e da lírica camoniana, que conhecia como poucos?

Maria Velho da Costa e Agustina no Brasil com com a escritora brasileira Betty Milan. Foto:Didier Pruvot
Fátima esteve com Helder Macedo no governo de Maria de Lourdes Pintassilgo, 1979, e depois foi, com Gastão Cruz, leitora de Camões e de outros no King’s College, em Londres. Escreveu guiões para cinema, teatro, alguma poesia, sem nunca abandonar o experimentalismo, que foi um “ismo” que ela cultivou mas do que o feminismo, como explica Helder Macedo:
“Maina Mendes é um livro pioneiro de um feminismo que então ainda não havia (e talvez ainda não haja) porque, em vez de ter uma atitude de reenvindicação “feminina”, oblitera as fronteiras entre os sexos. Maina é “macho” como só uma mulher pode ser. A sua mudez é a raiva de uma identidade impossibilitada pelas circunstâncias que obliteram ambos os sexos. A MVC não é propriamente feminista. Situa-se além do feminismo, como também só uma mulher poderia. Os seus retratos mais cruéis (por exemplo em Casas Pardas) são de mulheres. Não tem grande condescendência pelas vítimas (femininas ou não). Os seus últimos livros são sobre o desespero da impossibilidade. É uma escritora de futuros.”
O culto da palavra como desordem
O que encontramos no universo de MVC é um diálogo infinito com a obra de outros escritores, com filmes, músicas, com referências à memória coletiva. Ela mesma “senhora de um tempo antigo”, como diria Bernardim Ribeiro, mas, ao mesmo tempo, totalmente entregue ao modernismo, à provocação e à escrita como um jogo de xadrez; as suas palavras são um movimento meticulosamente estudado para convocar as pulsões, a liberdade, o inquietante, o desconhecido, as revoltas com as quais se conta uma vida, quando se sabe que a realidade é sempre outra coisa. De facto, tratava as palavras mais como uma poeta do que como uma romancista: conhecia-lhes o devir, as possibilidades infinitas, as mutações, a sua relação inseparável que há entre uma língua e a forma de tecer o tempo e as circunstâncias.

Maria Velho da Costa numa das suas ultimas aparições públicas
E o tempo e as circunstancias mudaram tanto desde os anos 70 até ao fim do milénio e ainda mais depois dele. E se durante a ditadura a sua obra foi julgada e proibida por perturbar a ordem e o poder, na Democracia a sua obra foi julgada por não compactuar com a ordem e os poderes entretanto estabelecidos na cultura portuguesa. Aquele atrito, aquelas rugosidades e pregas, a terra, a ruralidade deixaram de ser coisa bem vista, e o seu barroquismo uma pedra no caminho de editoras e leitores.
No final dos anos 90, editoras e editores que açambarcaram o mercado com literatura egótica, existencialismo versão pobre para o novo cidadão urbano e consumidor, impuseram a MVC um outro e mais fatal julgamento: isto não obedece ao novo bom gosto, nem ao tipo de rebeldia que está na moda, isto não vende, logo isto não interessa. Só que desta vez não se fizeram nem vigílias, nem abaixo-assinados. Esqueceram-na. Houve prémios? Houve. Todos os prémios que se dão aos escritores quando eles passam de vivos a póstumos. Ou, pelo menos, dos quais se espera que fiquem auto-satisfeitos e já não chateiem muito. Os prémios são perversidades como bem sabia Herberto, que recusou os seus.
Há perto de duas décadas, pelo menos, que MVC tinha deixado de interessar aos media e aos leitores. Curiosamente, um novo analfabetismo foi antecipado logo no Congresso de Escritores da APE, em 1976:
Que escrever para o povo em afã triunfalista, imitando-lhe mal o falar e o sentir para que estanque a vocação de indagar do difícil e do trabalhado, gorando-lhe no embrião o acesso ao seu próprio e complexo património cultural, é ir em missão de colonizador ratificar-lhe o
analfabetismo imposto, sonegar-lhe os instrumentos da criação que ainda não pode, iludir pelo aplauso fácil dos explorados do sentido da vida cultural exigente, a própria impotência de renovar-se.
E isto devia fazer-nos pensar a todos os que trabalham e pensam sobre a cultura em Portugal: como se deixa uma escritora do nível de Maria Velho da Costa morrer sozinha?
Perguntamos a uma jovem poeta, Elizabete Marques, como é ver MVC pelos olhos de quem chega agora ao mundo da escrita:
A obra de Maria Velho da Costa chega-me como testemunho de uma escrita radicalmente desobediente. Desrespeitando fórmulas, géneros, categorias, a escrita de MVC surge como apelo à criação revolucionária, a um só tempo, alargando os limites daquilo a que chamamos literatura e da nossa perceção do mundo. Há um fragmento de Rosa Fixa que resume este entendimento de escrita: “o alimento a legar será simples como uma palavra de desordem”.
Afastada das temáticas da moda, morta, será, como Agustina Bessa-Luís; leitura para uns happy few. Os que ainda aceitam ser surpreendidos, dos que gostam de palavras que se demoram na boca, da polifonia e da dissonância, das palavras como câmaras de ecos de mil vozes, do texto como exercício de decifração e terramoto. A grande questão que agora fica é “quem lhe chegará aos calcanhares se nem ela própria sentia ter chegado?”
Quantas vezes se me apertou a alma de mesquinha, mosquinha, ao ler Agustina na adolescência. Porque os de casa fazem mais milagres. E mais mossa. Mas outro dia apertou-se-me a alma a ler-me a mim, Nunca mais me chego aos calcanhares. Como se fôssemos nós que nos escrevêssemos. Não somos, não. Só uns aos outros e às vezes passamos todos por um sítio grande que é um de nós” [MVC, O Mapa Cor de Rosa]